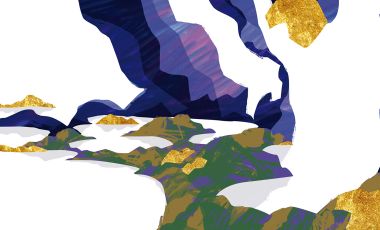Wallace Stevens nasceu em 2 de outubro de 1879, em Reading, Pensilvânia, e morreu em 2 de agosto de 1955, em Hartford, Connecticut. Estudou em Harvard e, após breve passagem pelo jornalismo, formou-se em Direito em Nova York. Entre 1915 e 1916, frequentou o célebre salão do casal Walter e Louise Arensberg, ponto de encontro da vanguarda modernista nova-iorquina, onde conviveu com artistas e escritores como Marcel Duchamp, Mina Loy, Francis Picabia, William Carlos Williams e o compositor Edgard Varèse, entre outros. Em 1916, ingressou na Hartford Accident and Indemnity Company, então uma das maiores seguradoras do país. Ali ascendeu à vice-presidência e tornou-se a principal autoridade norte-americana em surety bonds (seguros de garantia), especializando-se na análise de sinistros.
Stevens já era um poeta maduro quando lançou seu primeiro livro, Harmonium. Publicado em 1923, aos 44 anos, o livro tornou-se um marco da poesia modernista. Entre suas obras seguintes, destacam-se Ideias de Ordem (1935), O homem com o violão azul (1937) e As auroras boreais de outono (1950), sem falar dos poemas da última fase, reunidos na seção “A Rocha”, de Poemas Coligidos (1954), que recebeu o Prêmio Pulitzer.
Um músico das palavras, rigoroso, de imaginação exuberante e rara densidade filosófica, Stevens investigou como poucos a interrelação entre realidade e imaginação e aquilo que ele chamou de “ficção suprema”, a capacidade da poesia de reinventar o mundo através da imaginação, quando a realidade não basta. É também um exemplo singular de poeta cuja obra manteve nível altíssimo do início ao fim.
Discreto, “ermitão da poesia” (como se autodefiniu num aforisma), evitava polêmicas, autopromoção e era avesso ao meio literário. Foi por muito tempo um “poeta de poetas”. Sua primeira antologia na Inglaterra só foi publicada em 1953. Stevens teve imensa influência na poesia moderna e pós-moderna, em poetas muitas vezes de tradições antagônicas: de Delmore Schwartz a John Ashbery, de Derek Walcott a Octavio Paz, de Hart Crane a Susan Howe, de Sylvia Plath a Louise Glück. Sua obra também influenciou pintores e músicos.
Estas traduções integram o livro Ficção suprema (Editora Iluminuras, 2026).
A Ideia de Ordem em Key West
Ela cantava além do gênio do mar.
A água nunca formava mente ou voz,
Como um corpo todo corpo, agitando
As mangas vazias; mas essa mímica
Criava um clamor contínuo, contínuo clamor,
Estranho a nós, embora o entendêssemos,
Inumano, do verdadeiro oceano.
O mar não era máscara. Nem ela.
Canção e água não eram som mesclado
Mesmo que cantasse só o que ouvia,
Já que sua canção expressava cada palavra.
Quem sabe se agitassem em suas frases
A água rangente, o vento arfante;
Mas era ela e não o mar o que a gente ouvia.
Pois a canção quem criava era ela.
O mar, capuz eterno e gestos trágicos,
Era uma passarela pro seu canto.
De quem é esse espírito?, dissemos,
Sabendo que era esse que buscávamos,
A quem perguntar enquanto ela cantava.
Se fosse só a escura voz do mar
Se eriçando, de ondas multicores,
Se fosse só a voz do céu distante,
Das nuvens, de muros de corais submersos,
Embora claro, só seria ar profundo,
Fala arfante de ar, voz do verão,
Repetido num verão infinito
E som e só. Mas era mais que isso,
Até mais que a voz dela, e as nossas, entre
Mergulhos sem sentido de água e vento,
Distâncias teatrais, sombras brônzeas aos montes
No horizonte, atmosferas montanhosas
De céu e mar.
Era a voz dela que aguçava
O céu em sua desaparição.
A cada hora ela marcava a solidão.
Era a única artífice do mundo
Onde cantava. E ao cantar, o mar,
Fosse o que fosse antes, virava o ser
Do canto dela, a criadora. E nós, ao vê-la
Caminhar ali, sozinha, descobríamos
Que para ela nunca houvera outro mundo
A não ser aquele que, ao cantar, ela criava.
Ramon Fernandez, diga, se souber,
Por que, quando a canção acabou e voltamos
À cidade, por que as luzes hialinas,
Luzes das traineiras ancoradas ali,
Ao cair da noite, oscilando no ar,
Regiam a noite e partilhavam o mar,
Fixando zonas brasonadas, mastros e polos de fogo,
Compondo, aprofundando, encantando a noite.
Ah! bendita fúria por ordem, pálido Ramon,
Fúria de compor as palavras do mar,
De portais perfumados e estrelas tênues
E de nós mesmos, de nossa origem,
Em demarcações espectrais, sons mais penetrantes.
Ao Sair do Quarto
Você fala. Você diz: O personagem de hoje não é
Um esqueleto saído do armário. Nem eu.
Aquele poema sobre o abacaxi, aquele
Sobre a mente nunca satisfeita,
Aquele sobre o herói plausível, aquele
Sobre o verão, não são pensamentos de esqueleto.
Será que vivi uma vida de esqueleto,
Descrente da realidade,
Conterrâneo de todos os ossos do mundo?
Agora, aqui, a neve que eu esquecera vira
Parte de uma realidade maior, parte de
Uma apreciação de uma realidade,
Por isso um elevar-se, como se ao sair levasse
Algo que pudesse tocar, tocar de todos os jeitos.
Porém nada mudou a não ser o que é
Irreal, como se nada tivesse mudado afinal.
Chá no Palaz de Hoon
Não só porque de púrpura eu descia
Pelo que chamaste, no ocidente do dia,
De o ar mais solitário, eu era menos eu.
Que unguento em minha barba era aspergido?
E esses hinos zumbindo em meus ouvidos?
E essa maré que refluía em mim?
Minha mente chovia unguento esplêndido,
Meus ouvidos criavam os hinos ouvidos.
Eu era eu mesmo a vastidão daquele mar.
Eu era o mundo onde andei e o que vi
Ou ouvi, senti, vinha só de mim;
E ali me achei mais verdadeiro e mais estranho.
Infanta Marina
Sua varanda era a areia
E as palmeiras e o crepúsculo.
Fez dos meneios de seu pulso
Os gestos grandiosos
De sua mente.
O drapear das plumas
Dessa criatura do poente
Virou um desvelar de velas
Sobre o mar.
E assim ela vagava
Nas vagâncias de seu leque,
Partilhando do mar,
E do poente,
Enquanto fluíam ao redor,
E proferiam seu som evanescente.
Sob o Domínio do Negro
De noite, junto ao fogo,
As cores dos arbustos
E das folhas caídas,
Repetindo a si mesmas,
Viravam pela sala,
Como as mesmas folhas
Virando no vento.
Sim: mas a cor dos pesados pinhais
Veio a passos largos.
Então lembrei do grito dos pavões.
As cores de suas caudas
Eram como as folhas mesmas,
Virando no vento,
No vento do crepúsculo.
Varriam a sala,
Ao voarem dos galhos dos pinhais
Até o chão.
Ouvi seus gritos — os pavões.
Era um grito contra o crepúsculo
Ou contra as mesmas folhas
Virando no vento,
Virando como as chamas
Viravam no fogo,
Virando como as caudas dos pavões
Viravam no fogo ruidoso
Ruidoso como os pinhais
Cheios de gritos de pavões?
Ou era um grito contra os pinhais?
Pela janela,
Vi como os planetas se apinhavam
Como as mesmas folhas
Virando no vento.
Vi como a noite chegava,
A passos largos como a cor dos pesados pinhais.
E tive medo.
E me lembrei do grito dos pavões.
O Planeta na Mesa
Ariel ficou feliz por ter escrito seus poemas.
Eram de um tempo na lembrança
Ou de algo que ele via e adorava.
Outras criações do sol
Eram escória e caos
E ramo rijo retorcido.
Seu ser e o sol eram um só
E seus poemas, embora crias de si,
Também eram crias do sol.
Não importava que sobrevivessem.
O essencial era que pudessem reter
Alguma feição ou caráter,
Uma afluência, percebida, ou quase,
Na pobreza de suas palavras,
Do planeta do qual faziam parte.