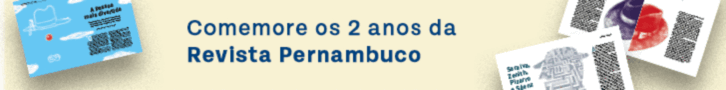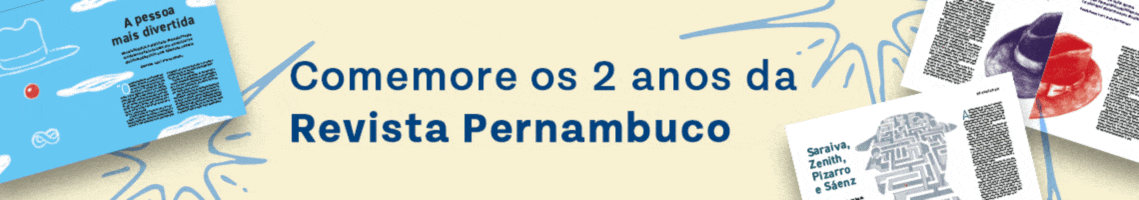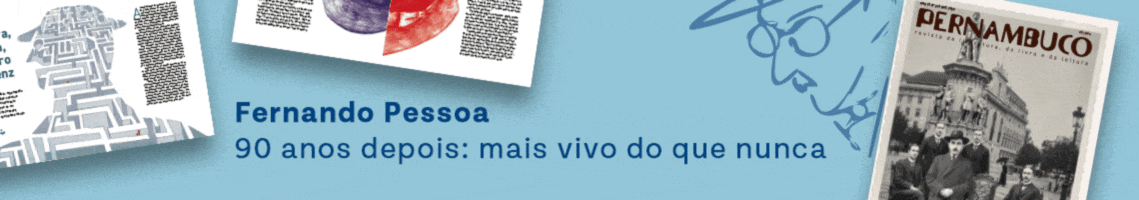Uma obra de arte existe porque foi criada por um indivíduo, também conhecido como artista ou autor. Essa afirmação parece lógica. Mas se pensarmos que, da Antiguidade até a Idade Média, obras artísticas, literárias ou musicais não careciam, necessariamente, de autoria identificada, a certeza logo muda de lado.
Se houve um tempo em que a relação entre autor e obra sequer existia – as narrativas eram construções coletivas sem ponto final e em constante mudança ou individuais, porém de autores desconhecidos –, há muito que ela é foco de estudo de filósofos, sociólogos, de livros, teses e ensaios, e levanta uma pergunta ainda sem resposta: é possível separar autor e obra? A questão é tão complexa quanto uma obra de arte deve ser. Afinal, como disse Roland Barthes, “um texto não é feito de uma linha de palavras a produzir um sentido único”.
A história nos conta que a relação entre obra e autor só começou a existir, realmente, na era moderna, quando se individualizou a pessoa do artista, que passou a ter nome próprio, rosto e assinatura. Alguns teóricos datam esse momento a partir do século XV. Não que se desejasse reconhecer, cobrir de glórias e méritos o autor. Ao contrário, responsabilizar penalmente aquele sujeito subversivo que andou a espalhar ideias contrárias ao que ditavam o Estado e a Igreja; isto é, o poder, através de panfletos. Mais para frente, no século XVIII, esse mesmo poder começa a se apossar economicamente da obra, já que ela podia, com o advento da imprensa, ser reproduzida em larga escala. Criava-se um mercado no qual aparecem a figura do editor, do impressor, do livreiro, o direito autoral…
No ensaio O que é um autor? (1969), Michel Foucault afirmou que a função do autor é definida pelo conjunto das obras que lhe são atribuídas e que, por consequência, lhe pertencem e lhe são imputáveis. “Os textos, os livros, os discursos começaram efetivamente a ter autores na medida em que o autor se tornou passível de ser punido, isto é, na medida em que os discursos se tornaram transgressores”, escreveu Foucault.
Uma obra é tão profunda que ultrapassa o tempo cronológico em que foi produzida e, portanto, o próprio autor, seu contexto histórico e social e mesmo o inconsciente, a imaginação, a ficção, que também integram um trabalho artístico. “Às vezes, quase sempre, um livro é maior que a gente”, resumiu João Guimarães Rosa. O autor mineiro acreditava que obra e biografia são inseparáveis, mas não estão no mesmo nível. O sertão de sua terra natal, Cordisburgo, também está na obra deste que se considera um “homem do sertão”. Sua obra, porém, ultrapassa a fronteira do Guimarães Rosa indivíduo e se liga a universos outros que vão além de fronteiras geográficas, cronológicas, reais.
Na modernidade, o autor ganha prestígio e é ele também uma mercadoria a ser explorada através de sua biografia, de sua persona. Sem o autor, a obra não nasce. Após nascida, porém, ela se desenvolve além, fora do escritor, como defendeu Maurice Blanchot, no ensaio A literatura e o direito à morte. Morrem o autor da obra e o escritor para que a linguagem permaneça viva e por ela transitem o escritor e o leitor.
Com as artes plásticas acontece a mesma coisa. Quando cria um autorretrato, um artista está fazendo a interpretação ficcional de si mesmo. Não uma fotografia 3 x 4. Basta lembrar do autorretrato do surrealista René Magritte, The son of Man (1964), em que um homem de chapéu-coco aparece com uma maçã verde no lugar do rosto. Não seria possível que Magritte utilizasse sua pintura em um documento oficial.
Mas aí é que está a característica da arte. Ela não é utilitária. “A arte é inútil”, disse o escritor irlandês Oscar Wilde no prefácio de sua obra mais famosa, O retrato de Dorian Gray. Wilde defendia que a arte extrapola o conceito de moralidade. O seu romance não é autobiográfico, mas há nele óbvias pitadas da biografia do autor, para quem a arte imita a vida e vice-versa.
Jean Paul-Sartre, pensava diferente, como afirma no livro O que é literatura (1975). Para o existencialista francês, não poderia existir um escritor desvinculado da realidade que o cerca, um escritor tinha que ser um engagé.
No ensaio A morte do autor, Roland Barthes defende que o autor não é a última fonte de significado de uma obra. “A explicação da obra é sempre buscada do lado de quem a produziu, como se, através da alegoria mais ou menos transparente da ficção, fosse sempre afinal a voz de uma só e mesma pessoa, o autor, a revelar a sua ‘confidência’”, declarou Barthes, nesse que é considerado um de seus mais importantes trabalhos. “Uma vez afastado o Autor, a pretensão de ‘decifrar’ um texto se torna totalmente inútil. Não é de admirar, portanto, que, historicamente, o reinado do Autor tenha sido também o do Crítico, nem tampouco que a crítica (mesmo a nova) esteja hoje abalada ao mesmo tempo que o Autor”, escreveu Barthes. No livro A cinza do purgatório (1941), o jornalista e ensaísta austríaco naturalizado brasileiro Otto Maria Carpeaux afirma que a obra de arte nasce quando o autor transforma emoção em símbolo. “Se não, ele só consegue uma alegoria”.
Sendo um texto feito de múltiplas escritas, oriundas de várias culturas e que entram umas com as outras em diálogo, em paródia, em contestação, como afirma Barthes, há um lugar onde essa multiplicidade se reúne: o leitor. Nem obra, nem autor existem se não houver público. Como disse o sociólogo e crítico literário brasileiro Antonio Candido, “o público é fator de ligação entre o autor e a sua própria obra”. Sem o público, a obra perde o sentido e a realidade. Candido coincide com Sartre, para quem uma obra só existe quando é lida. A obra é construída de maneira diferente a cada vez que público ou crítica se debruça sobre ela. Há sempre um caráter individual de absorção da obra. Afinal, é para isso que uma obra de arte existe, não? Para ajudar o ser humano a lidar com a realidade, transcender o niilismo e a desesperança na vida. Assim falou o filósofo alemão Friedrich Nietzsche.
Para questionar essa relação entre autor e obra, o poeta português Fernando Pessoa criou para si os heterônimos, nomes de autor com biografia ficcional. “Diferente do pseudônimo, que dissimula a verdadeira identidade da pessoa, o nome de autor geralmente funciona como um nome de uso, distinguindo autor e indivíduo e marcando sua emancipação em relação a uma trajetória e a uma identidade, dito de outra forma, uma indeterminação social”, comenta a socióloga francesa Gisèle Sapiro, autora do livro É possível dissociar a obra do autor?, publicado em 2022.
Em outro momento, Sapiro cita o filósofo e escritor francês Denis Diderot para comentar a necessidade que um autor pode ter de ser associado à obra. "Qual é o bem que pode pertencer a um homem senão uma obra da mente, fruto de sua educação, de seus estudos, de suas vigílias, de seu tempo, de suas pesquisas, de suas observações, se as mais belas horas, os mais belos momentos de sua vida, se seus próprios pensamentos, os sentimentos de seu coração, a porção mais preciosa dele mesmo, aquela que nunca perece, aquela que o imortaliza, não pertence a ele?”.
A escritora francesa Chloé Delaume, conhecida por sua literatura experimental, se reinventa como personagem de ficção. “Decidi me tornar personagem de ficção quando entendi que já era uma. Com essa diferença, quase que eu não me escrevia. Outros se ocupavam disso. Personagem secundária de uma ficção familiar e figurante passiva da ficção coletiva. Eu escolhi a escrita para me reapropriar do meu corpo, de meus feitos e gestos, de minha identidade”.
Acusações de estupro e abuso sexual ocorridas nos anos 1970 e atribuídas ao cineasta franco-polonês Roman Polanski não impediram o público de continuar assistindo a obras-primas da telona como Chinatown, O pianista e O bebê de Rosemary. O problema não estaria em Polanski ou em outros artistas acusados de abuso sexual, mas nesse mesmo público. É o que defende a escritora norte-americana Claire Dederer, autora do livro Monstros – o dilema do fã (editora Record, 2025).
A autora, que escreve regularmente para o jornal norte-americano The New York Times, faz um relato autobiográfico de seu próprio dilema, contando como lida com casos de famosos como Polanski e revelando opiniões de amigos próximos. “Uma amiga que foi estuprada por uma gangue no ensino médio diz que todo e qualquer trabalho de artistas que exploraram e abusaram de mulheres deve ser destruído. Um amigo gay cuja adolescência foi redimida pela arte diz que a arte e o artista devem ser totalmente separados”, escreve, afirmando em outro ponto do livro que o Polanski criminoso se converte, para ela, em estudante de arte polonês de talento sobrenatural, um prodígio, sobrevivente do Holocausto. “Quando vimos A faca na água, desejamos dar nossos parcos dólares para aquele jovem Polanski sem culpa. Nós nos perguntamos: como podemos contornar esse terrível velho criminoso? Não podemos. Não podemos nem ignorar nosso conhecimento do que ele fez. Não podemos ignorar a mácula. Ela colore a vida e a obra.”
“A notícia de feitos hediondos gera, de tempos em tempos, a discussão sobre se devemos ou não ler a obra de seus perpetradores. Quando eu soube que Alice Munro seguiu casada com o homem que ela tinha conhecimento de ter repetidamente abusado de sua filha, minha curiosidade por sua escrita aumentou. Eu queria me debruçar, olhar com lupa, entender como ela transformou aquela atrocidade em ficção. É o nosso lado mais monstruoso que faz literatura”, afirma a escritora e psiquiatra Natalia Timerman, em um dos textos da coletânea Eu escreve: dilemas das escritas de si, lançado em agosto de 2025.
O livro volta a falar em tendências autobiográficas presentes em obras como as de Oscar Wilde. Só que agora, na era das redes sociais, blogs e plataformas digitais, elas atendem pelo nome de autoficção, termo cunhado pelo escritor francês Serge Doubrovsky e que, segundo Anna Faedrich, emerge como proposta literária que tensiona os limites entre autobiografia e ficção, desafiando a oposição clássica entre “real” e “inventado”, respondendo a uma “necessidade contemporânea de repensar a autoria e os limites das narrativas do eu”.
Diante das fake news, o público se vê carente de memórias, diários, biografias, de alguma possível “verdade”. Após morrer pelas mãos de filósofos do século XX, na contemporaneidade o autor renasce como um ficcionista de si. Só que ele interpreta papéis diferentes nas plataformas digitais e nos livros. O vivido que se conta imediatamente após ser vivido, nas redes sociais e newsletters de escritores, é diferente do vivido que se conta após longa reflexão sobre o que se viveu, em palavras nos livros.
A questão inicial deste texto continua sem resposta definitiva porque há cada vez mais envolvidos nessa equação autor x obra. E a cada momento a definição de um ou de outro também se altera, dando margem a mais perguntas em busca de respostas.