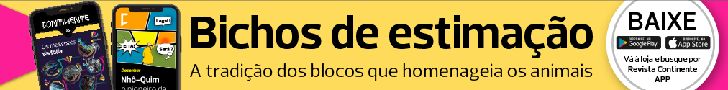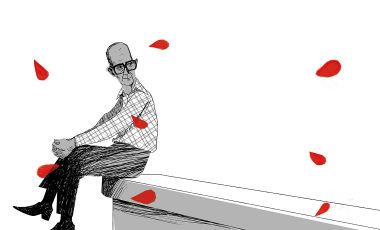“Não sei muito bem como contar esta história”, diz a narradora de Caderno de ossos (Companhia das Letras, 2025), nas primeiras páginas do livro. Mais do que a aparente incerteza, a perplexidade é o sentimento que dá o tom no bom romance de estreia da escritora paulistana Julia Codo. A protagonista sem nome é uma mulher nascida no Brasil da década de 1980, de 30 e poucos anos, de uma geração que não viu “as duas grandes guerras, o Holocausto, nem a Guerra Fria”. Também não viu, em seu país, “os tanques circulando na rua, os generais de óculos escuros”. Uma geração que cresceu em um mundo em que parecia que as coisas estavam dando certo, onde não havia grandes conflitos, que viu a internet surgir, viu o Cristo Redentor decolar na capa da The Economist anunciando a realização da eterna promessa do Brasil como país do futuro. Uma geração que pôde se dar ao luxo de se entediar, por um breve período, com a História, acabou se distraindo, e não percebeu que, na verdade, caminhava sobre os escombros do “que sobrou do século”.
A história que a narradora tenta contar, aparentemente, não é dela, é de Eva, sua tia, irmã da mãe, filha de Nani, o avô querido que se encontra em estado avançado de demência e não a reconhece mais. Eva é uma das muitas desaparecidas políticas da ditadura civil-militar brasileira. Quase nada se sabe sobre as condições de seu desaparecimento, sua atuação como militante, sua vida adulta interrompida precocemente, onde foi parar seu corpo. Restaram apenas alguns vestígios, como o braço de uma boneca velha, uma prótese ocular e três cadernos, aos quais a narradora se agarra na tentativa quase obsessiva de entender quem foi a tia e de encontrar seus restos mortais.
Há anos, paira sobre a família a expectativa de que os ossos de Eva possam estar junto às outras 1049 ossadas descobertas na vala clandestina do Cemitério Dom Bosco, em Perus. Como é comum na literatura sobre a ditadura, há neste episódio uma ligação direta com a realidade. Fundado em 1971, pelo então prefeito Paulo Maluf, o Cemitério Dom Bosco, desde a inauguração, acabou se transformando em uma necrópole exclusiva para o sepultamento de indigentes. Por estar nas extremidades da Zona Norte, longe até dos moradores do bairro, como narra o livro, o cemitério acabou sendo utilizado pelas forças militares e policiais como uma vala comum para esconder os corpos dos presos políticos, mortos sob tortura nas dependências dos órgãos de repressão, como o DOI-CODI. Na década de 1990, ouvindo suspeitas de que havia ali um cemitério clandestino, o governo da prefeita Luiza Erundina escavou o local e descobriu os restos mortais que mais tarde seriam identificados como alguns dos desaparecidos políticos do período ditatorial.
A identificação, no entanto, não é fácil. Depende do trabalho de profissionais e instituições de pesquisa cada vez mais sucateadas; da má-vontade política de governos cada vez mais reacionários; do envio de amostras a laboratórios estrangeiros; da existência de vestígios de DNA em ossos há muito tempo esquecidos. Um trabalho que se arrasta há anos, mas que continua encontrando respostas graças ao esforço coletivo de pesquisadores e da sociedade civil.
A vala de Perus, como é popularmente conhecida, é um elemento central na trama do livro. Além da referência direta aos crimes da ditadura, aparece como uma metáfora poderosa da situação política do Brasil. A imagem do buraco é recorrente no romance. Há o buraco clandestino do Dom Bosco, um buraco na garagem da casa dos avós da narradora, buracos negros cuja força gravitacional deforma e desaparece com qualquer matéria, inclusive a luz. Há que ser mais rápido que a luz para escapar de um buraco negro, nos diz a narradora, falando sobre astrofísica — mas também, por que não, do sentimento de impotência diante do buraco em que o país se encontra. Não é fortuito que a ação do romance se desenrole entre o final de 2019 e o começo de 2020.
A escolha temática e o recorte temporal impõem ao romance a dura tarefa de dar forma a dois eventos traumáticos fundamentais da nossa história recente. No que diz respeito à ditadura, o dilema da narradora é dar conta de uma história que não pertence a ela. Não é muito diferente do problema colocado por Primo Levi, no contexto do Holocausto, sobre a legitimidade do relato do sobrevivente de uma tragédia — em última instância, quem sofreu a violência maior não sobreviveu para contar a história. Mas por mais que a narradora não tenha vivido diretamente a tortura e o aniquilamento, aquela história também é dela, aquela dor também é dela. Nesse sentido, Caderno de ossos dialoga com o romance A resistência, de Julián Fuks, que nos coloca a pergunta: é possível herdar um trauma?
A resposta é sim, e o livro de Julia Codo mostra isso de maneira exemplar. De forma delicada e engenhosa, a autora engendra na narrativa o sentimento de dor difusa da personagem herdeira da violência do Estado autoritário dos militares brasileiros. A ausência de um desfecho para a história da tia se confunde com a própria falta de sentido na vida da narradora — uma mulher adulta que se mudou para Londres para acompanhar o marido, parou de trabalhar, voltou para o Brasil para ficar com o avô doente e acabou ficando indefinidamente. Mas é nos sonhos e nas lembranças da protagonista, e na leitura dos cadernos da tia, que essa questão ganha sua expressão mais bonita. Nas imagens do inconsciente, no exercício imaginativo da memória e da leitura, a ausência da tia, que não para de desaparecer ao longo do livro, é uma presença constante que vai ganhando, aos poucos, materialidade na história que a narradora vai construindo através da investigação do passado. As histórias de ambas acabam se entrelaçando, a mulher que foge na narrativa do caderno da tia, é, de certa forma, a própria narradora; e a história de Eva, também é a história da sobrinha.
O retrato da pandemia, por sua vez, mimetiza com precisão os sentimentos de incompreensão, desorientação e angústia vividos durante o primeiro ano do surto da Covid-19 no Brasil – inclusive pela forma sutil em que o episódio surge no romance. Mas não é só isso. Abordar um evento histórico de tamanha repercussão, sem muita distância temporal (estamos, afinal, há cinco anos da chegada da pandemia no Brasil), é sempre um risco. O que não é exatamente um problema. Muitos autores já escreveram sobre o período, alguns, inclusive, durante os piores momentos do surto. Penso em O último gozo do mundo (Companhia das Letras), de Bernardo Carvalho, publicado em 2021, um romance tão errático quanto interessante, que, por ser escrito no calor do momento, conseguiu reproduzir de modo muito eficaz a sensação caótica de apocalipse que nunca se realiza plenamente. Mas Caderno de Ossos não é um livro sobre a pandemia, é uma história sobre o Brasil da segunda metade do século XXI. Um Brasil pós 2018, que voltou a apostar em um governo autoritário, cuja estética se inspira diretamente no movimento golpista de 1964. A narradora está do outro lado dessa história, e a pandemia para ela, além do horror próprio da doença, é o ápice simbólico dos efeitos nefastos de uma ideologia que sempre se renova.
Assim como parte considerável da literatura nacional que se debruça sobre a ditadura militar, Caderno de ossos narra a história de familiares de desaparecidos políticos do regime. Mas há uma diferença fundamental no romance de Julia Codo: a narradora não é uma testemunha direta do sumiço da tia — alguém que ela nunca conheceu pessoalmente. É um grau de proximidade diferente do narrador autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva em Ainda estou aqui, que escreveu sobre a própria perda do pai, morto por militares sob tortura, e inspirou o filme vencedor do Oscar. A dor da narradora de Caderno de ossos é o trauma herdado por outra geração, dois graus mais distante da ditadura do que a de Marcelo Rubens Paiva. O que não significa que ela não exista ou não seja legítima, muito pelo contrário: a distância da narradora em relação à vítima só reforça a intensidade da violência perpetrada contra Eva e a família.
“Não sei se falo do passado, do presente ou do futuro”, indaga a narradora, numa frase que ilustra bem o sentimento de estagnação da História e o estilo direto e incisivo da autora. Embora seja o primeiro romance de Julia Codo, Caderno de ossos não é sua estreia na literatura. Em 2021, a escritora publicou Você não vai dizer nada (Editora Nós), um livro de contos. Nele já estavam presentes traços da escrita da autora que se destacariam no romance — um olhar duro, inconformado, sensível e terno, ao mesmo tempo. Uma forma que parece bastante adequada ao tema do livro, um romance que não oferece saídas fáceis, redenção, conclusões iluminadas, rompantes sentimentais de lirismo. Em vez disso, Caderno de ossos nos apresenta a expressão refinada da angústia de uma geração que se deparou com as fraturas expostas da sociedade brasileira e os fantasmas da ditadura militar e se recusa a esquecer seus horrores.
Camilo Gomide é jornalista, publicitário, tradutor, escritor e doutorando do Programa de Teoria Literária e Literatura Comparada da USP