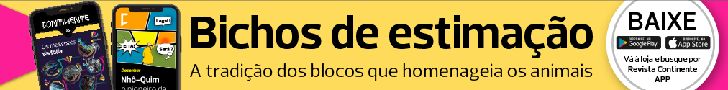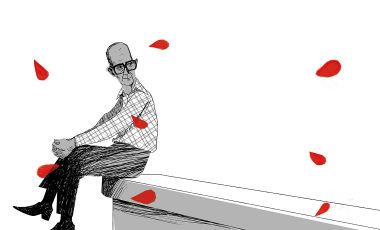Há exatos 70 anos, foi cunhada a expressão Inteligência Artificial, por John McCarthy (1927-2011). Nos prolegômenos da chamada conferência de verão no Dartmouth College, que ocorreu no ano seguinte. Mas, um lustro antes disso, – e até mais, se levarmos em conta a data do ensaio “Intelligent Machinery”, de 1948, divulgado a posteriori – Alan Turing (1912-1954), formulou a pergunta fundamental: “As máquinas podem pensar?”. Dois anos depois, ele publicou o artigo “Computing Machinery and Intelligence”, na revista Mind. Aí nasceu o famoso Teste de Turing.
Passaram-se mais de oito décadas para as respostas àquelas questões de 1940 estarem no cotidiano de quase toda a gente, de maneira muito substantiva, sob a forma da IA. Num contexto paradoxal, pois, enquanto as máquinas parecem cada vez mais“inteligentes”, as pessoas se apresentam mais estúpidas e arrogantes, em parte devido ao brave new world das “inteligências” maquinais malgeridas.
Nos tempos atuais, efetivamente, chama a atenção a banalização em muitas escalas, não só do mal, há muito percebido por Arendt (1906-1975). O próprio uso dos termos filosofia e filósofo, a torto e a direito, acentua banalidades promovidas a vezo de grandeza e não a sabedoria, propriamente. Por estas e outras razões, vale a pena destacar livros que, de fato, são um convite ao pensamento crítico em torno das coisas contemporâneas. Um deles é A Inteligência Artificial não pensa (o cérebro também não), lançado, recentemente, pela Iluminuras, e de autoria de Ariel Pennisi e Miguel Benasayag.
Esses dois intelectuais argentinos urdiram, sob a forma de diálogo, uma das mais agudas discussões sobre a IA. No centro está uma nova leitura do colonialismo. Não mais por Estados ou exércitos, diretamente, mas pelas máquinas “inteligentes”, que são armas tanto das empresas capitalistas mais avançadas quanto das forças militares das nações no topo da tecnologia.
Uma das palavras mais repetidas no livro de Ariel e Miguel é “singularidade”. Pensando nela, nos remetemos a Condillac (1714-1780), que, em plena época chamada de Iluminista, lançou luz sobre o pensamento em xeque. Ele diz, no livro A lógica ou os primeiros elementos da arte de pensar:
“Por desgraça, estão os hábitos da alma tão submetidos aos caprichos do uso, que parece não nos permitir dúvida nem exame; e são outro tanto mais contagiosos, porque a alma tem tanta repugnância em ver seus defeitos, como preguiça para refletir sobre si mesma. Uns se envergonham de não pensar como todos: a outros seria muito penoso não pensar senão por si mesmos; e se alguns têm a ambição de singularizar-se, será as mais vezes para pensar ainda pior. Em contradição consigo mesmos, não quererão pensar como os outros, e, no entanto, não sofrerão que se pense diversamente deles”.
O livro de Ariel e Miguel é um autêntico passeio filosófico, no sentido etimológico desta palavra. Eles citam vários pensadores atuais, mas também os antigos. De um deles, Kierkegaard (1813-1855), chegam a tomar emprestado um título de livro para batizar um dos seus capítulos: Temor e tremor. Desta obra, profundamente voltada para questões éticas, nos recordamos, associada a outra cujo nome, de imediato, remete a algo tão do presente quanto os métodos da inteligência e do aprendizado: A repetição. Ambas as obras foram lançadas em 1843, e no contexto de uma experiência amorosa tão promissora quanto pouco afortunada com Regine Olsen (1822-1904).
Talvez as máquinas já não possam ser xingadas de burras como as portas e, mais adiante, terminem por ser consideradas sinônimos de “inteligência”. No caso dos humanos, mesmo com a autodesignação de homo sapiens, não é pela inteligência que costumam ser conduzidos, mas pelas paixões. Há, porém, momentos em que máquinas e humanos assimilam-se e assemelham-se: em certas propensões à repetição e automatismo. Num determinado momento do livro, Miguel Benasayag nos diz:
“Quando funcionamos de maneira mais automática, ou seja, a maior parte do tempo, ou quando simplesmente não estamos presentes na reprodução de nossos atos, funcionamos à maneira do ChatGPT. Ou seja, quando funcionamos, o polo semântico se parece com uma densidade estatística”.
Noutro parágrafo, lemos: “Este é o credo de base sobre a continuidade da vida biológica e os artefatos, a inteligência orgânica e a inteligência artificial; a ideia de que o algoritmo captou uma essência profunda do ser. Essa equivalência de natureza que faz mais de 40 anos vem se estabelecendo entre o vivo e o digital e informacional é a condição para que hoje se pense em termos de subsunção do vivo pela máquina”.
Questões tanto éticas quanto práticas estão no livro. Uma delas é esta: quem faz um melhor diagnóstico: os médicos ou as máquinas? Em todas elas, no entanto, subjaz a “tendência à colonização tecnocientífica do vivo em diferentes situações, umas mais sutis e outras mais grosseiras, mas de todo modo bastante avançadas”.
Uma outra palavra-chave da relação humano-máquina é a hibridação. Nesse reino comandado pelos algoritmos, “em vez de nos provermos de maior capacidade de conhecer e agir, essa relação (a de colonização, n.e.) é a que determina “o pouco que podemos”.
O que, de fato, a máquina coloniza? Miguel responde: “o que eu chamei de ‘campo biológico’, e quando o faz empobrece a capacidade de compreensão, porque na realidade a compreensão é um fenômeno corporal, é com o corpo que se compreende, enquanto a máquina maneja informação”.
Ele diz também que: “O colonialismo ocidental produziu a aberrante ideia de que a razão podia governar, e hoje falamos de hipermodernidade porque a delegação de funções na máquina se dá a partir do princípio da racionalidade como algo totalizante. (...) Hoje estamos diante de uma ditadura das ideias quando delegamos a compreensão do mundo aos algoritmos que, por outro lado, podem ser totalmente racionais porque não têm corpo. (...) Quando nós reduzimos as outras dimensões existenciais à dimensão do cálculo, quer dizer que nesse ponto estamos colonizados em nossa subjetividade. A partir daí as pessoas acreditam que é preciso poder calcular tudo e isso em parte explica a fascinação com o ChatGPT. No fundo, há uma crença metafísica para qual o todo é a possibilidade onipresente e onipotente do cálculo”.
Um dos autores recentes manejados por Miguel e Ariel é Gilbert Simondon (1924-1989), em especial a sua tese A individuação à luz das noções de forma e de informação. Nela está presente a ideia de que “o ser técnico é mais do que a ferramenta e menos do que o escravo”. Coincidentemente, numa Meditação sobre a técnica, de Ortega y Gasset (1882-1955), publicada em 1939, há muitas antecipações da discussão sobre essas e outras ideias em torno do que hoje, generalizadamente, chamamos de tecnologia.
No debate que trava, no método diálogo, Ariel Pennisi lembra que “a máquina não admite a exterioridade do outro, isto é, a alteridade.” Questões tão humanas, como a da censura, aumentam de complexidade, e a problemática colonial, ao invés de haver terminado seus dias, assume novas formas e fórmulas. Diz Miguel Benasayag:
“Nós nos referimos à colonização técnica do orgânico como a orientação arriscada no interior deste modo de autoprodução do mundo. Mas a questão é que vamos ter que aprender a coabitar com algo muito particular, como o fato de que um livro pode estar feito quase em sua totalidade por um programa informático, porque estas novas tecnologias já fazem parte da trama (mesmo quando em sua lógica interna não acedam à trama ou possam esmagá-la). É um desafio. Em compensação, a pergunta malfeita, a que desconhece o desafio é ‘O que nos resta a fazer?’ Esta é uma pergunta que opõe pensamento crítico ao senso comum, reproduzindo um gesto colonial que parte de um sentido de superioridade”.
Um dos aspectos mais interessantes do livro de Ariel e Miguel é a ênfase posta no corpo, na inteligência do corpo, não numa especificidade cerebral. Isto não é tratado como metáfora, e, sim, de maneira bastante objetiva, inclusive voltando-se para exemplos concretos no âmbito do trabalho:
“O operário se torna polivalente na medida em que perde seus saberes e adapta seu corpo, seus músculos, à máquina. A diferença, por exemplo, entre o artesão e o operário é que o primeiro maneja seus músculos numa relação de cocriação com a matéria, enquanto no nosso intercâmbio com a inteligência artificial (como a caricatura que Chaplin faz do trabalhador com a montagem de produção) atrofiamos certos circuitos e hiperdesenvolvemos outros pelo feedback”.