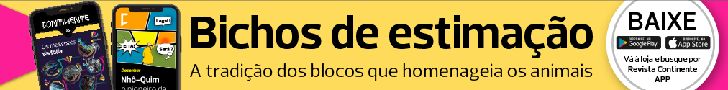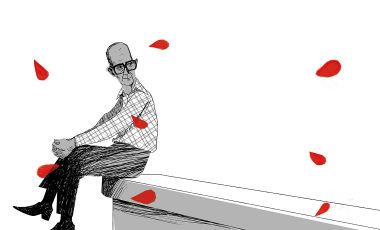Em um artigo intitulado “Entre eu e eu-mesmo”, a filósofa Jeanne-Marie Gagnebin diz que “a insignificância cada vez mais real do indivíduo no sistema capitalista contemporâneo é disfarçada pela exaltação crescente de sua pretensa originalidade”. As escritas autobiográficas contemporâneas correriam um duplo risco: ilusão de transparência do discurso de um sujeito que se vê sem fissuras e a fantasia narcisista, uma defesa à própria insignificância. No livro Eu escreve: dilemas das escritas de si, vemos que os escritores, poetas, teóricos e ensaístas têm enfrentado com bastante competência esses dilemas.
Arte de viver e sobreviver
Na primeira parte, “Gêneros instáveis”, ganham notoriedade os problemas teóricos levantados. Uma boa introdução aos leitores pouco familiarizados com os debates do campo. Bianca Santana parte das ideias de Michel Foucault, na esteira de Sueli Carneiro e do livro pioneiro de Margareth Rago, A aventura de contar-se, para mostrar como a escrita de si é uma tecnologia de busca pela verdade e ferramenta do processo de constituição de sujeitos.
Para Foucault, escrever é um treino, como a meditação, o exercício físico, o jejum: uma técnica da vida, uma arte de viver. Como podemos ler em uma das cartas de Sêneca: “a escrita transforma a coisa vista ou ouvida ‘em forças e em sangue’”. Nesse sentido, explica Rago, a escrita de si dos antigos se opõe à confissão coercitiva conduzida pelo poder pastoral acentuado pela modernidade.
Bianca Santana, na interface com a noção de escrevivência de Conceição Evaristo, segue o caminho da escrita como uma tecnologia de resistência ao racismo. A autobiografia é o gênero literário dos sobreviventes. E para sobreviver e dizer a verdade é necessário coragem: parrésia. Foucault recupera esse termo do grego. Significa a coragem para dizer a verdade sob risco não só do julgamento alheio e próprio, mas sob o risco do extermínio físico. Como Sócrates, na Antiguidade. E Mariele Franco nos nossos dias.
Para Margareth Rago, escrever sobre si mesmo é uma ética relacional. Essa ética do cuidado comunitário de uma herança coletiva vai ser também o objeto das reflexões de Trudruá Dorrico e Yasmin Santos, que partem, respectivamente, da cultura indígena e da escrevivência de mulheres negras para pensar a transmissibilidade cultural e de uma escrita que é antes de tudo oralidade. Nessa perspetiva, o eu é sempre um nós comunitário.
Formas que não precisam de nome
Felipe Charbel, entusiasta de G. W. Sebald, leva a questão dos textos enunciados pela primeira pessoa para o campo do ensaio, um gênero desde sempre bastardo, de “felicidade e jogo”, como constatou Adorno. “O ensaio é o ponto de encontro dessas formas sem nome”, explica Charbel, que vai desvendar o dispositivo fotográfico também em autores brasileiros recentíssimos, como Bernardo Brayner e Lucas Verzola.
Luciene Azevedo, por sua vez, defende que a associação entre literatura e ficção já não é mais uma evidência, em parte pela influência da Internet e contato direto com autores na recepção das obras. Lê As pequenas chances de Natalia Timerman e o A pedra da loucura de Benjamín Labatut para concluir, na esteira de Manuel Alberca, que o romance passou nos últimos anos por um “colapso criativo”. Desse modo, uma das tendências da produção contemporânea é abandonar o jogo da autoficção para “antificção”, ou seja, “um deslizamento da ficção em direção do não ficcional.”
Minerar arte no cotidiano banal é parte do projeto monumental do norueguês Karl Ove Knausgard, em suas mais de 3.500 páginas. Esse é o tema do ensaio do tradutor Camilo Gomide, que navega com seu barco há mais de uma década pescando referências nos tortuosos rios narrativos de Karl Ove. Na esteira de Toril Moi, Gomide argumenta que a grande confissão de Knausgard deve ser lida como uma abertura para o outro e o lastro dessa alteridade seria construído a partir da vergonha. “Quando sentimos vergonha de alguma coisa, estamos nos vendo pelos olhos de outra pessoa”, explica. Ser é ser visto.
Dispositivos subversivos
Ganha destaque o ótimo artigo de Isabela Cordeiro Lopes, o mais refinado de todo o livro. Sem nenhuma nostalgia pela estabilidade das formas narrativas do passado, a pesquisadora parece sugerir que por baixo das aparentes rochas sólidas que sustentam as montanhas teóricas há um magma convulsivo, fervilhante, amorfo, em constante movimento. Deslocando as placas tectônicas de conceitos enrijecidos, abrindo fendas e fraturando pacíficas noções de identidade, eu e verdade, para reconstruí-las mais adiante de maneira transformada, as noções de literatura expandem seu campo, sem perder a constante tensão das bordas.
Nos testemunhos latino-americanos, estão sobrepostas tanto a vida que é quanto a dor de uma memória fabulada, uma angústia real demais, a imagem das vidas que poderiam ter sido. Deixando para trás a antiga noção de autonomia, a literatura convoca a imaginação como parte constitutiva do real. “Ao fazê-lo”, explica Lopes, na esteira de Ludmer, “ela sempre se encontrará na fronteira entre o real e o ficcional, entre a vida vivida, as vidas imaginadas, nos espaços limítrofes onde a linguagem ‘produz o presente’”.
Júlio Pimentel Pinto, por outro lado, ao tratar de diários, parece ressoar um platonismo involuntário, ecoando o Fedro, no qual o pensador grego desconfia de textos escritos em comparação ao “diálogo vivo”. Se o texto difratado de um diário é de uma precariedade de “infinitos nadas”, é porque na visão do autor do artigo a “experiência narrada é outra, distante da vivida”, sua “dramaticidade continua presente (...) mas é inacessível”, “é impossível supor que fatos autobiográficos apareçam diretamente nos diários”. Esse dualismo no qual o texto seria uma espécie de cópia decadente, parece se esquecer, como diz Derrida em A farmácia de Platão, que a escrita é um gesto ambíguo. Phármakon: remédio e veneno. Um texto não é um depósito de experiência: ele as produz. Não há um algo mais real escondido sob o texto, ele mostra todas suas faces polissêmicas e fraturas na própria aparição. Já no rastro, indício ou sinal estão expostos os jogos de legibilidade, mesmo que seja necessário escová-lo a contrapelo. Rasurá-lo. Ou dialogar com a voz de um morto.
Caos hermenêutico e histórias dos conceitos
Na segunda parte do livro, “Conceitos em debates”, Diana Klinder, Anna Faedrich, Josélia Aguiar e Adriano Schwartz percorrem o debate teórico, seja refazendo percursos canônicos, no caso das duas primeiras, ou reconstruindo uma biografia das biografias, como Josélia Aguiar. Schwartz, por sua vez, expõe o “caos hermenêutico” que a experiência contemporânea impôs à recepção e à leitura: convicções muito convictas, verdades mais verdadeiras, julgamentos sem ambiguidade.
O ensaio que talvez chame mais a atenção dos leitores na segunda seção é o texto de Samara Lima, sobre Annie Ernaux e Édouard Louis. Exibindo com elegância os parentescos e as diferenças entre os dois “trânsfuga de classe”, a própria autora se insere no texto e expõe sua bonita experiência de leitura e vida: “Lembro-me com nitidez da sensação de estupor ao ler O lugar e encontrar ali experiências de pessoais de classe: as da minha família, não normanda, mas de Salvador. Uma trajetória de babás, pescadores e donas de casa que falam um português incorreto; a do meu pai, técnico de máquina de xerox; a da minha mãe, empregada doméstica e, mais tarde, dona do próprio salão de beleza, que sempre investiu o que tinha na educação da sua única filha para que tivesse oportunidade de escolher a profissão que desejasse”.
Eu escrevo: a própria voz
Na terceira parte, reunindo escritores e poetas como Julián Fuks, Natalia Timerman, Lubi Prates, Tatiana Salem Levy, Amara Moira e Bruna Mitrano, o livro assume um tom mais testemunhal, mesmo quando esse testemunho é teórico. Timerman, num texto composto de fragmentos e citações, revela o espanto de descobrir que uma estudante estava pesquisando não seus livros, mas ela mesma, pessoa física, a partir do conteúdo de suas redes sociais. Lubi Prates escreve das angústias da escrita a partir dos desafios da maternidade, Tatiana Salem Levy e Julián Fuks contam de suas investigações teóricas a partir da própria vida, fazendo uso de noções como “autoria” e “pós-ficção”: “Estou sempre acompanhada de outras vozes”, explica Tatiana.
Os textos de Amara Moira e Bruna Mitrano são os mais viscerais e literariamente mais bem-escritos dessa parte final. Enquanto Amara Moira intercala sua experiência e a outras vozes trans “sem concessões, sem pedidos de desculpa, sem alertas de gatilhos”, Bruna Mitrado lê Aline Motta e Heleine Fernandes a partir de perguntas dos seus alunos de oficina. “Falar da vó é falar de si, porque o corpo lembra, a despeito do desejo do eu (...) Narrativas repassadas no suor e no sangue, pelos poros e pelo útero”.
Nossos corpos são feitos de palavras. “Nós somos pura narração”, diz Ariana Harwicz. Vidas narradas, tecendo um fio que vem antes de nós e será passado adiante, “como um anel”, na metáfora de Walter Benjamin. “É somente quando a vida individual deixa a esfera individual da vivência, do Erlebnis, e alcança o horizonte da experiência coletiva maior, da Erfahrung, que essa vida individual merece ser escritura de si”, explica Jeanne-Marie Gagnebin. Um eu com coragem da verdade, que não deixa cair no esquecimento a história dos outros. Uma prática comunitária e uma necroescrita: “Escrever a história da sua vida pode então significar, e talvez em primeiro lugar, recordar a morte dos outros”.
Marcos Vinícius Almeida é escritor e jornalista, mestre em Literatura e Crítica Literária (PUC-SP) e autor do romance Pesadelo tropical (Aboio, 2023)