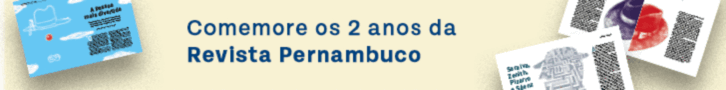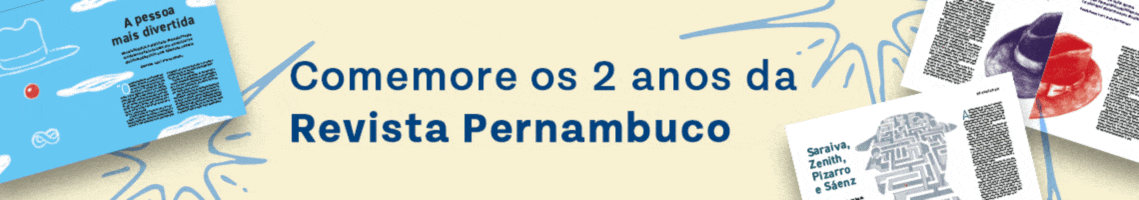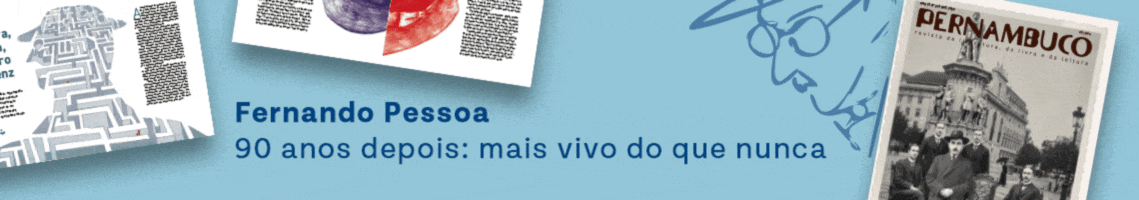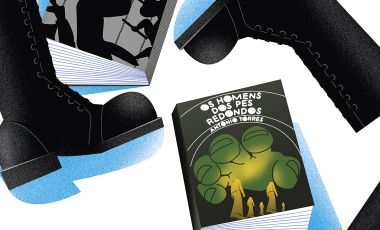O escritor, editor e professor pernambucano Wellington de Melo nos traz em seu mais recente romance, Emilio (Cepe Editora), uma reflexão sobre o discurso de ódio como perverso modulador da vida pública.
É a teoria de Sara Ahmed, estudiosa e escritora anglo-australiana, que nos faz compreender os afetos negativos, esses que escondemos debaixo do tapete. Dor, raiva, medo e o próprio ódio nos são mostrados como mobilizadores das dinâmicas sociais. No entanto, não seriam eles os catalisadores de toda perversidade em si, mas o que fazemos a partir daí é que pode desencadear tragédias. É esse o perigo.
O ódio, enquanto desejo de aniquilar o outro, é combustível para a opressão e violência tão presentes nas estruturas da sociedade. Em Emilio, é assim que essa economia afetiva aparece. O livro se abre como um alerta ou prelúdio do que está por vir:
“O amor é uma lenta, maçante e pegajosa procissão que nos move, melancolicamente, para dentro. O ódio, não. O ódio é expansivo, gregário, toma a rua, as mentes das multidões. Só o ódio nos salvará da solidão”.
Emilio é um homem eloquente cuja oratória é capaz de mobilizar paixões grotescas. Manipula, movimenta as peças do tabuleiro como se fosse um deus. Escancara o que há de mais sorrateiro e cruel, faz sair do esgoto o pior tipo de gente, transforma massacre em feriado nacional, promove assassinos em massa a mártires. A verossimilhança revela a engenhosidade narrativa que pulsa.
Excêntrico e reacionário, é sobrevivente de um mundo fraturado, cindido, que busca para si um líder capaz de convergir a noção de coletividade e pertencimento que o ódio, enquanto elemento gregário, reivindica segundo a abertura do texto. Algoz e vítima de seu tempo, busca se eternizar, mas é digno dos rodapés da história, como todos os tiranos.
Estrategicamente, a trama é tecida para que o leitor conheça Emilio em doses homeopáticas, por meio de um jogo de luz e sombra para que, na maioria das vezes, saibamos sobre ele por meio da visão dos outros. Conhecê-lo por essas lentes faz com que o seu discurso seja ainda mais assustador.
É na distopia desse mundo em ruínas que o livro trabalha com duplos em duas camadas do tempo: o passado e o presente tentando, de alguma forma, construir um futuro que se desloca cambiante, à mercê dos acontecimentos. Num país sem nome, assolado por uma guerra que nunca aconteceu, cuja padroeira é Santa Lúcia Siracusa - protetora dos cegos -, o radicalismo e o extremismo expulsam para as margens e para fora de seu território corpos dissidentes.
Curiosamente, Emilio não é a personagem central da trama. A protagonista é uma menina negra e periférica, Cláudia, cuja grandeza da personalidade mora, inclusive, na contradição e na ambiguidade. Desejante, sonhadora e extremamente vinculada à vontade de sair de sua realidade brutal, ela constrói na relação com seus pares algumas dialéticas do texto.
Com Clarissa, a amiga rica da universidade, ela estabelece um jogo perigoso de se infiltrar nas elites para sobreviver. Com Alexandre, simula um relacionamento que não se concretiza pela disparidade intelectual entre os dois. Na relação com Emilio, Cláudia se torna a inimiga a ser abatida; com a mãe de santo Fátima, desnuda as desigualdades ao contrapor a padroeira e a Orixá Euá. Entretanto, é com a amiga de infância Marcela que realmente trava uma relação poderosa de tensão dos abismos sociais não pelas diferenças, mas pela semelhança.
Marcela é um espelho em que se vê refletiva, escancara os medos da protagonista - o de sucumbir à realidade que as aprisionava, o de nunca conquistar autonomia, o de jamais controlar a própria vida e não conseguir fugir. Marcela que ela invejou antes de ter pena, de quem teve pena “antes de ela virar só uma memória triste”. A menina do violino violentada que se tornou mãe adolescente atípica. A que despertou em Cláudia os sentimentos mais conflituosos e demasiadamente humanos até o fim. Alguém cuja construção revela a dolorosa realidade de tantas meninas e mulheres brasileiras e latino-americanas.
Não à toa, é a amiga perdida quem traz de volta uma Cláudia ao mesmo tempo tão transformada e tão parecida com quem fora: “o não dito passou a dormir de novo nesse lugar amargo em que deixamos macerar por todos esses anos. O que ela disse quando olhei a neve e lembrei que não sou daqui nem nunca serei mudou tudo. — Estou morrendo, Cláudia”.
Saindo da proteção do autoexílio para os escombros “da praia de rancor que insistem em chamar de pátria”, Cláudia precisa cumprir duas missões: uma explícita de cuidar do filho da amiga à beira da morte; e outra, de reparar e elaborar o vivido.
Com personagens cheias de camadas que convidam a pensar para além dos maniqueísmos, a narrativa perfura constantemente a perspectiva linear dos fatos. É na confluência entre as duas espirais do tempo que Cláudia transita entre a dúvida e o desejo. Uma distopia de um futuro próximo que desenha algumas experimentações tecnológicas como as inteligências artificiais, os carros não tripulados por pessoas, a energia cinestésica e os relógios quânticos. A narrativa ganha força mesmo ao mostrar como o insólito coloca a perversidade do cotidiano como medo real porque possível de acontecer.
CONTEÚDO NA ÍNTEGRA NA EDIÇÃO IMPRESSA
Venda avulsa na Livraria da Cepe