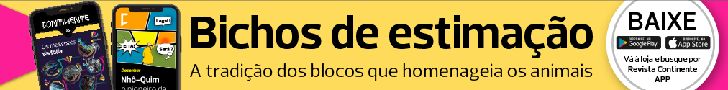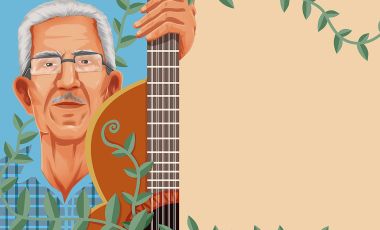Com uma base sólida de conhecimento perante os grandes nomes da literatura, o professor e escritor Andrey Pereira de Oliveira ousa desafiar o olhar comum no seu primeiro livro de poesias, Coruja de trapo. Publicado pela Cepe editora, a obra traz o passar do tempo como tema central para imagens e sonoridades poéticas que fundem o conhecimento ao imaginário.
Nas páginas do livro, os objetos e seres conhecidos se transmutam em outros completamente novos, tudo a fim de criar uma obra repleta de ritmo e imagética. Para Andrey, que por muitos anos esteve mais do que feliz em estudar a literatura sem apropriar-se de si para a efetiva escrita, toda a técnica veio como munição na hora de criar.
Foi durante o isolamento devido a Covid-19 que o professor de Literatura Brasileira da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) passou a colocar no papel seus pensamentos, transformando o abstrato em uma poesia singular, que olha para o ordinário com olhos atentos para captar o extraordinário presente ali.
Em entrevista à revista Pernambuco, o autor compartilhou seus processos diante da criação poética e esmiuçou a maneira como sua poesia nasce da simbologia e principalmente da experiência da linguagem.
Andrey, desde quando você escreve poesia?
— Pra ser muito franco, escrever mesmo, levando mais a sério, é uma coisa muito recente, de 2021 para cá. Eu fiz o Curso de Letras na virada do milênio e escrevi algumas coisas, mas eram brincadeiras. Isso é um problema no Curso de Letras: faz com que você se sinta muito ruim, porque você está lendo os grandes autores. Então, às vezes, você deixa o escrever para lá. Mas aí, nos últimos três anos, eu comecei a fazer algumas elaborações e achei interessante. Antes disso, eu lia muito e, de algum modo, me conformava com exercer uma espécie de experiência estética lendo os grandes autores. Como sou professor de literatura, eu lia poesia todos os dias, dava aula sobre isso quase todos os dias. Aquela experiência de ler, interpretar e comentar o poema dos outros me bastava, mas em 2021, deu vontade de fazer os meus próprios textos.
Sendo professor de literatura e tendo esse contato com os grandes nomes da literatura, até sentindo-se inferior a eles, como você citou, como foi o seu processo de aceitação como poeta?
— Tem aquela fase de você querer escrever na adolescência e, depois, abandonar aquilo, né? Eu também passei por isso, mas foi sem nenhum trauma, porque, de fato, eu sinto muito prazer em ler os textos dos outros. Depois, nos últimos anos, eu comecei com certas brincadeiras. Na época da pandemia, teve uma série de coisas muito graves, muito danosas, muito violentas, mas a gente também teve um certo tempo ocioso e no meu caso, eu consegui ter esse tempo. Começava a elaborar algumas coisas e via que aquilo, de alguma forma, me satisfazia. Eu não estava escrevendo para dar resposta a ninguém ou para dizer que era capaz. Não! Eu escrevia e aquele texto me dava algum tipo de prazer estético na própria elaboração. Eu tinha um resultado, ali, que, pelo menos, provisoriamente, me agradava. Ou eu gostava do ritmo, ou gostava da imagem que eu tinha construído, gostava da discussão que aquele texto suscita. Depois que eu comecei a escrever, sem falsa modéstia, tinha uma certa consciência de que aquilo que estava escrevendo tinha algum tipo de valor. Não para os outros, mas para mim. Aquilo me parecia ser bem realizado.
E partindo dessa escrita, Coruja de trapo é um arremate desse processo, correto? De onde surgiu o desejo de realmente transformar esses poemas em um livro?
— Antes desse livro, eu tive a experiência de publicar outros três livros. Foram três livros acadêmicos. Um livro que resultou da minha tese e, depois que eu me tornei professor da UFRN, acabei publicando um conjunto de 14 ensaios elaborados ao longo dos anos. O terceiro livro é um livro de teoria da narrativa.
Sempre gostei muito desses livros, mas ainda não tinha tido a experiência de publicar um livro de poesia. São prazeres diferentes, mas quando eu publiquei esse livro, parecia que era o meu primeiro livro. Então, assim, eu juntei os textos, pensei em alguns editores, tentei entrar em alguns sites e, quando eu vi uma chamada aberta no site da Cepe, eu enviei.
Eu tinha uma quantidade razoável de textos e comecei a perceber que alguns desses textos formavam alguns grupos. Eu pensei: “que seja uma espécie de miscelânea, que seja um ajuntado de textos”. Então, a minha ideia foi pegar aqueles textos, reunir em sessões, em partes. Eu pensei em várias possibilidades diferentes, organizava e reorganizava os textos. Essa dificuldade de transformar o conjunto de poemas num livro estruturado, é um trabalho à parte, não é uma coisa que se faz com facilidade. Os mesmos textos, ordenados em uma sequência diferente, geram experiência de leitura também diferente para o leitor. Foi um processo muito longo e para alguém que não tem experiência nenhuma, é um pouco angustiante, porque uma coisa é você escrever os poemas e outra é ter uma resposta. Agora, o processo de edição foi muito tranquilo, pelo menos no meu caso. Sou muito grato ao pessoal da Cepe, que fez uma revisão ótima no texto, que atendeu muito bem a minha configuração dos poemas. Alguns poemas trabalham com a questão da espacialidade e eles mantiveram isso exatamente como eu tinha proposto. Sugeri uma ideia inicial de capa que eles atenderam e melhoraram ainda mais, por exemplo. O meu trabalho maior foi, como eu falei, transformar aquele conjunto de poemas em uma estrutura que ficasse de pé. No fim das contas, se eu pegasse esses mesmos tantos poemas e colocasse eles em uma sequência diferente ou em sessões diferentes, a experiência seria outra e não atenderia aquilo que, de fato, eu estava procurando.
Sobre os poemas presentes em Coruja de trapo, vários deles tratam sobre o tempo e o passar dele. Por que escolher tratar desse tema como um dos regentes do livro?
— Eu não busquei, quando eu estava elaborando os textos, de antemão falar sobre o tempo, mas no fim das contas, é isso mesmo. Acho que o tema que predomina no livro como um todo, aquele mais recorrente, é a questão do tempo, do quanto as coisas são perecíveis, do quanto, no fim das contas, o que se aponta lá no final, é a morte, é um desfecho, o quanto o ser vivo, o ser humano, está sempre em conflito com outras entidades. Isso, de fato, é o que salta os olhos, mas eu queria deixar registrado uma coisa que, para mim, é importante. Quando eu vou elaborar qualquer poema, o tema não é o que vem primeiro. Eu quero escrever um poema que trate de uma experiência de linguagem. Isso, para mim, é fundamental. Eu começo um poema a partir de uma imagem, de uma metáfora, da junção de duas palavras que, a princípio, são muito inusitadas. E a partir disso, penso em desdobramentos daquela imagem. Por exemplo, a tal da coruja de trapo. Ou então outras metáforas que aparecem no livro. Quando não é uma metáfora, é um som, eu tenho um ritmo, e aquele ritmo me faz, depois, buscar as palavras que se encaixem bem. Então, no fim das contas, eu parto dessa questão mais material, seja de imagem, seja de ritmo. E depois tenho uma luta para tentar transformar aquilo em um poema. Aí tem a questão subjetiva. A minha poesia não é minimamente confessional, mas, talvez, nesse período de três anos que foram os anos de elaboração, o tempo fosse algo que viesse, de algum modo, me perseguindo, mesmo que inconscientemente.
Como professor, imagino que você tenha um contato intenso com os mestres da literatura. Entre os diversos autores que temos, quais são aqueles que mais lhe agradam?
— Essa é uma pergunta ótima. Eu leio coisas muito óbvias, não tenho aquele autor que, “ah, poxa, só o Andrey lê tal coisa”. Os mestres são os que de fato estão no cânone. Por exemplo, para mim, no pedestal maior, o João Cabral de Melo Neto é a figura central. É o que, quando eu leio, dá vontade não somente de continuar lendo, mas dá vontade de escrever. Ele me estimula a escrever. João Cabral, sem dúvida nenhuma. Também tem Carlos Drummond de Andrade, Augusto dos Anjos... Aí tem outros que talvez fujam um pouquinho do que seria mais óbvio dizer no primeiro momento. Gregório de Matos tem uma poesia lógica que, para mim, interessa muito, a musicalidade da poesia de Gonçalves Dias e também as imagens da poesia de Cecília Meireles.
E tem um autor que eu queria destacar, porque esse talvez não seja do conhecimento de um público maior, mas é um autor que eu leio obsessivamente, que é um autor paraibano, Sérgio de Castro Pinto. Esse poeta está vivo, em produção, publicou um livro recentemente. É um daqueles autores que eu leio frequentemente. Ele é muito estimulante para mim porque tem o poder do controle sobre o texto, tem analogias que são bem inusitadas e que depois que você lê na poesia dele, parecem óbvias. Ele tem o poder da concisão. Então eu destacaria, além desses clássicos, João Cabral, Drummond, Gregório, Gonçalves Dias, Augusto, Cecília. Eu deixaria muito claro o meu amor mesmo pela poesia de Sérgio de Castro Pinto. Sim. Eles são importantes para mim.
Algo que percebi na sua poesia é que você também traz uma relação com o mar. De onde isso veio? Foi uma relação pessoal? Foi um encanto?
— Eu percebi, em certo momento, que estava recorrente essa história do mar ou de peixes, ou de ostras ou de navios. Também não foi uma coisa buscada, não. Eu não sou uma pessoa que vive na praia, apesar de morar no litoral. Sou muito mais caseiro, mas o mar é muito rico de possibilidades de imagens, de possibilidades de metáforas, de possibilidades de simbolismos. Eu acho que é mais por aí. É a riqueza da simbologia que a gente pode buscar quando se escreve sobre algum elemento marítimo ou algum elemento aquático. Então, de fato, tem poema sobre cavalo-marinho, sobre ostras, sobre peixes, sobre navios… são sempre elementos marítimos que, de algum modo, eu trabalho como um símbolo de algo que o transcende. Mas realmente, o mar tem uma espécie de campo semântico muito caro, muito importante.
Justamente diante de objetos, animais e seres, você traz um olhar diferenciado, um olhar poético. Como os temas dos seus poemas se apresentam a partir disso?
— São dois pontos de origem: o ritmo, a questão musical, ou então a imagem. Por exemplo, uma pinha. A gente olha pra pinha todo dia, e em algum momento, eu olhei pra pinha e ela parecia uma granada. Essa foi a imagem que primeiro veio e isso ficou anotado no caderninho durante muito tempo. Até que teve um dia que eu comecei a escrever um primeiro verso, aquilo me foi levando por um ritmo, eu comecei a montar outras imagens, e claro, aí vem o trabalho de elaboração do poema. Aqui chega tem uma coisa fundamental para todos esses poemas, que é a questão da desautomatização da linguagem, que acaba gerando também uma espécie de desautomatização da percepção do mundo.
Essas são coisas muito simples, uma pinha, uma abelha, animais do cotidiano, mas que você olha com uma espécie de um olhar inovador. Eu acho que a minha poesia é muito visual, ela tem muitas imagens, situações ou cenas ou descrições amparadas em um ritmo e que leva a pensar. Eu acho que a minha poesia leva as pessoas a talvez pensarem “que coisa inusitada! Deixa eu ver o que é exatamente isso”. É isso que eu busco: olhar o mundo de forma inovadora, através de uma linguagem que te mova a esse olhar.
Coruja de trapo é a culminância de um sonho?
— Quando eu comecei a escrever os poemas, eu não perdi minimamente a vontade de continuar lendo o poema dos outros. Então, o meu gosto, o meu prazer, o meu barato, lendo um poema de Drummond, de Cabral, de Cecília, continua sendo o mesmo. O que, às vezes, eu me pergunto agora, com mais clareza, é: como é que eu faria tal coisa? Eu fico me metendo, não com uma distância do sujeito que analisa o objeto, mas eu fico tentando me enfronhar pela própria engrenagem daquilo.
Dizer que o livro é uma culminância, eu não sei se é porque... eu não sei, acho que é uma palavra muito forte. Eu acho que é um passo a mais na minha vivência. É um passo a mais na minha existência de leitor, de professor, de ser.