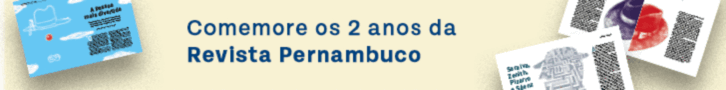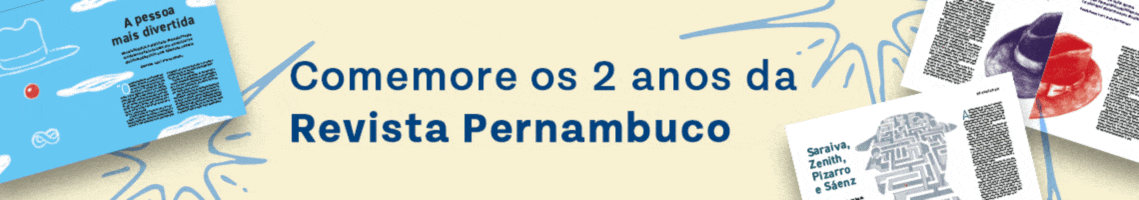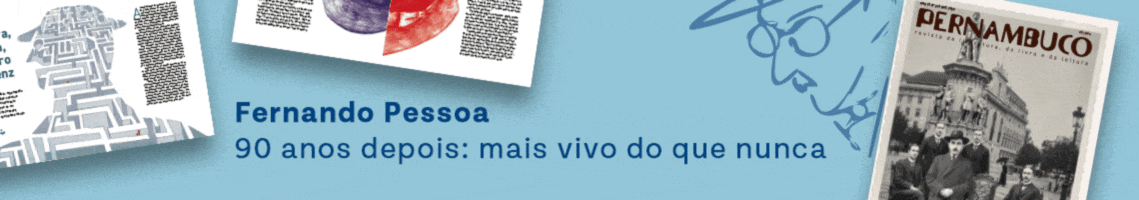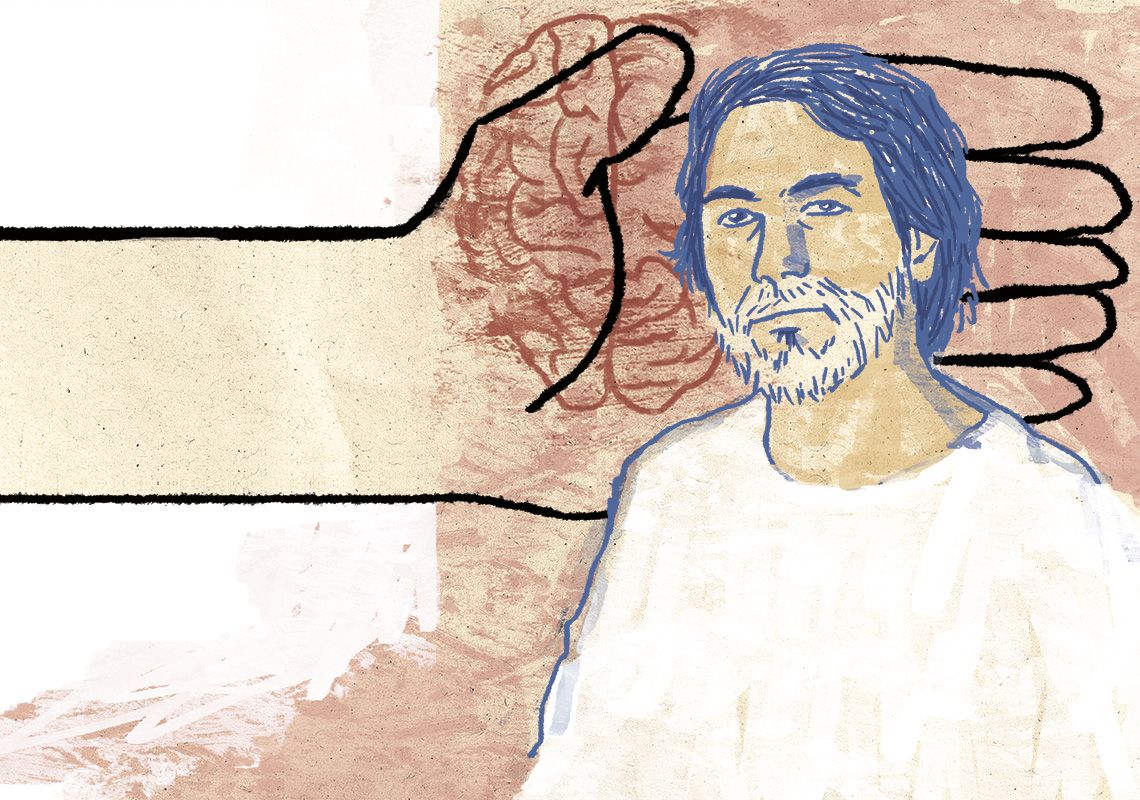
Miguel Benasayag é filósofo e psicanalista. Sua tese, defendida na Universidade Paris VII, é Sobre o sujeito nas prisões políticas. Estudo psicanalítico da relação sujeito-discurso em situação-limite. Ele dirige o programa de despsiquiatrização, no Brasil (Fortaleza), e comanda, na Argentina (Buenos Aires), o Laboratório de Biologia Teórica Campo Biológico. É colunista da Rádio Nacional Argentina. Há cinco anos, está à frente do Laboratório Organismos e Artefatos, no âmbito do Mestrado em Estéticas Contemporâneas Latinoamericanas, na Universidade Nacional de Avellaneda (Argentina).
Ariel Pennisi é ensaísta, professor e pesquisador (Universidade Nacional de José C. Paz e Universidade Nacional de las Artes), codiretor de Red Editoral, com Rubén Mira, membro do Instituto de Estudos e Formação da Central de Trabalhadores da Argentina Autônoma e do Instituto de Pensamento e Políticas Públicas. É integrante do Grupo de Estudos Problemas Sociais e Filosóficos (Instituto de Investigações Gino Germani – Universidade de Buenos Aires).
Ambos os autores são ativistas de esquerda, com uma intensa gama de publicações, tanto sob a forma de livros quanto de vídeos e áudios.
Quando do lançamento do livro sobre a Inteligência Artificial na versão brasileira publicada pela Editora Iluminuras, Ariel Pennisi concedeu, por e-mail, esta entrevista.
Sabemos como é difícil definir. Mas, ao ler seu livro, já pelo título, a definição de Inteligência parece bem clara para os autores. O que é inteligência e onde ela está localizada?
— Em princípio, há uma dificuldade, quando se tenta pensar na Inteligência Artificial generativa como uma substituição da inteligência humana e, mais geralmente, da inteligência orgânica. Por quê? Porque, em todo caso, o modelo de inteligência no qual se baseia a antropomorfização da inteligência, da malchamada inteligência artificial, é um aspecto da inteligência humana, que é a capacidade de calcular, de estabelecer correlações, de fazer estatísticas, onde a máquina é sempre mais potente que a inteligência humana, digamos, ou seja, estabelecer correlações, gerar zonas de densidade estatística, é algo que a máquina pode fazer, digamos, com muito mais eficiência do que uma pessoa. Só que o que dizemos é que o pensamento, não a inteligência, mas o pensamento, é, em todo caso, um dispositivo que captura os elementos, ou seja, que toma partes da paisagem, do corpo, da história, da matemática, e então o pensamento não se reduz de forma alguma à capacidade de calcular e estabelecer correlações. Portanto, há uma diferença de natureza que deve ser destacada, onde, do nosso ponto de vista, não há nenhuma substituição possível. Em todo caso, há tarefas, digamos, que podem ser delegadas à máquina e que, se essas tarefas delegadas à máquina se inscrevem em uma produção que leva em conta a história, o contexto, e, sobretudo, a emergência do sentido, a produção do sentido, então estamos diante da possibilidade de um híbrido entre a máquina e o orgânico que pode chegar a ser até virtuoso.
Uma editora brasileira cancelou um prêmio literário por perceber que dezenas de obras inscritas no concurso foram “escritas” pelo sistema de IA. Muitos consideram a IA um problema ou um desafio para a literatura e o jornalismo. Supor que a máquina produz literatura não é uma forma de aceitar a colonização dela?
— Acreditamos que, quando se pensa em termos de substituição, já se está sob um olhar colonizado. Colonizado por quê? Porque seria então a lógica interna da máquina que imporia os parâmetros dessa relação, ou seja, quando os parâmetros da máquina se tornam os parâmetros da vida, chamamos isso de uma forma de colonização tecnocientífica da vida. Então, como eu estava dizendo, a máquina pode estabelecer correlações entre os elementos que possui, ou seja, a máquina pode pegar todas as informações que possui ou que tem disponíveis e estabelecer correlações estatísticas a uma velocidade incomum, em uma quantidade inimaginável em outros tempos. Isso não significa que nem a literatura nem a poesia se reduzam a um conjunto de relações entre palavras; por isso no livro enfatizamos com muita força que há algo que escapa à máquina e são as situações de fronteira, ou seja, a máquina não sabe por que em um determinado momento a arte figurativa deixa de ter força em uma cultura, por que surge a abstração ou por que, de repente, digamos, surge a poesia concreta, ou seja, isso escapa completamente à máquina, por quê? Porque para a máquina não há sentido, o que há são correlações, correlações frias. Então, é claro, se reduzirmos a poesia, a literatura, até mesmo a pintura, a arte da ilustração, a um conjunto de relações frias entre elementos que, separadamente, podem ser compostos como se fossem um laboratório, bem, então sim, o problema é a concepção que temos da literatura e da poesia, e a partir dessa concepção ela é perfeitamente substituível, mas há um problema aí, como eu dizia, que é o problema do sentido, ou seja, o que faz sentido ou não. Para a máquina, nada faz sentido, por uma questão fundamental e que para nós é muito básica e evidente, que é o fato de ela não ter corpo, ou seja, não há corpo que faça parte do dispositivo do pensamento e do dispositivo do sentido e, portanto, dos limiares epocais.
Alguma coisa que você leu como produção dita literária da chamada IA lhe pareceu de boa qualidade?
— Não temos interesse em avaliar se uma obra literária encomendada à máquina pode ser feita de forma eficiente ou não, porque não consideramos que a literatura tenha a ver com isso. Do nosso ponto de vista, a literatura, assim como a política, tem a ver fundamentalmente com a indeterminação que atravessa as vidas e, fundamentalmente, com a possibilidade da estupidez, que é algo que a máquina não pode fazer, a máquina não pode ser suficientemente estúpida e falha, porque se sua máquina, se seu computador estiver com defeito, você o joga no lixo. Por outro lado, se você percebe que seu parceiro ou seus amigos têm algum tipo de falha, alguma fissura existencial, você não só não os joga no lixo, como também os ama.
A famosa afirmação de Borel-Cantelli diz que um macaco digitando de modo aleatório as teclas de uma máquina ou de um computador, infinitamente, escreveria, em algum momento, uma obra de Shakespeare. A IA para textos é uma versão ampliada e aperfeiçoada do “macaco infinito”?
— Acho que há um problema na ideia engenhosa do macaco apertando teclas infinitamente; na verdade, há dois problemas. Primeiro, eles não levam em conta um fato material muito importante, que é o fato de que o cérebro humano é uma interface necessária para a construção de um determinado pensamento simbólico e de uma determinada construção imaginária, ou seja, que existe uma constituição biológica que é parte necessária, mas não suficiente, porque nosso discurso não é biologista, mas, sim, materialista e, nesse sentido, acreditamos que existem elementos necessários para, como eu disse antes, a constituição do sentido.
Por outro lado, também não acreditamos em uma linguagem universal, não na ideia de que seria possível uma linguagem universal. Isso também é uma forma, é um dos tópicos, digamos, do imaginário do século XX, onde se diz que se aspira que exista uma espécie de linguagem universal onde, sob certa conceção humanista, toda a humanidade poderia convergir sem mal-entendidos e compreender-se e entender-se melhor, o que ignora uma característica fundamental, que é o fato de que não existe uma língua, mas sim línguas no plural, porque as línguas são fenômenos antropológicos situados, e não apenas antropológicos, diria eu, são fenômenos ecossistêmicos situados. Colocamos no livro, em algum momento, um exemplo típico dos antropólogos da música: os instrumentos de sopro surgiram nas alturas, por exemplo, no altiplano argentino; os instrumentos de corda surgiram nas margens e os instrumentos de percussão surgiram nas planícies porque, quando um instrumento de sopro, por exemplo, uma quena do norte argentino, soa, não é apenas uma pessoa, um músico, que toca, mas toda a paisagem que toca, o que significa que as línguas são fenômenos situados e territorializados, e que, portanto, não seria possível algo como uma linguagem universal. Não quer dizer que a língua, o pensamento, a criatividade não sejam fenômenos totalmente territorializados.
Poderíamos pensar que se trata simplesmente de chegar à combinação, em algum momento do infinito, porque não são somas de partes, mas, em todo caso, fazem parte de situações de unidades ordenadas por um eixo intensivo e não apenas por partes extensivas. É um pouco como diz Kant: a situação, o orgânico, o que nós consideramos que as unidades existenciais e de experiência significam que o todo está em cada parte, que em cada parte está o todo, que não há soma de partes, que não há agregação que possa constituir um todo. Isso é um divisor de águas em nossa época, em que há uma certa corrente da tecnociência contemporânea que pensa em termos agregativos, ou seja, que pensa que a vida se trata de partes agregadas. Acreditamos que existem unidades de experiência, unidades de existência que se ordenam por um eixo intensivo que está em cada parte que a compõe e que a constitui. Portanto, a língua e a invenção são o que são em virtude de graus de territorialização e em virtude de um eixo intensivo.
Dizer que o macaco será infinitamente o macaco na medida em que vive onde vive, que vive com quem vive e na medida em que sua vida está organizada em função de um determinado sentido, e que, claro, esses experimentos mentais podem ser lúdicos de alguma forma, podem forçar um raciocínio e, nesse sentido, são interessantes, mas insisto que não podemos cair na armadilha de reduzir o pensamento, de reduzir o vivo fundamentalmente a uma concepção agregativa, ou seja, essa é um pouco, me parece, a questão epistemológica fundamental a partir da qual olhamos para o fenômeno da irrupção digital e advertimos que as tecnologias digitais não são instrumentos, pela forma como irromperam na vida contemporânea e pela forma como nos hibridizamos, já pela promiscuidade da relação, que não é uma promiscuidade moral, claro, mas, sim, do funcionamento da relação com as máquinas, já estamos hibridizados, não temos uma concepção naturalista, queremos estar hibridizados com as máquinas e, em todo o caso, o desafio é ir em direção a formas de hibridização virtuosa, não colonizadas, esse é todo o desafio agora, porque dizemos que não é um instrumento a tecnologia digital porque estamos em um novo ambiente, em uma nova casa, e nós já não somos os mesmos, não somos os modernos que vivem em uma casa que não é nossa, mas estamos modificados e vivemos em uma casa tecnológica que não sabemos habitar.