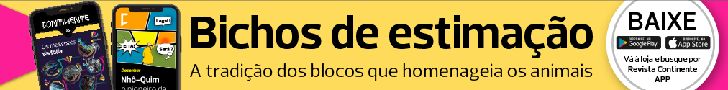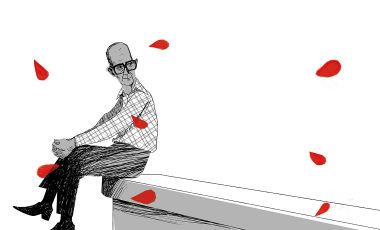Todos os 74 poemas de Pés fictícios são curtos. Excetuando-se o em prosa “Biblioteca de Babel (em ordem alfabética)”, não costumam ir além dos 14 versos. Vários textos não ultrapassam três linhas; outros se contentam com uma. A extrema economia de palavras não implica em abdicar do discurso e concentrar-se na imagem. Muito pelo contrário. Tanto uma quanto o outro estão presentes e se mesclam. Mas, na maioria das vezes, o dizer suplanta o dar a ver. Implica isto, por conseguinte, não em le parti pris des choses, mas no discorrer a respeito delas. Embora seja evidente o caminho de mão dupla: uma leve coisificação das palavras, uma densa verbalização das coisas. De um modo ou de outro, o discurso tem primazia acima da imagem. Neste aspecto, convém ficar atento a esta afirmação de Pierre Fédida:
“Diríamos então que o que chamamos de imagem é, por um instante, o efeito produzido pela linguagem em seu ensurdecimento abrupto. Saber isso implicaria saber que, tanto na crítica estética quanto na psicanálise, a imagem é parar a linguagem, o instante abismal da palavra”.
Dão-se, por assim dizer, nesse ‘instante abismal da palavra’, as insinuações de aforismos, paráfrases e paródias. Tudo mostra a relevância do discursivo. A metapoesia, a partir de uma retórica bem polida, protagoniza. Na verdade, não seria necessário ir tão longe para perceber que Pés fictícios é um livro sobre livros. Basta ler os títulos dos poemas: sublinham e sublimam grandes obras literárias e filosóficas da cultura ocidental. Neste aspecto, parece uma versão em poesia do que encontramos no romance peculiar de David Markson: A solidão do leitor. Semelhança pela atitude, mesmo que Roberta Lahmeyer nunca tenha ouvido sequer falar em Markson.
Pés fictícios exercita uma poesia menor, no sentido dado por T.S. Eliot. Os melhores são aqueles de uma bem-sucedida meditação sobre as coisas humanas e a existência. A partir dos seus elementos mínimos. Inclusive quando representados em palavras como “infinito” e “eternidade”. Na linguagem desse livro, encontra-se algo como uma corporificação metafísica.
O termo pé não se refere a algo do corpo humano tão somente. Congemina a metáfora, a alegoria. Nada surpreendente, levando-se em conta o exposto no monóstico “O acontecimento”: “Eles avançam em direção ao ilimitado metafórico de seus horizontes”. Portanto, “pé” não remete à metáfora métrica, concreta na sua abstração, mas à interrogação e exclamação sobre as coisas, abstratas na sua concretude.
O uso arcaico do termo pé se associa à música e à dança. Antes de invisibilizar-se, foram os pés‘contadores’ concretos. Algo parecido ocorreu com os dedos. A ideia de ‘digitar’ e ‘datilografar’ implica visibilizar o abstrato pelo concreto, o corpo-alma-espírito-mente-pensamento no gesto formando uma unidade. Cabe inverter essa regra, e nela se insere a proposta de Pés fictícios. A metonímia não quer vencer a metáfora e, sim, fundir-se nela. Por mais importante que seja a reiteração de certos vocábulos, é na força da semântica que se trabalham os fios engendradores do livro.
Paradoxalmente, a pós-modernidade pode ter nascido antes da pré-modernidade e da modernidade. Embora não construa de modo explícito uma ‘arte poética’, Pés fictícios tem sua base inconsciente e consciente em autores que o fizeram, sejam arcaicos e clássicos, como Arquíloco de Paros e Horácio. Ou, então, pós-românticos e modernos como Baudelaire. Suas Flores do mal e os seus Pequenos poemas em prosa são explicitações de uma poesia autoconsciente. Como uma forma de crítica literária, estética, filosófica. Veja-se este trecho do seu famoso poema “Correspondências”:
“Ayant l’expression de choses infinies
Comme l’ambre, le musc, le benjoin et l’encens
Qui chantent les transports de l’esprit et de sens”.
O livro Pés fictícios, em quase sua totalidade, se empenha em expressar “as coisas infinitas” (não por acaso, a palavra infinito aparece tantas vezes no livro). Também busca cantar “os transportes do espírito e dos sentidos”. Há, por conseguinte, algo de simbolista (sem musicalidade e vagueza) e de pré-moderno na pós-modernidade atemporal desses versos de Roberta Lahmeyer. Construídos como se fossem botes de naufrágios. Tempos e espaços emasculados.
É virtude de Pés fictícios uma dança pensada, imaginada e sonhada pela exaltação das palavras e dos seus sentidos. Mesmo sem levar-se em conta que a expressão pés fictícios poderia remeter a ‘membro fantasma’. O que não se separa das conexões cerebrais com uma projeção: a da ausência. Um quê de melancolia e de abismo que perpassa todo o volume. Lições de abismo bem diversas daquelas trazidas por um autor hoje esquecido: Gustavo Corção.
No jogo que realiza Roberta Lahmeyer predomina uma poética fragmentária, de mise en abyme elegante. Não se estranha, portanto, a menção ao abismo no livro, e, menos ainda, que haja duas citações de Mallarmé. Duas de suas ‘pedras de toque’. Uma: “A carne é triste, e eu li todos os livros”. Outra, posta na epígrafe, também se refere a livro.
No caso dessa última, vale a pena recuperar o contexto original da ideia de culminação em livro presente na frase de Mallarmé tão citada. Na verdade, trata-se de uma citação indireta, pois está mencionada numa enquete de Jules Huret. É importante entender a fonte fundamental da frase, pois, na absoluta maioria das vezes, vem solta, como se de um aforismo se tratasse. A frase está no livro Enquête sur l’évolution littéraire, de Jules Huret, publicada em Paris, em 1894. Além de Mallarmé, figuram no inquérito os irmãos Goncourt, Renan, Zola, Maupassant, Huysmans, Anatole France, Leconte de Lisle, Catulle Mendes, Coppée e vários outros. Lembra Huret:
“Antes de ir embora, perguntei ao Sr. Mallarmé os nomes daqueles que, em sua opinião, representam a evolução poética atual. – ‘Os jovens’, respondeu ele, ‘que me parecem ter feito um trabalho magistral, ou seja, uma obra original, não ligada a nada anterior, são Maurice Móreas, um cantor encantador, e, acima de tudo, aquele que até agora é o mais forte, Henri de Régnier, que, como de Vigny, vive lá embaixo, um pouco distante, em retiro e silêncio, e diante de quem me curvo com admiração. Seu último livro, Poèmes anciens et romanesques, é uma obra-prima pura.’ ‘Basicamente, veja’, disse o mestre, apertando minha mão, ‘o mundo foi feito para um belo livro’”.
A menção a Mallarmé mostra uma das ‘afinidades eletivas’ de Lahmeyer. Não a faz, no entanto, caudatária do francês. Há pontos bastante diversos entre sua poética e a daquele. A começar pela musicalidade – quase inexistente em Pés fictícios – e o modo como trabalha os signos e o significado. Neste aspecto em particular, outra diferença: na famosa anedota de Mallarmé a Degas: a poesia não se faz com ideias, mas com palavras. Na prática, Lahmeyer não opõe uma coisa à outra. Apropria-se de títulos de livros alheios como ‘mote’ para sua ‘glosa’.
As palavras nunca são, em Pés fictícios, como objetos dotados de total plasticidade e vistas como coisas com vida própria. Não é a “música acima de tudo” o que realiza esse livro. O sentido e o significado existem, diferentemente da música, que prescinde deles. Mesmo adaptando-se e validando-se o dito de Rimbaud sobre o ‘que quer dizer’: literalmente, e em todos os sentidos.
A associação a Mallarmé tem a ver com a autonomia dada à Poesia, ao universo da linguagem, das ideias, não às palavras como coisas em si. Quer dizer: não existe uma subserviência à influência, mas uma referência/reverência aos livros – não ao Livro –, que é a tônica de Pés fictícios. O elogio à ideia de texto como construção, ou, melhor, como urdidura. Deste modo, trata-se não tanto de pensar em pedra sobre pedra, mas em fios tecidos.
Desconstrução que constrói, construção que descontrói: a dialética desse Pés fictícios. Sua ‘ficção do interlúdio’, para usar um título de Fernando Pessoa – usado, aliás, como título de um poema de Lahmeyer.
Linguagem comentada, descrita, celebrada. No exercício de Narciso do metapoema o abismo plasma uma alegria extática de fascínio pelo fogo-fátuo. Seja como for, não se busca uma poesia pura, hermética, obscura ou que se baste a si mesma. Consiste mais em ‘filosofar’ a respeito, sem ‘poetizar o poema’. A palavra entende-se apenas em parte como coisa, sem, paradoxalmente, coisificar-se. Uma parte do seu encanto vem disto, e de, por dentro, habitar as inquietações e questionamentos sobre a linguagem e as palavras, presentes na cultura ocidental desde, pelo menos, o Crátilo, de Platão. Diálogo esse tão belamente glosado e sintetizado por Jorge Luis Borges:
“Si (como afirma el griego en el Cratilo)
el nombre es arquetipo de la cosa
en las letras de ‘rosa’ está la rosa
y todo el Nilo en la palabra ‘Nilo’.”