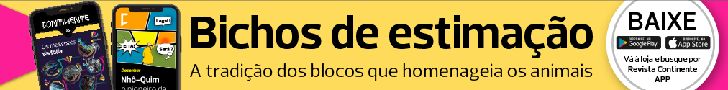Em 2005, o poeta César Leal reuniu, em dois volumes, ambos intitulados Dimensões temporais na poesia, a sua produção crítica e intelectual. O conjunto dessa obra, que encerra mais de mil páginas, permite-nos dimensionar o real valor dos artigos e ensaios que ele, César Leal, escreveu ao longo de meio século.
“Crítica pública”, era assim que ele denominava a sua crítica literária (em sua grande maioria, versando sobre poesia), de ideias e de cultura. Crítica essa veiculada, a maior parte dela, em revistas e jornais. Nesses dois volumes, César caminha da literatura às artes plásticas, das obras memorialísticas às históricas, da filosofia à história cultural, e, coisa rara entre os homens das humanidades, ele, em vários dos seus textos, articula esse vasto campo das Humanas às chamadas Ciências da Natureza. Em particular, a Física.
Toda essa vasta e erudita produção intelectual, que teve início na década de 1950, inscreve César Leal em uma tradição de escritores que não só exerceram o seu ofício como poetas, romancistas, contistas ou novelistas, mas também que se voltaram para a reflexão da linguagem artística (em particular, a literária). São exemplos, no Brasil, Machado de Assis, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Joaquim Cardozo, os irmãos Augusto e Haroldo de Campos, Silviano Santiago, Jorge Wanderley e Sebastião Uchoa Leite. Na América Latina, podemos lembrar, entre outros, os nomes de Octávio Paz, Lezama Lima e Jorge Luis Borges.
Em uma época em que as especializações nos aprisionam nas quatro paredes maçônicas da nossa área de conhecimento (tornando-nos embrutecidos para outros saberes), acredito que ler ou revisitar os ensaios de César Leal é um alento: seja pelo olhar arguto com que ele analisa, interpreta e predica a obra em estudo, seja por seu sólido e erudito conhecimento sobre literatura.
A crítica de César Leal também nos redime de um certo pudor que se instalou na Academia: o de ter receio em louvar quem de fato deve ser louvado. Analisando a “eficácia estética” e o “potencial semântico” dessa ou daquela obra, César, sem abandonar um tom não raras vezes didático ou mesmo professoral, ensina-nos porque tal obra é representativa do pensamento humano, porque certos livros perduram no tempo e, principalmente, porque não se deve repetir os erros que certa crítica literária (seja ela acadêmica ou não) incorre: o de “(...) escrever apenas sobre livros novos, como se a verdade não fosse antiga”.
Passeando entre a literatura clássica e a literatura moderna ou contemporânea, César, ao tempo que revelou a poesia e a prosa de toda uma geração de autores pernambucanos – a chamada Geração de 65 –, também nunca deixou de se voltar para a análise dos versos de um T. S. Eliot, de um Jorge de Lima, de um William Blake, de um Dante Alighieri ou de um Joaquim Cardozo. Se, por um lado, essa preocupação em declinar, enquanto crítico literário, sobre o conjunto das obras que constituem a literatura ocidental e ocidentalizada explicita um vício profissional (no caso, o do professor de literatura da graduação e da Pós-Graduação em Letras da UFPE), por outro, ele, César Leal, antes de ser professor, crítico literário e romancista, era, antes de tudo, alguém que se definia como um poeta. E, como tal, ele vai afirmar que, “ao escrever sobre livros”, não se sentia “mais do que um ensaísta, desobrigado, portanto, de executar tarefas próprias dos críticos profissionais” (um detalhe: ele também considerava a crítica como “uma irmã da poesia”).
O fato é que se não há como dissociar o César crítico e romancista do César poeta, também não há como separar o crítico, o romancista e o poeta do professor de literatura. Eles se interpenetram. E nesse interpenetrar, ele, enquanto crítico e professor, ao escrever ou falar em sala de aula na universidade sobre esse ou aquele poeta, estava, na verdade, escrevendo e falando sobre os poetas que construíram ou estavam construindo a sua sensibilidade intelectual, o seu modo de ser e estar no mundo e, principalmente, sobre a sua própria poesia.
Dentro dessa sensibilidade intelectual, dois pontos devem ser observados.
Primeiro: apesar de defender o estudo das chamadas ciências “duras”, por acreditar “que o mundo mudou no século XX, ao ruir o universo de Euclides e a física clássica, construída quase toda por Newton, diante do novo universo de quatro dimensões criado por Planck, Einstein, Heisenberg, Schrödinger, Dirac e muitos outros físicos tão fortes quanto eles”, César sempre lembrava que, como poeta, ele nunca deixou de “reconhecer a superioridade do mito e do sonho quando se é obrigado a colocar de lado a experimentação e a verdade para romper ‘os limites da expansão’”.
Segundo: César sempre pautou as suas aulas e a sua crítica literária por uma abertura de escolas teóricas. Como ele próprio escreveu: “um otimismo quase ilimitado deu a certos estudiosos uma falsa noção dos poderes”. Mesmo reconhecendo que os métodos trazidos pelas teorias da literatura “contribuíram muito para a perfeição dos meios empregados para o conhecimento da literatura”, ele, César, também assinalava que todos eles “revelaram suas falhas, seus subuniversos de mistificações e enganos”.
No ano em que comemoramos 100 anos de César Leal, ler ou reler Dimensões temporais na poesia é continuarmos aprendendo com o poeta, o professor, o romancista e o crítico literário. Ler a sua crítica é nos reencontrarmos com um dos maiores críticos literários de sua geração, um crítico que a partir do Recife (o Recife que ele adotou para morar, trabalhar, casar e construir a sua obra) leu de maneira arguta a literatura do seu tempo e de outros tempos não vividos, mas intelectualmente sentidos.
Anco Márcio Tenório Vieira é professor do Programa de Pós- Graduação em Letras da UFPE