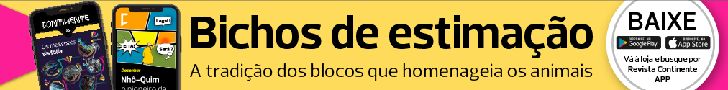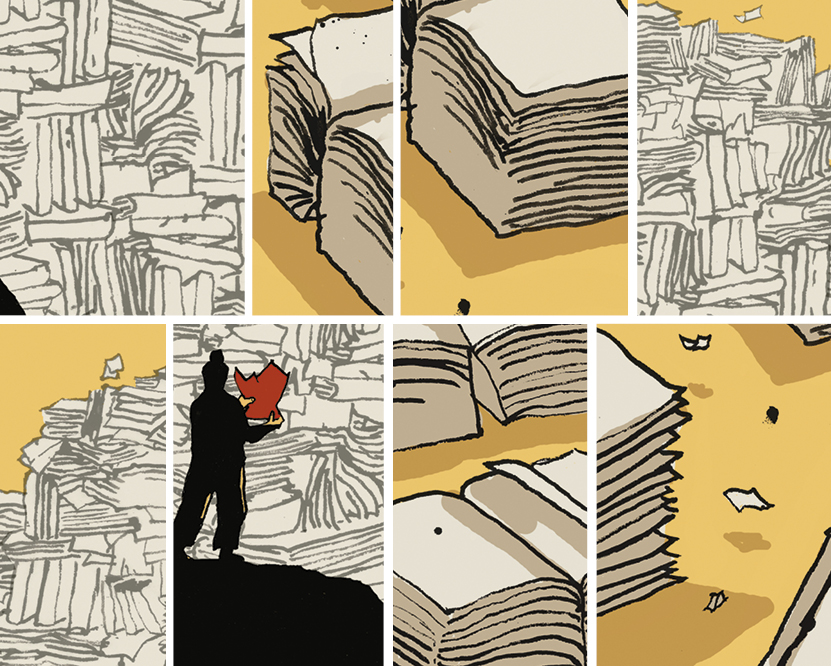
Em dezembro de 2023, o Prêmio Jabuti exaltou uma tradução coletiva. Um pouco antes, na Festa Literária Internacional de Paraty - Flip, o tema da reescrita ganhou destaque em mesas oficiais e também na programação paralela da Feira Literária. No segundo semestre do mesmo ano, foi criado um coletivo para discutir o ofício e a profissionalização da área. Estaria a tradução vivendo uma nova fase no mercado editorial brasileiro?
Quando traduziu Edward Lear, autor de literatura nonsense, Dirce Waltrick do Amarante teve que entender o que era ou não arbitrário na obra dele. Nos limeriques, poemas curtos de métrica rígida, ela descobriu que as localizações geográficas citadas pelo autor eram sempre reais, mas completamente arbitrárias. Ao mesmo tempo, os adjetivos, que pareciam completamente arbitrários, tinham a função de perturbar o leitor – qualificando algo ou um acontecimento de alguma coisa completamente diferente daquilo que se esperava deles. Ao final, ela reinventou em português a métrica desses poemas.
“Como não sou tradutora profissional, posso escolher o que traduzir”, diz a professora da Universidade Federal de Santa Catarina. Essa vantagem permite que Dirce possa dedicar mais tempo para se aprofundar no autor ou na autora que vai traduzir, suas linguagens e características específicas de suas respectivas escritas. “Também gosto de trabalhar em grupo, porque as discussões que surgem e as escolhas dos parceiros ajudam a encontrar soluções para o ‘intraduzível’”, complementa. Em dezembro de 2023, Dirce foi agraciada com o Prêmio Jabuti na categoria de melhor tradução por Finnegans Rivolta (Iluminuras), de James Joyce, justamente por um trabalho coletivo conduzido por ela. “Com certeza, o fato de o Jabuti ter premiado uma tradução coletiva significa um bom estímulo para novas experiências nessa área. Acredito que um tabu foi quebrado”, avalia.
Um pouco antes, em novembro passado, a tradução também foi destaque na Flip – tanto na programação oficial quanto na paralela – em um movimento promovido principalmente por mulheres. Lubi Prates ficou exultante quando soube que estaria ao lado da poeta canadense Dionne Brand na mesma edição da Festa Literária. “Tentei me lembrar de outras edições em que escritoras e tradutoras estiveram juntas e não me veio nenhuma à mente”, conta. Poeta e tradutora de nomes como Maya Angelou e Audre Lorde, Lubi traduziu muitas autoras latino-americanas vivas, da geração dela, com quem pôde conversar durante o processo, tirar dúvidas e, posteriormente, até participar de eventos com elas. Mas Dionne, que ela traduziu do inglês, foi a única com quem isso aconteceu. “Inclusive, comentei com a Dionne o quanto era importante para mim ver uma mulher negra e lésbica vivendo bem, envelhecendo… Foi uma experiência enriquecedora”, conta.
Novos tempos?
A tradução sempre foi necessária no mercado editorial. Especialmente no Brasil, um país colonizado culturalmente. Trata-se de uma atividade que desempenha papel fundamental no desenvolvimento das literaturas nacionais e tem uma significativa influência formativa. Mas há quase um consenso na área de que, neste momento, de modo geral, existe uma valorização maior do ofício.
Fabiano Curi, diretor-executivo da Editora Carambaia, lembra que, há algumas décadas, não era incomum encontrarmos edições que sequer mencionavam o tradutor, assim como eram numerosas as obras que não haviam sido traduzidas diretamente do idioma original. “O leitor mais experiente não aceita mais isso. Ele quer saber quem traduziu e avalia de forma crítica a qualidade da tradução”, explica. Todos os livros da editora, desde que foi lançada, há quase 10 anos, levam o nome do tradutor na capa. “Não se trata apenas da valorização desse trabalho, mas de apresentar ao leitor uma informação importante sobre o livro que ele pretende ler”, explica.
Principalmente nos últimos anos, o Grupo Autêntica credita o tradutor também como o organizador da obra, dando destaque, por exemplo, para as notas que ele faz, deixando claro que existem muitas escolhas neste processo criativo, como a sugestão de um prefácio ou um posfácio, por exemplo.
Ter o nome de quem traduziu na capa ou na quarta-capa está ficando mais comum, assim como o tema tem sido mais discutido em clubes de leitura. Parte considerável dos canais literários discute, por exemplo, a escolha de qual edição está sendo lida coletivamente. É o caso de projetos como o Literatura Inglesa (@literaturainglesa), da pesquisadora Marcela Castelli, ou o Literature-se (@blogliteraturese), de Mel Ferraz, que é mestranda em Letras.
Isso facilita que um público mais amplo – fora da academia, onde a discussão sobre o tema está num patamar mais avançado – tenha acesso às minúcias que envolvem a profissão. “Nao faz sentido pensar a história da literatura brasileira sem pensar também a história da tradução. Não é que, agora, ela está em expansão. A questão é que, agora, há um maior reconhecimento do papel de tradutores e tradutoras como agentes do processo da recepção dos livros. Vemos isso em premiações, por exemplo. Você premia o escritor, mas também quem traduziu”, explica Maria Rita Drumond Viana, tradutora e professora de literatura na Universidade Federal de Ouro Preto.
Pequenas notáveis
Entre os fatores que impulsionam esse novo momento são citados o surgimento e crescimento de pequenas editoras. O acesso às mais diversas temáticas na Internet resultou em uma demanda cada vez maior por livros especializados, que, por sua vez, acompanham as discussões sobre representatividade. “Pessoas negras estão sendo chamadas para traduzir pessoas negras. E pessoas trans para traduzir pessoas trans. Isso não se fazia no passado. Não se pensava nas dimensões políticas de quem estava fazendo o quê. A cobrança vem do público: por que uma pessoa branca está traduzindo bel hooks? É o ponto em que a pesquisa está mais alinhada com o que se faz na academia”, elucida be rgb, que escreve, traduz, revisa e oferece a oficina escritos. Seu foco são os estudos feministas, trans e queer.
A impressão digital também possibilitou uma produção mais econômica, de tiragens menores e, ao mesmo tempo, com um maior cuidado no acabamento – menos viável em grandes produções. Com edições caprichadas, as editoras independentes atraíram novos autores e também novos públicos.
Público exigente
O leitor cada vez mais criterioso é outro ponto importante nessa conversa. Hoje, ele deseja obras traduzidas diretamente do idioma original, por exemplo. “Isso é ótimo, mas ao mesmo tempo demanda da editora ter de se desdobrar para encontrar um bom tradutor de um idioma pouco conhecido e estudado no Brasil. Ou seja, é um desafio”, compartilha Fabiano, diretor-executivo da Carambaia. No momento, há uma safra de obras coreanas nas livrarias, ainda impulsionadas pelo sucesso do k-pop e do k-drama no entretenimento. E resiste em ascensão o interesse pela literatura japonesa, que agora traz à cena cada vez mais autoras contemporâneas, antes desconhecidas por aqui.
Reconhecida por versões para o português de obras de Haruki Murakami, Rita Kohl percebe uma demanda cada vez maior por traduções diretas do japonês. Ela acabou de traduzir Onde vivem as monstras, de Aoko Matsuda (Grupo Autêntica). “Algumas editoras me escreveram no fim do ano pedindo a tradução de um livro para maio. Eu tive que declinar. Tenho outros trabalhos na fila”, diz. Quando pediram uma indicação de uma pessoa experiente, também adiantou que não havia ninguém disponível. Afinal, todos que ela conhece estão trabalhando em outros projetos. “É um privilégio, na verdade, porque isso me permite escolher e negociar”, acrescenta. Tradutora, intérprete e pesquisadora na área de tradução e literatura japonesa, Rita acredita que o fato do espaço entre o tradutor e o leitor ter se encurtado nos últimos anos, também facilita esse olhar mais atento a quem traduz. Na pandemia, Rita fez uma conta no Instagram e ficou surpresa com a recepção dos leitores. Essa proximidade, consequentemente, influencia na percepção do trabalho dela, mas também da classe como um todo. “Ao poder falar abertamente do trabalho que fazemos, passamos a existir. Nossa presença muitas vezes não era dada no objeto-livro sozinho”, comenta.
Dinheiro no bolso
“Podemos dizer que estamos, sim, ganhando uma consciência e uma percepção diferentes da tradução nos últimos tempos. O livro como um todo está ganhando força. A tradução vem junto com essa onda”, diz a escritora, roteirista e tradutora Leda Cartum. Junto dessa consciência, vem uma crescente vontade de alterar as condições relacionadas a esse trabalho de escrita. A luta por visibilidade tem também a ver com uma luta por reconhecimento financeiro. “O trabalho do tradutor ainda é precário. Se você for contar as horas de dedicação que você precisa empenhar para traduzir e considerar o quanto recebe por isso, a conta não fecha”, explica a autora.
A principal queixa é: ainda que o mercado editorial tenha se profissionalizado, crescido e se internacionalizado, a tradução mantém-se estagnada. Há um mercado vivo, pulsante. Segundo Debora Fleck, tradutora, cofundadora e sócia da Pretexto – que oferece cursos de tradução –, a praxe é assinar contratos com cláusulas abusivas. “Cedemos direitos autorais eternamente. E a editora pode fazer o que ela quiser. Vender para qualquer meio, inclusive os bens que vierem a existir em todos os territórios do mundo. Isso significa que o seu texto pode ser vendido, virar um filme, fazer um sucesso estrondoso e não trazer nenhum retorno para você”, conta.
Para enfrentar esse cenário que se repete, no segundo semestre de 2023, ela e um grupo de tradutoras literárias se juntaram para lançar oficialmente o projeto Quem Traduziu. O objetivo é refletir os pormenores da tradução, além de fortalecer os profissionais da área. A primeira barreira vencida pelo coletivo foi a pauta da remuneração, o que envolve, por exemplo, o valor da lauda – medida utilizada para estimar o valor do serviço de tradução. “A quem interessa que esse assunto seja um tabu?”, questiona Debora. “Se a informação circula de forma democrática, o mercado todo tem a ganhar”, avalia.
Os direitos da reescrita
A advogada Deborah Fisch Nigri esclarece que o tradutor é titular de direitos autorais sobre a respectiva tradução. Isso significa que, ao realizar a tradução de uma obra literária original, o profissional cria uma obra derivada. Logo, tratando-se de um trabalho criativo e original, juridicamente, a tradução é uma obra derivada protegida pela lei de direitos autorais. O tradutor não altera os elementos da obra original, mas, como autor de um texto traduzido, expressa de sua maneira a forma para refletir os elementos que correspondam ao idioma traduzido através de suas habilidades. Assim, o tradutor detém direitos de autor sobre a obra traduzida.
A lei estabelece que haja a cessão dos direitos de tradução ao editor. “O autor da obra traduzida deve receber uma compensação financeira pela prestação dos serviços de tradução e pela respectiva cessão de direitos. E não há empecilho em cobrar royalties. É possível pleitear e (re)negociar contratos com a editora”, explica. Além disso, reforça que está previsto em lei que, para cada exemplar de uma obra traduzida, o editor deve mencionar o título original e o nome do tradutor, tudo em conformidade com a Lei de Direitos Autorais vigente.
Por enquanto, o coletivo Quem Traduziu vê pequenos avanços, como negociações pontuais. E corrobora que o conhecimento sobre os próprios direitos traz confiança. A mudança ainda é pequena diante do grau do debate no mundo acadêmico. Mas “caiu uma ficha de que, no fim, somos escritoras. Não é muito óbvio, mas deveria ser. Porque não é uma prática que envolve apenas técnica, mas muita criatividade. Nunca temos apenas uma solução. É preciso ter apego aos detalhes. É um trabalho de obsessão”, argumenta Debora Fleck.
Enquanto nichos de artesãos de alta qualidade se somam e ganham força coletivamente, avança na contramão uma onda avassaladora de automatização. E em meio à crescente criação de textos produzidos por várias modalidades de Inteligência Artificial, a precarização do ofício do tradutor corre o risco de ganhar novos obstáculos. Mas este é assunto para outra pauta. Por enquanto, prevalece outro elemento-chave da profissão: o gosto e o prazer de reescrever. “Transcende o aspecto meramente pragmático do trabalho; abre portas a uma dedicação de outra natureza: é o que às vezes chamo de ‘tradução afetiva’. Faz-se por amor à palavra e também, digamos, por humildade perante uma obra que nos envolve e nos sobrepuja: o diletantismo na verdadeira acepção do termo”, opina Denise Bottman. Ela é tradutora de um grande número de livros de áreas como a história da arte, teoria e história literária, ensaios sobre cultura, biografias e romances. “Felizmente, são muitos os profissionais na área de tradução lítero-humanística (a que conheço melhor) que preservam um bom grau de diletantismo nesse sentido estrito. E, felizmente, há editoras que abrigam de bom grado esse diletantismo profissional ou esse profissionalismo diletante”, finaliza.
Natália Albertoni é jornalista cultural e pós-graduanda em Escrita de Ficção. Criou a série de microfilmes Instruções para saciar pequenos prazeres (2020, Hysteria) e também integrou a antologia As cidades e os desejos (Aliás, 2018).