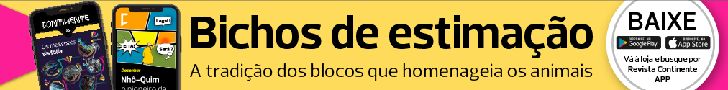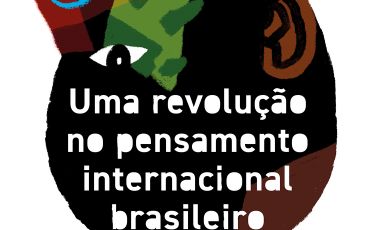“Se ao menos os meus manuscritos durarem tanto quanto eu, é tudo o que eu quero. Eu os faria enterrar junto comigo, como um selvagem faz com o seu cavalo”, escreveu Flaubert, em carta a Louise Colet, datada dos 3 de abril de 1852. O historiador Roger Chartier – de quem eu extraí a citação – assinala que este cuidado só aparece a partir do século XIX. É como se por um surto de autoapreciação e exibicionismo os escritores passassem a considerar que o conjunto do material acumulado durante o seu processo de criação – as várias versões de manuscritos, as anotações de trabalho, as correspondências associadas formassem um todo, um mesmo espaço histórico e estético que deveriam ser conservados e apreciados.
Essas práticas se tornaram progressivamente matéria de atenção para os estudiosos de literatura, assim como vieram a receber a atenção de um público que se impregnara de uma cultura museológica, também novecentista, que passa a dar presença material, e não apenas simbólica, a manifestações de prestígio social, histórico ou cultural. Desde os começos da modernidade, a memória encarna-se também nos objetos, e o auge do individualismo ocidental (o fim do século XVIII) é, ao mesmo tempo, a época da institucionalização da coleção em museu.
O encantamento produzido pelo contato com as fontes primárias, documentos, papéis, fotografias, capazes de revelar parcelas desconhecidas ou até então invisíveis da história e do mundo social passa a ser matéria comum em estudos sobre a literatura. Esta sensação é fortalecida quando lidamos com correspondências, material que foge aos rigores institucionais da produção documental, às características seriais e ao formato burocrático e tem natureza muitas vezes personalíssima, conferindo a impressão de que se está tomando contato com frações muito íntimas do passado e de seus personagens. O acesso a estes documentos tem a força de simular o transporte no tempo, a imersão na experiência vivida, de forma imediata.
Para a crítica genética, dedicada a estudar o processo criativo do que foi escrito à escrita em si, da estrutura ao processo, do trabalho à sua gênese, os registros múltiplos do processo criativo, esboços e planos do trabalho, notas e documentos, séries de rascunhos, provas corrigidas, mantidos geralmente pelo próprio autor, tornam-se de importância fundamental.
Em 11/06/1972, no Jornal do Brasil, Carlos Drummond de Andrade escrevia:
“Velha fantasia deste colunista (...) é a criação de um museu de literatura. (...) Temos museus de arte, história, ciências naturais, carpologia, imprensa, folclore, teatro, (...) e de literatura não temos. (...) Alguns arquivos particulares, como os de Plínio Doyle e João Condé, encerram preciosidades no gênero. Mas falta o órgão especializado, o museu vivo que preserve a tradição escrita brasileira, constante não só de papéis como de objetos relacionados com a criação e a vida dos escritores.”
O texto fazia parte de um movimento conspiratório, por assim dizer, liderado pelo poeta, pelo colecionador Plínio Doyle e encampado por Américo Jacobina Lacombe, então presidente da Fundação Casa de Rui Barbosa, onde, poucos meses depois, em 28/12/1972, inaugura-se o Arquivo Museu de Literatura Brasileira.
O Guia do acervo do Arquivo-Museu de Literatura Brasileira, preparado por Eliane Vasconcellos e Laura Regina Xavier, indica que a instituição possui, hoje em dia, 152 arquivos de escritores que se caracterizam por reunir material acumulado de maneira “natural e orgânica” nas mãos de seus titulares, um conjunto que compreende autores de épocas e escolas variadas. Entre os arquivos destacam-se o de Drummond, que o doou por ocasião da inauguração, e os de José de Alencar, Cruz e Souza, Gonzaga Duque, Salvador de Mendonça, Clarice Lispector, Pedro Nava, Manuel Bandeira, Vinicius de Moraes, Cornélio Pena, Ribeiro Couto, Augusto Meyer, João Cabral de Melo Neto e Rubem Braga.
Paralelamente, AMLB reúne conjuntos documentais coletados por terceiros de maneira aleatória ou idiossincrática. Tais documentos não se caracterizam como arquivos, mas, sim, como coleções. É o caso da Coleção Machado de Assis, Capistrano de Abreu, Mário da Silva Brito, e muitos outros, num total mais de 800 titulares.
O museu também possui em torno de 2.000 objetos museológicos, reunidos por titulares e classificados com base no Thesaurus para acervos museológicos: objetos pessoais, mobiliário, insígnias etc.
Como pesquisador tenho trabalhado sobretudo com as cartas encontradas nesses arquivos. Na primeira metade do século XX, anterior à telefonia interurbana, quando a vida literária, antes concentrada quase exclusivamente na Corte, começava a tomar formas significativas em outros centros urbanos, os modernos vão construir uma vasta teia de correspondência.
“Mando-lhe os versos que fiz a pedido do Gilberto Freyre, pernambucano inteligentíssimo do Recife, para o álbum comemorativo do centenário do Diario de Pernambuco (...) Saudades a você e lembranças a Menina.”
Escreveu Manuel Bandeira a um amigo no final de uma carta de abril ou maio de 1925. O amigo era o poeta Ribeiro Couto que, à época, exercia o cargo de delegado de polícia em São Bento de Sapucaí, município de São Paulo. Couto casara-se no início daquele ano com Ana Pereira, a quem chamava de “Menina”. Os “versos” eram do poema “Evocação do Recife”, publicado pela primeira vez aos 7 de novembro de 1925, no álbum comemorativo que ganhou o título de Livro do Nordeste.
Bandeira tinha 39 anos e Gilberto apenas 25. Este último voltara dois anos antes ao Recife de uma temporada de estudos nos Estados Unidos e escrevia na imprensa artigos para o Diario de Pernambuco, onde divulgava o que aprendera no exterior e torcia o nariz diante da produção nacional. Ao ler o poeta, alumbrou-se:
“Sente-se nos versos do poeta pernambucano, como em certas páginas de Proust, um homem em que a emoção da doença aproximou da alma. Daí talvez a sua voz baixa: por ser a de um homem perto da alma.”
Gilberto Freyre vai então apresentar Bandeira, o “imagismo”, escola poética americana teorizada por Amy Lowell. Simplificadamente, os imagistas recomendavam na elaboração de um poema: apresentar uma imagem; não lidar com generalidades, mesmo se representadas por palavras ou termos magníficos; produzir uma poesia dura e clara; nunca obscura ou indefinida. E, finalmente, afirmavam que a redução ao essencial é o próprio da poesia.
Anos depois, Gilberto escreveria:
(...) “Um daqueles brasileiros – digo-o um tanto ancho de vaidade ao recordar que em livros dados a mim por Amy Lowell – que, por meu intermédio, se aproximaram da new poetry em língua inglesa foi Manuel Bandeira.”
Ao que parece, Manuel Bandeira experimentou uma identificação imediata com o que propunha aquele grupo de poetas americanos e a poesia que vinha escrevendo naquele momento. Veja-se assim, por exemplo, o poema “Pensão familiar”, escrito em 1925:
“Jardim da pensãozinha burguesa.
Gatos espaçados ao sol.
A tiririca sitia os canteiros chatos.
O sol acaba de crestar os gosmilhos que murcharam.
Os girassóis
amarelo!
resistem.
E as dálias, rechonchudas, plebeias, dominicais.
Um gatinho faz pipi.
Com gestos de garçom de restaurant-Palace
Encobre cuidadosamente a mijadinha.
Sai vibrando com elegância a patinha direita:
– É a única criatura fina na pensãozinha burguesa.”
A enumeração de imagens descritas vem acompanhada com uns poucos adjetivos e adereços: um diminutivo, o estado de uma flor, uma cor que recebe uma exclamação, a palavra familiar, no título acolhendo um jardim em uma tarde preguiçosa e pequeno burguesa. O termo plebeia atribuído a uma dália reforça o aspecto humilde, sem modos do ambiente aconchegante. Por ironia, apenas um gatinho comporta-se com esmerada elegância, inatingível inclusive por nós, fisgado pela melancólica e tão palpável construção de um quadro urbano de quase 100 anos atrás.
O amor do detalhe, o olho para a pequenez que transforma o sentido e empresta gozo e importância à “coisa sem importância mesmo” (como ele diz em uma de suas cartas) é uma das marcas da poesia de Bandeira. Encanta-lhe surpreender e ser surpreendido nesses achados. Encanta ao pesquisador perseguir este seu propósito no emaranhado de sua correspondência, em ritmo e leveza de uma conversa entre amigos quase em tempo integral. E, penhorado, agradece aos arquivos.