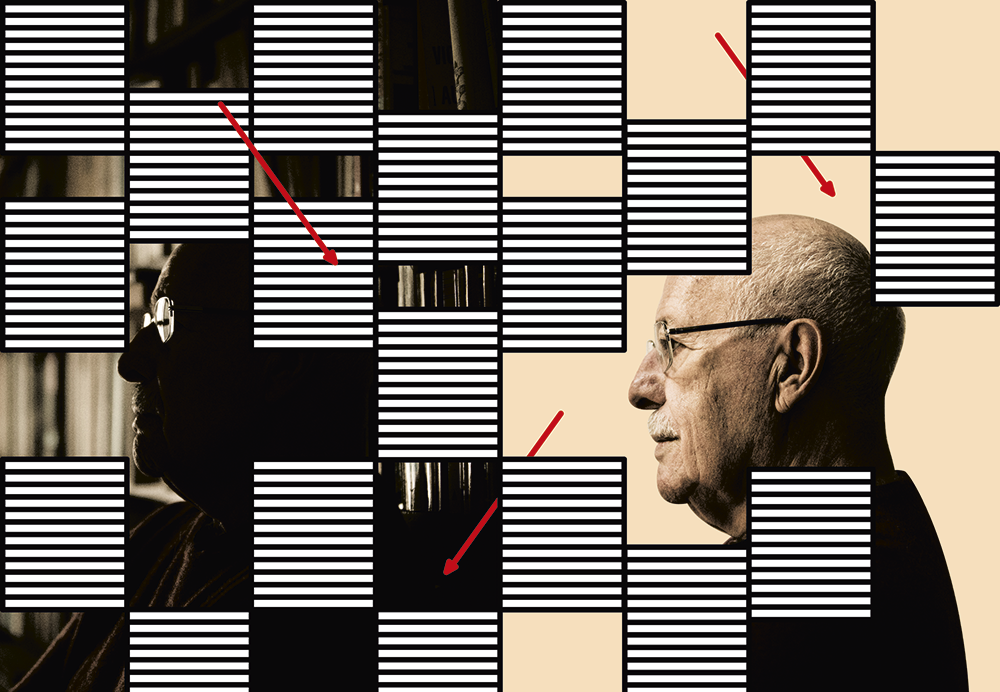
Nota da edição: Publicado em duas partes no Pernambuco (edições de maio e junho), este ensaio inédito de Silviano Santiago aqui segue na íntegra, com as duas partes reunidas.
***
Em minha obra, há um subconjunto de três romances que, do ponto de vista temático, vem sendo classificado como “biografia de artista”. Dois romancistas brasileiros clássicos, Machado de Assis e Graciliano Ramos, e um notável dramaturgo e poeta francês, Antonin Artaud, são os respectivos protagonistas. Minha figura física e intelectual comparece nas três narrativas e atua como interlocutor de cada um deles, embora eu esteja praticamente invisível no primeiro em data dos romances, um diário íntimo inventado, narrado e escrito na primeira pessoa por Graciliano Ramos. Meu protagonismo como interlocutor se salienta nas duas narrativas seguintes.
Destaco os títulos dos três romances, na ordem de publicação: Em liberdade em 1981, Viagem ao México em 1995 e Machado em 2016. Há uma diferença de 14 anos entre a impressão do primeiro e a do segundo, e de 21 anos entre a do segundo e a do terceiro. Portanto, o possível leitor terá de os pinçar no conjunto de minha obra.
Espero demonstrar que a classificação dos romances, pela saliência do artista como protagonista, é só em parte correta. Desde já, observo que o realce a ser singularizado nas tramas biográficas é o curtíssimo transcurso de tempo vivido pelo protagonista. O leitor descobrirá que tem em mãos apenas um recorte na experiência global de vida de Graciliano, Artaud e Machado. Não terá acesso às muitas décadas vividas por eles, décadas que são tradicionalmente limitadas pelos extremos físicos da vida animal e vegetal – o nascimento e a morte. Só no romance Machado, o tempo romanesco se alonga a fim de incorporar a morte do artista. Ele entrega ao leitor os últimos anos de vida do notável romancista carioca.
Em minha produção literária, os longos intervalos abertos pela escrita propriamente biográfica[nota 1] indicia que o planejamento, a composição e a redação de cada um dos três romances transitaram por um longo período de leitura, pesquisa e reflexão em minha imaginação. A escrita biográfica recusa, por exemplo, a espontaneidade narrativa dos contos enfeixados em Keith Jarrett no Blue Note, de 1996. Os três livros foram amadurecidos em trabalho disciplinado e muitos anos de leitura e de estudo, focados em cada artista. Também contaram com a ponderação do crítico cultural e com a observação e a fantasia do criador. Acentuo, finalmente, que um longo intervalo de silêncio precede a cada um dos romances. O manuscrito só começa a ser escrito em época que se anuncia como de tranquilidade relativa, julgada oportuna ou esperançosa.
A intermitência na produção de escrita biográfica indicia, por outro lado, que se trata de três narrativas autocentradas no protagonista, sua vida e obra. São prosa de ficção exigente e objetiva, embora subjetivamente judiciosa. Diga-se também, que são romances mais famintos de documentação e de racionalidade que os demais livros de prosa escritos pelo autor. Eis como se justifica o recurso a uma composição híbrida. Pela impureza, eles intervêm na classificação radical por gênero literário. Podem lembrar outras obras: Chimera, romance do norte-americano John Barth, publicado em 1972; Travesties, peça de teatro de Tom Stoppard, encenada pela primeira vez em 1974 e, finalmente, uma série de romances de W. G. Sebald, publicados a partir dos anos 1990. Destaco Os anéis de Saturno e Os emigrantes. Quem se lembrar dessas obras diga sim à lembrança.
Nos três romances se faz evidente uma escrita de caráter ensaístico, mais conceitual e menos dramática, a não ser desprezada pelo leitor ou pela crítica. Se reunir os fragmentos ensaísticos, o leitor terá sob os olhos uma parte da composição do romance que lhe servirá para se adentrar pelas particularidades da mente e da imaginação de um profissional das artes, particularidades julgadas indispensáveis para a characterization (o anglicismo é oportuno) de figuras destacadas na cultura brasileira e ocidental. O trabalho do romancista – a composição e a escrita do manuscrito – acontece no interior de uma forma-prisão, conceito estético-político salientado pelo autor desde o ensaio O entre-lugar do discurso latino-americano, de 1971, hoje na coleção Uma literatura nos trópicos (Selo Pernambuco/Cepe Editora).
Já o gosto do romancista por detalhes significantes – às vezes enriquecidos pelo estatuto metafórico que lhes é conferido no avançar e finalização do texto − tira proveito e se alimenta da experiência que, nos respectivos intervalos de produção, o autor adquire ao escrever, publicar e pôr à prova do leitor e da crítica livros de proposta e finalidade diferentes.
Os três romances, apesar da composição híbrida e de engendrar um subconjunto dentro de obra, têm a ambição de urdir um todo. É por essa pretensão singular e coletiva que ouso recomendar que não se leia o subconjunto sem consultar os demais subconjuntos de minha obra (nesta apresentação, ofereço de vez em quando alguns exemplos contrastivos). Se qualquer dos subconjuntos for tomado como postura exclusivista e radical do autor logo se evidenciará, no processo de leitura, a infidelidade do leitor e do crítico. Ouso ir além no sinal de alerta a fim de justificar a afirmativa bombástica do velho escritor por lembrança de sua juventude estudantil.
Desde minha primeira leitura de Charles Baudelaire, em particular de As flores do mal e de Mon coeur mis à nu, fui despertado para as exigências quase absurdas aludidas pelo poeta francês ao se referir a uma matriz misteriosa e generosa – uma verdadeira “arquitetura secreta”. Ela vem e virá a significar rigorosa e cabalmente a produção artística do artista. Secreta por natureza e por decisão autoral, a arquitetura ativa a criação de cada livro do poeta francês, das totalidades temporárias dos subconjuntos que são elaborados por ele e, ainda, da totalidade final de sua produção, a ser entregue à posteridade ou, como diz Machado de Assis, aos vermes.
Despertadas prematuramente em escritor latino-americano, a exigência absurda de uma arquitetura secreta acabou por servir de guia e por direcionar minhas principais atividades profissionais − a docente, a intelectual e a literária −, entretecendo-as, embaralhando-as e as fundindo. No ser humano, a exigência da arquitetura é causa de certa discrição, recato ou reserva. Saio em busca de autocontrole autoral, passível, claro, de ser transgredido por forças misteriosas e inconscientes. A exigência de uma matriz recomendava e propunha ao profissional uma invariável no fluir caudaloso da organização e reorganização orgânica de seu trabalho como professor, ensaísta e artista.
É por aí que a etiqueta “biografia de artista”, se aplicada aos três romances, começa a acolher a possibilidade de imprecisão. E mais imprecisa aparecerá ao leitor, se ele levar em conta as escolhas, ou melhor, as decisões apriorísticas em termos de gênero e de retórica pensadas, adotadas e postas em prática pelo autor. Enuncio a primeira decisão diferencial: os três romances focam protagonistas pertencentes à elite intelectual, que não são costumeiros na literatura brasileira. Outro diferencial: são eles distinguidos na idade madura e na velhice. O atípico na literatura e na cultura brasileiras se torna hiperbólico no caso do subconjunto em pauta.
Daí advém o desejo de começar esta apresentação pelo incomum.
Desde Em liberdade, lanço a mim um desafio que logo se me figura como obstáculo a ser trabalhado com o cuidado teórico que, na verdade, exigiria a escrita de ensaio literário. Para tornar protagonista o escritor Graciliano Ramos, intelectual e ativista político, constato que seria importante e até indispensável que desconstruísse o gênero biografia, consagrado desde a antiguidade clássica e supervalorizado a partir do cogito cartesiano e do projeto enciclopédico iluminista.
A desconstrução da biografia como gênero de características próprias ganha força e fôlego quando descubro que posso me valer de modelo narrativo alternativo: ao compor uma biografia, por que não recorrer à escrita de um diário íntimo? Compor anotações sobre o dia a dia, escritas por uma grande figura pública durante um curto espaço de tempo e organizar os fragmentos por ordem cronológica. Foi, portanto, da composição em forma de diário que me vali na construção da “biografia”[nota 2] protagonizada pelo escritor Graciliano Ramos. Embora tido como menor na tradição literária ocidental, o subgênero diário íntimo é de igual interesse sócio-histórico e estético.
Escrito por mim, o diário de Graciliano Ramos é obviamente falso, mas o gênero a que pertence existe em paralelo ao da biografia.
Projeto desconstrutor da biografia, o romance Em liberdade se propôs a mim como a composição de um diário íntimo do maior escritor no Brasil durante os anos 1930. O diário teria sido escrito a partir do dia em que o artista, doente e desnorteado pelo acúmulo de experiências negativas e inesperadas em sua vida, deixa o cárcere político em 1937. Atente-se, ainda, para o fato de que o diário é o único gênero de prosa de ficção que não é trabalhado pelo moderno romancista realista-naturalista brasileiro. A experiência do cárcere será objeto de memórias.
Do momento em que a composição do diário íntimo é assumida pelo romancista Graciliano, a biografia como gênero perde a condição de modelo objetivo, a motivar a composição das demais biografias de artista. Cada nova proposta de “biografia de artista” teria de se alicerçar na desconstrução (no sentido derridiano da expressão) da biografia como gênero de história própria.
Investigo a etimologia do vocábulo que nomeia o gênero – bio/grafia. Ou seja, o relato desconstrutor seria motivado pela intenção de querer aprender menos um percurso vital único e mais uma relação, a relação entre uma vida exemplar e sua grafia. No caso de Em liberdade, a relação se apresenta ainda mais complexa. O escritor, protagonista, se dispõe a ser um homem do espírito (um clerc, para retomar a expressão de Julien Benda) no plano privado, profissional e político. Sua obra literária é apenas parte de um todo enérgico e diligente. O relato desconstrutor exige narrativa que associe à vida cotidiana e profissional a produção artística e o ativismo político revolucionário.
A complexidade da bio/grafia de Graciliano Ramos se torna difícil de ser apreendida literariamente porque a própria crítica literária nossa contemporânea nos propõe variadas e ricas metodologias de leitura da obra de arte que elegem como objeto único o texto literário já impresso, ou publicado sob a forma de livro.
Meu interesse fundamental é o de sintonizar o objeto da crítica literária contemporânea com uma narrativa romanesca desconstrutora que capitalizaria a experiência de uma vida humana com a obra artística produzida e a ser produzida pelo cidadão alagoano, logo depois da injustificável e trágica experiência do cárcere político na capital federal.
A ser evidenciada na trama romanesca, essa relação tripartida me intriga desde os bancos acadêmicos, intrigou-me mais ao orientar dissertação de mestrado sobre as Memórias do cárcere em 1963 e continuou a me intrigar pelo resto da vida. Inicialmente, foi a responsável por encaminhar o jovem pesquisador à redação de ensaios literários que partiriam do questionamento de um dos princípios básicos, verdadeiro dogma, de minha formação em teoria da literatura contemporânea. Refiro-me ao conceito de literariedade (literaturnost), para citar não só os formalistas russos[nota 3] como as diversas e semelhantes roupagens que o conceito receberá no decorrer das décadas, de que é exemplo a close reading do texto, defendida por estilistas germânicos e espanhóis e pelo new criticism anglo-saxão.
Os formalistas russos são os primeiros a rejeitar radicalmente a relação entre vida humana e obra artística, relação aceita de maneira bisonha e envergonhada pelas histórias da literatura anteriores à vanguarda histórica. Refiro-me às histórias como a de Gustave Lanson para a literatura francesa. Desde a lição dos formalistas russos, elas serão pouco a pouco abolidas do ensino secundário e universitário. Na formação do estudante francês, Lanson será substituído pelos contemporâneos nossos André Lagarde e Laurent Michard, responsáveis pelos manuais de literatura publicados pela editora Bordas, que acentuam o trabalho em aula de “explication de texte” − outra metodologia de leitura afim à literariedade e ao close reading.
Como garantir o interesse e a qualidade de meu trabalho de desconstrução da biografia pelo recurso ao diário íntimo? Por razões difíceis de serem desenvolvidas a partir da motivação universitária e disciplinar, confesso que, durante alguns anos, realoquei minhas leituras teóricas de candidato ao doutorado em literatura francesa à atenção radical e tardia por um gênero literário inventado no século XVIII inglês, em nada presente na bibliografia das literaturas neolatinas que me formaram na Universidade Federal de Minas Gerais. Remeto o leitor ao gênero de prosa de ficção denominado correta e etimologicamente, em língua inglesa, de novel (algo novo, original e singular).[nota 4]
A partir de sua invenção formal pelos prosadores britânicos do século XVIII, a novel se torna tão hegemônica nas literaturas ocidentais metropolitanas quanto o gênero biográfico tradicional, ou até mais popular. Notável é que a biografia, a autobiografia e a novel trabalhem todas com um quarto modelo que sempre nos é oferecido, em miniatura, por verbete de enciclopédia. Na sua generalidade, o verbete enciclopédico elenca as várias e sucessivas fases na vida de um indivíduo que, às vezes, comportam o recurso ao flashback. Pela graça e riqueza da escrita fonética, destacam-se sempre, em ordem cronológica e evolutiva, os fatos mais importantes na vida de um indivíduo notável, reconhecido por sua contribuição de valor coletivo e pessoal à sociedade nacional ou ao mundo, a que pertence.
A uma só vez, a novel se acopla ao diário íntimo. Ambos me servem de intermediário e de escudo protetor na desconstrução da biografia como gênero.
Intrínseca ao modelo romanesco tripartido antes enunciado, a indistinção retórica me conduz a uma narrativa em prosa calcada na observação mediatizada da realidade. Como resumo do que estou tentando expressar, salta na lembrança uma observação aguda do poeta e crítico Ezra Pound em seu manual ABC of reading, de 1934. A lembrança vem a ganhar sentido inesperado e verdadeiro, e merece ser transcrita pela citação do original − as palavras do próprio Pound. Ei-las em tradução de Augusto de Campos e José Paulo Paes:
Dizem que foi Flaubert quem ensinou Maupassant a escrever. Quando Maupassant voltava de um passeio com Flaubert, este lhe pedia para descrever alguma coisa, por exemplo uma concierge por quem teriam que passar em sua próxima caminhada, e para descrever tal pessoa de modo que Flaubert a reconhecesse e não a confundisse com nenhuma outra concierge que não fosse aquela descrita por Maupassant.
Robinson Crusoé, de Daniel Defoe, e Madame Bovary, de Gustave Flaubert, são os exemplos definitivos de novel que me ajudam a concorrer com a biografia e a apostar na possibilidade de sua desconstrução.[nota 5]
Um dos intentos do futuro autor de Viagem ao México e Machado foi o de dar continuidade a soluções semelhantes à formatada para Em liberdade. Nos romances seguintes, saio em busca de outro lugar romanesco, sucedâneo do diário íntimo. Lugar que acaba por ser também especial – novo, original e singular − para a biografia de artista. Em resumo: cada proposta, nova formatação. No conflito em que cada um dos três romancistas viveu, o gênero novel e o subgênero romance histórico foram escolhidos para servir de intermediário e de escudo protetor contra o gênero biografia e a favor de sua desconstrução.
Um subgênero da novel, o romance de formação (Bildungsroman), que se tornou muito requisitado a partir de Os sofrimentos do jovem Werther, de Goethe, foi uma tentação, evitada a todo custo. Machado é o único romance do subconjunto em pauta que apenas se aproxima desse subgênero. Aproxima-se às avessas. É retrato do artista quando velho, para retomar o título dado por Joseph Heller, conhecido romancista norte-americano, a livro publicado postumamente, Portrait of an artist, as an old man, de 2000. Machado seria, antes, o romance da sobrevivência, se se pensa na outra ponta da vida, a dramatizada pela novela A morte de Ivan Ilitch (1886), de Liev Tolstói, retomada por mim na novela De cócoras (1999) e nos poemas de Cheiro forte (1995).
Torna-se necessário insistir que o opositor formal da biografia de artista de minha autoria tem sido a biografia como gênero de história própria, paradoxalmente. As boas relações foram cortadas desde o projeto sobre Graciliano Ramos. Tenho recorrido ao modelo actancial proposto pelo linguista Greimas – adjuvante − para justificar a escolha do romance inglês do século XVIII. Definido o opositor, a principal adjuvante na minha na aventura da criação foi a teoria retórica e filosófica da novel, tal como me foi exposta pela primeira vez por Ian Watt, em The rise of the novel, que surge clássico em 1957.
Em minha formação acadêmica, a novidade originada pela descoberta da novel aconteceu de maneira imprevista, em 1962. Surgiu no início de minha profissionalização prematura como professor em universidade norte-americana. A substituição da carteira de estudante pelo quadro-negro opera uma grande e decisiva transformação em meu conhecimento da prosa de ficção. A novel – permitam-me insistir no jogo interlínguas da palavra − se deu na passagem do ano de 1961, em Paris, para o ano de 1962, em Albuquerque, Novo México, nos Estados Unidos.
Inscrito na Sorbonne para escrever e defender tese sobre o romance de André Gide, o doutorando brasileiro desencaminha seus passos para o posto de professor de literatura luso-brasileira na Universidade do Novo México. Por motivo difícil de ser precisado − a não ser se enunciado por uma generalidade, a de que o professor latino deve entrar em sintonia com a formação anglo-saxônica de seus alunos em Letras, − tenho acesso à leitura inaugural de Ian Watt, mencionado, e sou fisgado por dois excelentes manuais, The craft of fiction, de Percy Lubbock,[nota 6] e Aspects of the novel, do romancista inglês E. M. Forster. Logo em seguida, os dois manuais são prescritos por um terceiro. O de autoria de Wayne C. Booth, The rhetoric of fiction, publicado em 1961. Imediatamente, este se torna o mais popular de todos os manuais de retórica nos cursos de literatura nos Estados Unidos da América.
Há, pois, que salientar que Em liberdade se beneficia de dupla abertura, pessoal, geográfica, linguística e cultural. Estava, então, no auge da especialização em literatura francesa e sou lançado de repente em carreira profissional norte-americana, que será dada por terminada em 1974, quando regresso definitivamente ao Brasil. O estudioso e o artista, ainda jovens, se abrem a duas fortes e contraditórias correntes da teoria literária, mas que darão as mãos em fins dos anos 1970 na eleição do gênero diário íntimo para a escrita da desconstrução de uma “biografia” do artista Graciliano Ramos.
O livro será publicado em 1981 pela Editora Paz & Terra. O journal intime, gênero supervalorizado pelo escritor escolhido para a tese de doutorado, André Gide, e a novel britânica, minha descoberta teórica na carreira profissional norte-americana, fazem amizade e se tornam solidários no ano de 1962 e passam a configurar – de perto ou de longe, depende do ponto de observação – minha futura concepção de prosa de ficção.

Já foi anunciada a primeira e mais evidente diferença temporal na biografia de artista que escrevo. É a opção por trabalhar apenas um curto e preciso espaço de tempo, escolhido a dedo na vida do protagonista. Desenvolvo-a, agora.
A trama do primeiro dos três romances ambiciona cobrir dois meses e poucos dias do ano de 1937 na vida do alagoano Graciliano Ramos, então na cidade do Rio de Janeiro. Tendo sido preso no estado natal em 1936, o escritor é logo transferido para a capital federal, onde viverá trancafiado pelo restante do ano, sob a guarda da polícia política do futuro ditador Getúlio Vargas. Ele se libera do cárcere no mês de janeiro de 1937. Perdidos os laços profissionais e em liberdade, Graciliano é obrigado a viver de favor por um mês em casa de escritor e amigo seu, o romancista José Lins do Rego. Deixa a casa do amigo e aluga um quarto para ele e a esposa numa pensão na Rua Corrêa Dutra, no bairro do Flamengo. A narrativa do diário termina quando o marido e a esposa esperam a chegada dos filhos.
Os terríveis acontecimentos na cadeia, que antecedem a experiência de vida narrada no romance Em liberdade, são recobertos pela obra-prima do escritor alagoano, Memórias do cárcere, publicadas em 1953. Graciliano poderia ter escrito um diário no cárcere. Não conseguiu escrever. Na cadeia, o escritor não tinha os excitantes (a palavra é dele) que lhe são indispensáveis no ato de criação literária. Eles condicionam certo bem-estar exaltado e prazeroso do corpo, sempre observado e anotado por ele quando sente que a pena estaria a perder o fôlego. No cárcere, lhe faltam o tabaco e o álcool. E o café, o terceiro dos excitantes, lhe é servido batizado com algum brometo típico de locais de encarceramento masculino, causando anafrodisia no macho.
Nas Memórias, Graciliano relembra a redação do romance Angústia (1936) e se detém na gênese da célebre cena de assassinato. Cito o memorialista: “Esse crime extenso enjoava-me. Necessários os excitantes para concluí-lo. O maço de cigarros ao alcance da mão, o café e a aguardente em cima do aparador. Estirava-me às vezes pela madrugada” (grifo meu). A inibição e o bloqueio mental baixam também ao cárcere quando o escritor quer utilizar as folhas de papel em branco que o faxineiro lhe traz. Cito outro trecho das memórias: “as dificuldades imensas que me surgiam quando buscava utilizar o papel trazido pelo faxina. Sempre compusera lentamente: sucedia-me ficar diante da folha muitas horas, sem conseguir desvanecer a treva mental, buscando em vão agarrar algumas ideias, limpá-las, vesti-las; agora tudo piorava, findara até esse desejo de torturar-me para arrancar do interior nebuloso meia dúzia de linhas. Sentia-me indiferente e murcho, incapaz de vencer uma preguiça enorme subitamente aparecida, a considerar baldos todos os esforços.”
O segundo dos romances cobre a viagem do francês Antonin Artaud ao Novo Mundo, com duração de menos de ano. As viagens de intelectual europeu à África e à América do Sul, em particular as de nítida intenção etnográfica ou pedagógica, são muito comuns na década de 1930. A destacar a primeira e a mais abrangente de todas: a missão etnográfica Dakar-Djibouti. Criada na França por lei de 31 de março de 1931, Dakar-Djibouti tem o objetivo de completar as coleções do museu do Palácio do Trocadéro, lá instalado em 1879, ano seguinte ao em que abrigou a Exposição Universal de 1878. Nos anos 1930, o material recolhido e trazido das colônias francesas na África aprimoraria uma vitrine acadêmica da colonização europeia. Artaud não fez parte de projeto etnográfico ou pedagógico, mas não deve ter ficado indiferente ao horizonte cultural proposto pelas missões francesas naquela década, assim como não deveria ter estado indiferente às viagens de Claude Lévi-Strauss e Roger Bastide ao Brasil. Também em missão, os dois jovens cientistas sociais aceitaram convite para ensinar na recém-fundada Universidade de São Paulo.
Antes de sua viagem em 1936, Artaud passa por duas internações, a fim de se desintoxicar do uso de drogas, que o acompanha desde a infância, quando era medicado com xarope que continha derivado de ópio, a codeína. Interessa-se também pela astrologia e se entrega ao conhecimento da história dos astecas. Quer conhecer melhor a civilização indígena em território mexicano, com a finalidade de montar um espetáculo teatral grandioso e, tudo indica, educativo para a Europa em trânsito para a Segunda Grande Guerra, La conquête du Méxique. A França atravessa então terríveis crises sociais, políticas e econômicas. A nação é cortada por uma “marcha da fome”, referida por Artaud em anotação paralela. Na Europa, os governos nazifascistas perseguem os judeus. A principal intenção de sua viagem é a montagem in loco do espetáculo que idealiza.
A estada na Cidade do México é um fracasso e terá fim dolorido e trágico. Premido pelas dificuldades financeiras que enfrenta, Artaud decide passar uma temporada entre os indígenas Tarahumara, que vivem ao norte da República mexicana, no estado de Chihuahua. Lá, ele tem a experiência com peiote, objeto de uma de suas obras-primas, Los Tarahumara. De lá retorna à capital federal e é embarcado de volta à Europa pelas autoridades mexicanas. Desembarca na Irlanda e mais tarde segue para a França.[nota 7]
O terceiro romance dramatiza os últimos anos da vida de Machado de Assis, posteriores à perda da esposa, Carolina, em 1904. Sua condição de epiléptico se agrava e é levado a buscar um médico, o dr. Miguel Couto. Viúvo, encontra apoio sentimental no filho do escritor José de Alencar, Mário. Nesse período, é obrigado a manter uma vida profissional e social trabalhosa e espinhosa, cheia de incumbências oficiais. É o presidente da Academia Brasileira de Letras e o Rio de Janeiro se moderniza e está às portas da Exposição Nacional comemorativa do 1º centenário da abertura dos portos (1908). Com frequência, troca cartas com Mário, que tem a mania de se isolar no Alto da Tijuca, na casa do avô, Thomas Cochrane, introdutor da homeopatia no Brasil. O leitor de Machado está diante do período menos estudado da vida do romancista e talvez o menos apreciado pela obra literária que escreve e publica. Em 1904, sai o romance Esaú e Jacó e, nos anos finais de vida, Machado escreve e publica o Memorial de Aires.
Os dois últimos livros da carreira trazem como destaque a passagem da nação brasileira do regime monárquico ao republicano. A eleição dos gêmeos Esaú e Jacó para título do romance e para nomear o protagonista-coletivo da trama, Pedro e Paulo, carrega o texto de valor inestimável, que o aproxima de Thomas Mann, por exemplo. Já o Memorial de Aires é composto com as anotações feitas pelo narrador/personagem Conselheiro Aires durante os anos de 1888 e 1889. Elas visam a salientar não só as duas grandes transformações sociopolíticas por que passa o Brasil, a assinatura da Lei Áurea pela princesa Isabel e a Proclamação da República pelos militares, como também as terríveis consequências de uma economia que se desequilibra definitivamente nas desordens ocorridas na Bolsa, fenômeno conhecido por Encilhamento.[nota 8]
Nos três romances, a redução do tempo de vida do artista a um lapso não é elemento ordinário. Antes de mais, atente-se para o fato de que, nos nossos dias, esse procedimento temporal se tornou comum em filmes comerciais, que também estariam sendo classificados com certa imprecisão de biografia de artista ou de intelectual. Dou três exemplos. O filme Madame Satã (2002), de Karim Aïnouz, dramatiza apenas os anos da juventude de quem se tornará um célebre malandro preto na boemia carioca. As viagens juvenis de Che Guevara pela América Latina são dramatizadas por Walter Salles no filme Diários de motocicleta (2004). O filme Capote (2005), de Bennett Miller, grande sucesso artístico e de bilheteria, dramatiza o período em que Truman Capote investiga a vida de dois criminosos provincianos e escreve o romance (faction, segundo sua terminologia) In cold blood.
Dramatizados nos três romances, os lapsos de tempo não estão presentes de maneira firme e sugestiva nas respectivas biografias escritas de forma tradicional. Detecto certo prazer de biógrafo em destacar e salientar os grandes momentos da vida do homem público. O biógrafo se dedica com mais carinho à representação de les belles images, para usar a expressão de Simone de Beauvoir, duma vida. Belas, essas imagens redesenham a figura humana na glória e na dor. Passam por cima do cotidiano. Nos opostos dramáticos, sobressaem as qualidades humanas superiores e as virtudes morais do biografado. São os momentos privilegiados, mortais e gloriosos, que justificam o reconhecimento oferecido pela comunidade e as instituições públicas e privadas; são também os momentos desastrosos e decadentes, que justificam o império da condição humana sobre a vontade do corpo e da mente. Em biografia tradicional, não há diferença na intensidade da descrição de sentimentos antagônicos. A diferença está no dia a dia, que fica em aberto. Temerário, para o biógrafo, é deter-se em detalhe reles, embora significante no cotidiano do ser humano. Detalhe em que a racionalidade inventiva do biógrafo tradicional fica em apuros e cai por terra.
Quando o biógrafo fica em apuros e cai por terra é que bato à porta e me apresento ao leitor. Escolho e preparo um terreno minguado da vida do artista em foco, a fim de desconstruir o gênero biografia. O leitor interessado pelo protagonista que destaco não foi informado, ou foi informado distraidamente, sobre o período da vida que elejo como razão para um novo gênero de escrita biográfica. Até então tinha se contentado com as belas imagens que surpreendem o caráter inteiriço e contraditório, forte e decadente do biografado.
No caso de Graciliano Ramos, a prisão política do escritor em 1936 é o ponto fulcral de sua biografia de artista. Não é isso que está em questão no romance Em liberdade. Dirijo meus olhos, leituras e imaginação para os primeiros meses de sua libertação, em 1937. Dias, semanas e meses em que ele sobrevive em casa do amigo graças a fulgurações momentâneas de uma liberdade constrangida pela desgraça que, no exílio involuntário no Rio de Janeiro, abate sobre o profissional, a família provinciana e o homem político. Liberdade que é ruptura imerecida e brusca em sua bela carreira pública em Alagoas e de romancista já reconhecido nacionalmente. Liberdade que é a falta de emprego e de rendimentos na capital federal. Como entregar de volta à plenitude da vida o corpo machucado? Como sustentar a si e à família sem emprego? Como reagir ao assédio por parte dos ativistas políticos de plantão, que o desejam encarnação viva de mártir da ditadura Vargas? Durante dois meses e poucos dias do ano de 1937, novos e fascinantes temas e questões se extraviam dos relatos biográficos tradicionais e fundamentam os dramas envergonhados e aborrecidos que se desenrolam no diário íntimo.
Viagem ao México foca uma curta passagem na vida acidentada de Antonin Artaud, que não é fácil de ser pesquisada pelos conterrâneos e contemporâneos dele. Seus biógrafos têm dedicado pouca atenção (refiro-me, em particular, à época em que o romance foi pesquisado e escrito, entre 1981 e 1995) a esse período de sua vida atribulada. Um dos primeiros e dos mais cuidadosos pesquisadores é o argentino Luiz Mario Schneider, então professor no México. Ele não só descreve o cotidiano de Artaud na capital do México como criteriosamente levanta os docume ntos (em especial os jornalísticos, de difícil acesso) que teriam importância para se compreender o relacionamento do intelectual francês com seus pares mexicanos, com a imprensa e com as figuras oficiais do governo Lázaro Cárdenas. Há que se destacar também um fascinante relato autobiográfico: o do exilado político guatemalteco e amigo de Artaud, o poeta e crítico de arte Cardoza y Aragón.
Minha formação em literatura francesa propiciou que lançasse um olhar tripartido – brasileiro, francês e latino-americano − à viagem e trabalhasse a matéria e o material de maneira inesperada e certamente audaciosa. Dedico-me primeiro a levantar os fatos parisienses, que antecedem e possivelmente anunciam a viagem ao México e servem de alicerce ao inesperado e pretensioso projeto teatral. De livre e espontânea vontade, Artaud se submete a duas desintoxicações em hospital parisiense. Seu interesse crescente pela astrologia lhe traz uma cosmovisão mágica dos acontecimentos humanos e sociais afim à cosmovisão asteca. Talvez inevitável, a mescla de interesses heterodoxos e (em sua imaginação) afins possibilita que compreendamos melhor suas andanças por Paris antes da viagem, sua própria viagem até o Porto de Antuérpia, na Bélgica, onde embarca para o México. Talvez compreendamos melhor outras andanças dele, agora pelo Porto de Havana, Cuba, onde o navio faz escala.
Um detalhe mencionado em carta me instigou a aproximar Artaud, antes de seu desembarque em Vera Cruz, de importante grupo diaspórico na ilha do Caribe, os afro-cubanos. Os estivadores compõem a principal mão de obra no porto que exporta sacas e mais sacas de açúcar para o mundo. Com poucas informações, fiz alguns cálculos e cheguei à conclusão de que a escala do navio deve ter coincidido com o dia de Iemanjá, 2 de fevereiro. Um dos dias mais festivos para os estivadores, segundo os etnógrafos cubanos, entre eles Fernando Ortiz. Os especialistas em ritos afro-cubanos me oferecem farto material sobre os ritos que explodem pela cidade vizinha de Havana, onde moram os portuários. Tenho a oportunidade de explorar um episódio narrado pelo próprio Artaud. Refere-se à espada que ganha de presente de um feiticeiro (sorcier, no original) preto, que se torna pertence seu para sempre. Os relatos biográficos saltam essa escala em Havana e reencontram o biografado quando desembarca em Vera Cruz, de onde parte em viagem de trem até a capital do México.
Os leitores dos dois primeiros romances já se deram conta de que a desconstrução da biografia visa a destacar e focar o corpo do protagonista. Em liberdade dramatiza o corpo e a prisão, enquanto Viagem ao México, o corpo e a droga.[nota 9] Machado, o terceiro, insiste no destaque e migra para o corpo em luta contra uma terrível doença, a epilepsia. Os últimos anos de Machado se transformam em época de sua vida que fornece a garantia de ponto de vista privilegiado de leitura do corpo do escritor que, sabe-se por que razão, tem sido pouco estudado pelos melhores especialistas. Em carta a Mário de Alencar, Machado vai apelidar a doença de seu “pecado original”. Cito o trecho da carta: “De mim, vou bem, apenas com os achaques da velhice, mas suportando sem novidade o pecado original, deixe-me chamar-lhe assim. Creio que o Miguel Couto me trouxe a graça”.
A morte da esposa, a solidão e a idade avançada levam o escritor a procurar um médico, o dr. Miguel Couto, em busca da cura milagrosa. Concomitantemente, a amizade do velho escritor com o jovem Mário de Alencar, já referido como neto do introdutor da homeopatia no Brasil, contribui com informações novas sobre tratamento menos invasivo da doença. Recomendados pela alopatia, os brometos são a causa de sérios problemas gástricos e são substituídos por substâncias naturais, recomendadas pela homeopatia. As duas medicinas confluem de maneira inesperada e dramática no tratamento de Machado de Assis, garantindo ao romance a certeza de que as pistas seguidas e expandidas por ele não são arbitrárias nem falsas.
Em visão retrospectiva da obra de Machado de Assis, uma análise formal de romances como Memórias póstumas de Brás Cubas e Esaú e Jacó apresenta características retóricas singulares, que poderiam ser compreendidas através de conhecimento mais ajustado à fisiologia do corpo do artista. Dou-lhes um exemplo. Ao se referir às crises epilépticas por que passa, Machado usa o vocábulo “ausência”. A ausência significa a pequena morte que interrompe passageiramente o fluxo da vida. Gustave Flaubert confessa: “Je suis mort plusieurs fois”. A ausência se representa nos dois romances como lacuna ou silêncio narrativo. Tanto uma quanto o outro são princípios importantes na composição em fragmentos de romance machadiano. Esse tipo de composição é mais original do que pensam os críticos que apenas aludem aos débitos de Machado a romances estrangeiros. Por ser orgânica, a composição de romances por Machado é original de maneira singular.
Cite-se também, como exemplo de lacuna ou de silêncio narrativo, a caracterização de personagem em Esaú e Jacó. O irmão das almas, personagem inicial, simples, simplório, se torna complexo, round, como quer E. M. Forster, durante uma longa ausência na trama do romance, e reaparece ao meio do romance como o capitalista Nóbrega. Nas primeiras páginas, o irmão das almas colhe esmolas à porta da igreja no centro da cidade. Desaparece por muitos e muitos capítulos. Quando retorna à escrita, é o capitalista Nóbrega em sua carruagem a trafegar pelos bairros chiques do Rio de Janeiro. Seu enriquecimento é súbito e inesperado, embora não seja secreto. Sua causa está explícita na anarquia financeira na Bolsa de Valores, conhecida como o Encilhamento. A “ausência”, ou a lacuna e o silêncio, requer que o leitor de Machado de Assis seja coautor de seus romances. A graça que o dr. Miguel Couto traz ao romancista, este a oferece ao leitor no romance que escreve.
Por conta própria, o leitor preenche a trama romanesca e reconhece o verdadeiro caráter do personagem. Preenche trama e caráter a partir de dados plenos e insuficientes. Por ausências e silêncios do narrador. Trata-se de um tipo de recurso retórico que não pode ser explícito em discurso biográfico tradicional, que segue momento a momento o percurso da flecha do tempo. Machado de Assis inventa uma composição romanesca elaboradíssima, que se explica menos pela consulta às possíveis fontes europeias de seu trabalho (ingleses e franceses) e se explica mais pelo que chamo de fisiologia da composição.

Acrescento que na empreitada arriscada contei com o apoio, não tanto da crítica literária brasileira, mas da francesa, já que a crise epiléptica é questão explorada com arrojo, rigor e riqueza crítica pelos admiradores do grande romancista Gustave Flaubert (por exemplo, o terceiro volume de biografia de Flaubert, escrita por Jean-Paul Sartre, é dedicado à doença). Vali-me direta e indiretamente dessa corajosa e variada bibliografia como caução (no sentido jurídico do termo). A caução flaubertiana enriquece minhas análises machadianas que apontam para a relação estreita entre a fisiologia (do corpo) e a composição (da obra de arte). Evidentemente, Machado, o romance, não era o lugar para explorar uma leitura contrastiva entre Flaubert e Machado. Teria sido necessário optar por outro tipo de gênero literário e outro tipo de escrita. Mas os principais dados sobre Flaubert lá são oferecidos ao leitor.
Esta apresentação apressada do possível interesse do subconjunto de romances justifica o motivo que conduz seu autor à opção por trama que se desenrola num curto lapso de tempo. Quer focar a vida cotidiana do protagonista artista, naturalmente entregue ao trabalho insano da escrita literária, coincidente com determinado projeto artístico que se apresenta como trabalho literário e crítico arriscado. Associar a vitalidade do cotidiano, normalmente desprovida de significados alvissareiros, à contenção solitária do cidadão, que o leva a concentrar a atenção na criação literária. Dedicar-se à produção do sublime. O contraste é particularmente belo na vida de Graciliano Ramos. No pior momento da escrita literária, ele, com três excitantes à mão, entrega-se total e irresolutamente ao ato de escrever certa cena de assassinato que lhe parece insuportável. Acrescente-se que, à falta dos excitantes, esboroou-se o diário a ser escrito na prisão. Trabalho para a memória.
Detalhes semelhantes, apenas semelhantes, a esses são constantemente acionados em minhas narrativas. Eles não fariam muito sentido numa biografia tradicional de artista. Os detalhes pesariam mais para o lado do vício (?) e menos para o lado do arranque acionado, a forçar com prazer o motor da escrita. Detalhes sempre ganham – sempre têm a dimensão narrativa ideal para ganhar um tratamento audacioso e possivelmente feliz que visa a tocar em questões finas e delicadas da vida e da criação artística que muitas vezes são analisadas por linguagem crítica objetiva ou biográfica temerosa. O medo acaba por se esconder em generalidades sentimentais. Ou se deixa exprimir por conceitos desprovidos de emoção.
Está sendo afetado o conhecimento do ser humano em foco, assim como, acredito, se põe em circulação uma apreciação crítico-literária original do protagonista e de sua obra. Ao extrapolar o campo da vida íntima do artista, o subconjunto de romances oferece, portanto, boas ferramentas analíticas, úteis também para o conhecimento mais apropriado do período sócio-histórico e econômico em que o texto artístico foi produzido e circula pela primeira vez. Curioso é assinalar que quanto mais o pesquisador (no fundo o romancista que sou é um doublé de pesquisador e de crítico) afunila seu interesse espaciotemporal, menos tem necessidade de inventar um indivíduo, uma família, uma sociedade, uma nação. Tudo isso está na leitura que se faz do artista na época em que elabora sua obra artística.
O protagonista de cada um dos três romances é menos o imortal que se divulga nos jornais por ser presidente da Academia Brasileira de Letras. É mais o burocrata a tomar o bonde ao sair do trabalho para chegar em casa e descansar. Descansar? Não, para dedicar-se à escrita de seus livros. Ele é um ser humano transitório, preso às carências e às necessidades do dia a dia. É também um artista (parcamente remunerado enquanto tal) que se entrega ao trabalho de criação, ainda semi-imerso nas confusões cotidianas. Em destaque no subconjunto, a prisão, a droga e a doença. O artista vive como se estivesse de cócoras e, ao mesmo tempo, compulsivamente sentado na escrivaninha de trabalho.
Para retomar as célebres categorias de Northrop Frye em Anatomy of criticism, o protagonista artista é irremediavelmente nosso contemporâneo. Enquadra-se na categoria de herói “low mimetic” (modo imitativo baixo). Herói que se opõe diametralmente ao herói clássico, “high mimetic” (modo imitativo alto). Meu interesse é o de ser sensível a escritor ou artista que cria personagens estonteados – e não animados – pela arrogância (hubris). São criadores de personalidades semelhantes às de Raskolnikov, de Willy Loman e de a Mãe coragem, para lembrar os exemplos dados por Frye. São antípodas do herói clássico greco-latino. Nossos protagonistas são atravessados por fases e mais fases de decadência física e moral e, no entanto, são ainda capazes de manter a hubris necessária para produzir obras-primas que se igualam em valor às que a História ocidental tornou imortais.
A redução no espaço de tempo em que se desenrola a trama de cada um dos romances é o indício de que se está a negar o supervalorizado enredo enciclopédico e iluminista da biografia. Na trama dos três romances o leitor não encontrará as imagens notáveis e gloriosas de uma figura pública mediana que, no entanto, decide qualificar a si mesma para a glória e a imortalidade. São artistas semelhantes a protagonistas de romance ou de peça de teatro de Samuel Beckett. Suas vidas poderiam ser retiradas do romance Malone meurt ou da peça Esperando Godot.
Não denomino minhas reflexões sobre a matéria como sendo as de um biógrafo, tampouco denomino meus livros como sendo biografia de artista. Uso o neologismo “grafia de vida”. Escrevi três grafias de vida: as de Graciliano Ramos, de Antonin Artaud e de Machado de Assis. Interessa-me a grafia de vida que se deixa escrever pelo corpo do artista. Ela parte da análise de uma quantidade silenciosa, absurda e heteróclita de documentos, à disposição de quem tem a coragem – como qualquer pesquisador − de pôr a mão na massa.
Trabalho com protagonistas já falecidos. Evito falar com herdeiros, parentes e amigos, pessoas que normalmente são entrevistadas pelos biógrafos. Tudo que consulto e analiso está em estado de grafia de vida do outro, ou do outro por terceiro. A autenticidade é reservada às fontes. Sou também um escritor estonteado pela arrogância. Não é outro o motivo pelo qual escolhi esta frase de Franz Kafka para epígrafe de romance meu: “Deus não quer que eu escreva, mas eu sei que devo escrever”. Assumo o risco do riscado.
NOTAS
[nota 1] O subconjunto biográfico não ser confundido com outro e semelhante, que lhe é paralelo. O da produção de escrita autoficcional, que se inicia com Stella Manhattan, em 1985. Sua poética pode ser desentranhada do romance O falso mentiroso (2004).
[nota 2] As aspas indicam que o significado original do termo está sendo modificado a partir deste momento. Está sendo colocado fora de seu uso tradicional.
[nota 3] A identificação de artifícios – como som, imagem, sintaxe, métrica, rima – que conduzem ao efeito de estranhamento da obra literária. Só recentemente consegui explicitar suficientemente o que, desde Em liberdade até Machado, me perseguia: a fisiologia da composição da obra de arte. A escolha de Machado de Assis não é gratuita, como não o foi a escolha de Shakespeare, em trabalho semelhante, por Stephen Greenblatt. Consulte-se o conceito de strategic opacity, em Will in the world, de 2004.
[nota 4] Valho-me da configuração de novel dada por Ian Watt em The rise of the novel (traduzido como A ascensão do romance no Brasil): “Quando Defoe, por exemplo, começou a escrever ficção, ele pouco se incomodou com a teoria crítica então dominante, que ainda aconselhava o uso de tramas [plots] tradicionais. Em lugar delas, ele apenas permitiu que a organização de sua narrativa fluísse espontaneamente de sua própria percepção de como o protagonista continuaria a agir. Defoe iniciou uma nova e importante tendência na ficção. Proposta por ele, a subordinação total da trama ao modelo da memória autobiográfica é, no romance, uma autoafirmação tão desafiadora do primado da experiência individual quanto o cogito, ergo sum, de Descartes, o foi na filosofia”.
[nota 5] Em ABC of reading, Ezra Pound nos diz também que ficou fácil escrever soneto depois que Dante nos ensinou e fácil escrever romance depois da lição de Flaubert.
[nota 6] Nas pegadas da Poética, de Aristóteles, Lubbock quis desentranhar, em 1921, uma retórica da prosa de ficção, ou um artesanato da escrita ficcional, da análise dos prefácios escritos por Henry James para seus romances.
[nota 7] Cf. Los astros dictan el futuro. La historia impone el presente (Artaud vs. Cárdenas), publicado na revista Zama (nº 4, 2012, p.13-20).
[nota 8] Nos primeiros anos após a Proclamação da República, o ministro da Fazenda, Rui Barbosa, adota uma política que visa a estimular a industrialização e o desenvolvimento brasileiro. Os bancos passam a conceder empréstimos livremente às pessoas, sem analisar suas reais condições de pagamento.
[nota 9] Recentemente, conjuguei os dois tópicos em resenha da tradução tardia ao português de El apanto (A gaiola), de José Revueltas. Cf. Se lutas por alimentos, tens de estar com fome (clique aqui para ler)