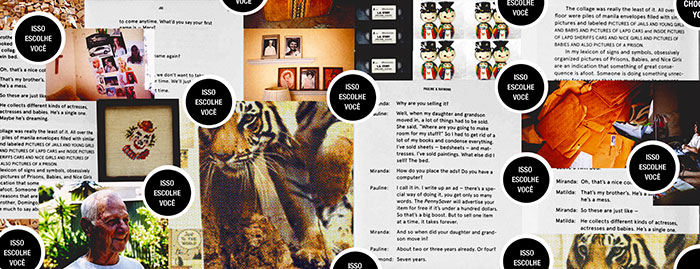
Enquanto escrevia minha tese de doutorado em teoria literária (ou seja: estava atuando a priori num terreno de ficção, de invenção e não de “verdade”, por mais arrogante que essa palavra possa parecer), um questionamento de William James não me dava sossego: “Sob que circunstâncias nós consideramos as coisas como sendo reais?”. A inquietação era tamanha que acabei usando-a como epígrafe geral do meu trabalho, a bússola para tudo o que escreveria dali para frente. Não que eu (sim, o verbo é inseguro) desconfiasse que o meu tema acadêmico, o livro Estrela distante, de Roberto Bolaño, tratasse de outra coisa para além da expressão “romance” — uma história criada e não uma autobiografia, jamais um roteiro amparado em questões concretas, reais. Mas sim que seus personagens, possivelmente, estariam “ludibriando” o leitor, e a si próprios, ao defenderem a ideia de que um aspirante a poeta do Chile às vésperas do golpe de Pinochet houvesse assumido nova identidade e se tornado um serial killer.
Estrela distante é todo arquitetado a partir da ideia concreta de um duplo, mas essa assertiva não me satisfazia. Havia lido o romance por inúmeras vezes, sublinhado passagens, revirado entrelinhas, o que havia de errado comigo? Cheguei a pensar: “Eu conheço essas pessoas aqui na minha frente, posso entrever o número das roupas que vestem dia após dia, sei o lado que dormem na cama à noite ou mesmo as noites em que não conseguem dormir, então por que não me satisfaço com essa troca de identidades?”. O resultado da “tortura” foi trabalhar com a minha dúvida, leva-la às últimas instâncias, não fechar qualquer possibilidade de interpretação. É redutor encerrar uma obra de arte numa suposição única, numa camisa de força. Um pesquisador é alguém que questiona, que elabora melhores perguntas; não o responsável por rótulos para prateleiras de livrarias.
Sob que circunstâncias acredito que algo seja real? Sob que circunstâncias acredito que as pessoas dos livros carregam alguma certeza? Minha tese não procurou as respostas, apenas colocou essas perguntas em destaque, pintou-as em negrito, ampliou o eco das inquietações.
O jogo entre ficção e realidade que esse trabalho exigiu fez com que, ao seu fim, eu procurasse me distanciar ao máximo do assunto. Busquei a leitura de títulos aparentemente resguardados de tais angústias. Busquei em romances policiais, alguns de reputação bastante “B”, e em livros-reportagem algum oásis que aliviasse o jogo de espelhos com que Bolaño havia me aprisionado por anos. Em seus livros, não é bem a biografia e a não biografia que estão em jogo, mas os limites de quem escreve, as fronteiras com que suas criações lidam com o mundo ao seu redor. Bolaño sabe que a verdade já existe por si só e que todo o resto é invenção. Inventamos até quando declaramos “isso aconteceu”. A vida não é ficção, mas qualquer ato de contá-la já é um ato forjado. Todo narrador é um traidor.
Foi com essa constatação que cheguei ao livro It chooses you, da escritora e diretora norte-americana Miranda July, ainda inédito no Brasil. A obra é vendida como o “documentário” do desvio de caminho que tomou a autora ao se encontrar emperrada com a construção de um roteiro sobre a separação de um casal, em que o marido, frustrado com o rompimento, decide imobilizar o tempo e conversar apenas com a lua. O processo de escrita ocorria num momento sui generis da sua vida: Miranda havia se casado há pouco, sua relação ainda vivia sob as calmas diretrizes dos inícios. Como encontrar o tom daquelas almas desgraçadas pela fissura num contexto assim?
A (sim, a expressão é exagerada) salvação veio nas páginas do jornal Pennysaver, publicação de segunda que circula entre as alta e baixa Los Angeles, com classificados que oferecem de tudo: de bichinhos de pelúcia a álbuns de fotos carcomidos pelo tempo de pessoas que não mais existem. Um dos anúncios falava de um homem que vendia uma jaqueta de couro por 10 dólares: “A pessoa acha que a jaqueta vale 10 dólares, mas a pessoa não está confiante no seu valor e até disposta a negociá-la por um valor mais baixo. Eu queria saber mais sobre essa pessoa que vendia uma jaqueta de couro, queria saber seus medos, como atravessava os dias”, escreveu a autora.
Tinha à sua frente a opção de um negócio e mais: alguém que se escondia por trás de uma oferta. Um número de telefone escondendo toda uma vida. Ligou para o homem da jaqueta e perguntou se poderia entrevistá-lo, pagaria 50 dólares e registraria algumas fotos da sua intimidade. Ele concordou sem maiores problemas.
Possivelmente Miranda estava tão interessada nessa pessoa do anúncio quanto em comprar uma jaqueta de couro de segunda mão. Fora motivada pelo tédio (não queria voltar para o computador), por um bloqueio criativo (não compreendia os personagens que havia decidido criar) e pelo faro em redimensionar o banal (não necessariamente em transformar o banal em algo interessante por si só, talvez até mesmo o contrário: documentar o banal em toda sua extensão), que move o seu trabalho artístico, marcado pela exposição da sua vida íntima (ou mesmo pela encenação da sua vida íntima). Motivação semelhante à sua é a de Sophie Calle, artista francesa que ficou famosa no Brasil com a exposição Cuide de você, em que pediu a mulheres de várias profissões que respondessem a um e-mail de rompimento que recebera de um namorado.
“Precisava ganhar tempo para responder. Precisava cuidar de mim”, justificou Sophie a respeito da arquitetura por trás de Cuide de você. Miranda também precisava ganhar tempo (criar talvez seja sempre ganhar tempo em relação a alguma coisa, postergar um enfrentamento, ocupar uma espera).
O vendedor da jaqueta se tratava de um homem de 60 e alguns anos que recebeu seus convidados com a declaração “estou passando por uma cirurgia de mudança de sexo”. “Que ótimo, eu disse”, respondeu Miranda. Michael vivera até então uma difícil relação com sua sexualidade. Assumia o desejo de ser mulher por alguns anos. Depois voltava atrás. Mas havia chegado a uma idade limite. De batom e cabelos loiros caindo pelos ombros, era uma pessoa banal, que não tinha muito a oferecer a Miranda além da jaqueta de couro e a curiosidade que transexuais costumam despertar. A autora também não tinha muito para perguntar. Seu encontro com o primeiro (vamos chama-los assim) personagem de It chooses you não suscitou questões mais palpitantes do que “Quais são seus programas de TV favoritos?”.
Os outros personagens do livro, ainda que interessantes, ainda que singulares, também não despertam grandes perguntas ou qualquer outra reviravolta no pensamento de Miranda em relação aos habitantes de LA que não configuram na sua agenda telefônica. Ambos se postam em lados diferentes da jaula. Diante dos seus entrevistados Miranda é ingênua, perdida e muitas vezes cruel. E cruel, sobretudo, porque ela não demonstra qualquer interesse em formalizar um “contrato social” entre entrevistador e entrevistado, não há gentilezas ou promessas. Ela não só não tem um interesse especial na vida daquelas pessoas quanto não se importa em forjar algum. É alguém que olha o mundo com a perspectiva que precisa ganhar tempo enquanto procura compreender uma outra coisa (o roteiro, o que configura uma separação, ainda que ficcional etc.). É consciente de que está vivendo um intervalo, um parêntese dentro da sua vida.
Não é o que arranca das pessoas que faz de It chooses you interessante, é o que Miranda arranca de si própria ao entrar no desconfortável contato de um mundo, aos seus olhos, alienígena. É o caso do que sente diante da jaqueta de Michael: “Eu toquei seu couro e imediatamente senti um arrepio. É o que em geral eu sinto quando toco em coisas reais — é como um déjà vu, mas ao contrário da sensação de que já vivi isso antes, sou tocada pela sensação de que estou diante de algo pela primeira vez, de que todas as vezes anteriores aconteceram apenas na minha cabeça”.
Em outro momento, ao se despedir de um entrevistado com promessa de reencontro num futuro próximo, contempla a realidade por trás daquela despedida: “Mas no momento que eu voltei para o meu carro, sabia que jamais iria revê-lo. Jamais. Para mim pareceu óbvio que o mundo inteiro, e especialmente Los Angeles, havia sido projetado para me proteger das pessoas com quem eu estava me encontrando. Não havia qualquer lei que me impedisse de encontrá-las, mas isso não iria acontecer. LA não é uma cidade para pedestres, ou uma cidade de metrô, então se alguém não está no meu carro ou na minha casa, jamais irei encontrar essa pessoa. Estou absolutamente certa disso, quando deixo meu carro, é meu iPhone quem me protege. Faço questão de deixar o resto do mundo saber que não estou com ele, estou com a minha gente”.
Miranda é ingênua ao acreditar no seu esforço de mostrar aquelas pessoas como elas são, sem ficção alguma, como diz em certa altura da narrativa. Quer flagrar a vida como ela é e pronto. Esquece que o seu olhar de cidadã curiosa em biografias por trás de um anúncio de jornal já é um vetor ficcional por si só. Não é a vida daquelas pessoas que estamos lendo, mas sim a vida daquelas pessoas pelo olhar explicitamente/deliberadamente distanciado de uma artista conceitual, escritora, recém-casada que guarda o mundo no iPhone. Sob que circunstâncias aquelas pessoas são reais? Sob que circunstâncias a própria Miranda é real, já que ela havia criado uma situação artificial para lidar com um problema (a dificuldade em terminar seu roteiro).
Sim, como bem pontua o título do livro, há coisas que nos escolhem, que nos apontam o dedo indicador de uma forma agressiva — seja o contato com uma jaqueta de couro usada, a lista de números que guardamos no telefone ou mesmo o sexo que acompanha ou não a forma do nosso corpo —, mas somos nós que escolhemos o limite de verdade que conseguimos suportar. Estamos sempre forjando, ainda quando proclamamos a mais concreta das verdades.