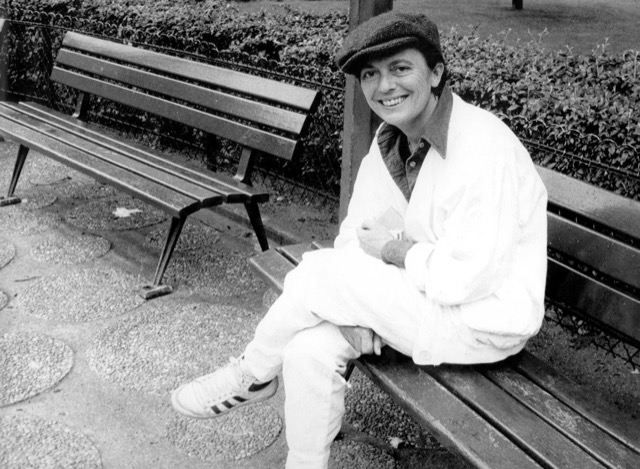
Por décadas esperamos pela tradução dos ensaios de Monique Wittig (1935–2003), textos fundamentais aos estudos de gênero que estão na genealogia de tantos outros – como Problemas de gênero, de Judith Butler, por exemplo – e que possuem afinidade com algumas teorizações lésbicas, como as de Adrienne Rich. Até então, somente tínhamos acesso a um único texto de Wittig, O pensamento straight, na tradução de Ana Cecília Acioli Lima para o livro Traduções da cultura (EDUFAL e Editora da UFSC, 2017), há anos fora de circulação. Pois, finalmente, este e outros ensaios sobre gênero e literatura da autora foram traduzidos no livro O pensamento hétero e outros ensaios, publicado pela editora Autêntica neste ano, com tradução de Maíra Mendes Galvão.
Como nos contextualizou le pesquisadorie Adriana Azevedo no prefácio desta edição brasileira, a escritora e teórica francesa se insurgia contra as tendências do feminismo francês das décadas de 1960 e 1970. Para Wittig, faltava um questionamento da heterossexualidade compulsória como um regime político de categorização e hierarquização, o que, em sua obra, se fez como uma teorização lésbica materialista que também alimentou o experimentalismo de seus textos ficcionais. Vale lembrar que apenas recentemente pudemos conhecer seus romances no Brasil, com a publicação de As guerrilheiras (Ubu Editora, 2019), em tradução de Jamille Pinheiro Dias e Raquel Camargo, e O corpo lésbico (A Bolha, 2019), traduzido por Daniel Lühmann. Com Wittig, política, teoria e literatura caminhavam se atravessando, como destacou Louise Turcotte no segundo prefácio de O pensamento hétero e outros ensaios – este livro no qual acessamos os textos políticos (e) sobre a escrita lançados por sua autora.
A teorização feita por Wittig foi radical na medida que indagava o próprio fundamento das categorias sociais, como quando escreveu: “Pois não existe sexo. Existe apenas sexo que é oprimido e sexo que oprime. É a opressão que cria o sexo, e não o contrário” (p. 33). Ela expôs a divisão sexual binária como derivada do pensamento dominante que naturaliza a heterossexualidade, do qual surgem “mulheres” e “homens” como classes em um sistema de exploração política e econômica. Wittig partiu do materialismo dialético, que elabora o fim das classes sociais constituídas pela exploração, para criticar a categoria sexo, defendendo sua abolição. O sexo é entendido como uma marca da opressão que reinterpreta a realidade material. Opondo-se ao marxismo, que naturalizava a diferença sexual, e às tendências feministas mencionadas há pouco, que se apoiavam na mulher como se esta fosse um mito derivado dessa diferença, a autora sugeriu um feminismo cuja consciência individual e de classe pudesse reestruturar o mundo social.
Profundamente interessada pela linguagem, a autora também criticou como a psicanálise tomava a heterossexualidade como fundamento para nomear os processos psíquicos e materiais: “Esses discursos de heterossexualidade nos oprimem uma vez que nos impedem de falar a não ser que falemos nos termos deles” (p. 59). Segundo Wittig, esse pensamento hétero (expressão que reverbera o “pensamento selvagem” de Lévi-Strauss) exerce a opressão de universalizar suas categorias, como as de mulheres, homens, sexo, diferença, tornando-as leis gerais para todas as sociedades e pessoas de qualquer época. É dessa oposição ao pensamento hétero que vem sua controversa frase “Lésbicas não são mulheres” (p. 67), pois, para a autora, mulheres apenas fazem sentido como linguagem do pensamento dominante que supõe a heterossexualidade como condição de significação e, portanto, de estruturação social.
Em diálogo com a filosofia política, Wittig argumentou em prol de outras linguagens e/m ações que falem em seus próprios termos e não segundo os pressupostos do contrato social hegemônico heterossexual. É contra esse status quo que ela faz o chamado ao esvaziamento da categoria mulheres, para que se rompa o contrato heterossexual e “se ao fim e ao cabo nos for vedada uma nova ordem social, que por isso só poderia existir em palavras, eu a encontrarei em mim” (p. 83).
Constantemente atenta à linguagem e aos sistemas epistemológicos que a constituem, Wittig realizou uma contribuição à dialética ao analisar como os binarismos da tradição filosófica hegemônica, fundados em parâmetros não apenas descritivos da diferença, mas também metafísicos e morais, não se resolviam bem na dialética de Marx e Engels. Contra as associações do Uno com o Ser e o Homem, ela propôs que se dialetizasse a dialética para transformar a concepção de humano: “Será que devemos manter esses termos [humanidade, humano, homem, homo] depois de terem sido apropriados por tanto tempo pelo grupo dominante (homens acima das mulheres) e depois de terem sido usados com o significado abstrato e concreto de humanidade como homem?” (p. 92). Diante dessa lógica, a autora sugere o ato de escapar das categorias binárias da diferença para que as realidades possam se manifestar em suas línguas.
Tratando de linguagem e/m literatura, Wittig criticou aquilo que se chamava de literatura feminina e que infelizmente continua presente na crítica literária. A autora expôs como a adjetivação da literatura faz com que esta, como substantivo, continue entendida como domínio dos homens, do pensamento hétero, da norma. A necessidade de especificar a Diferença torna evidente a suposição do universal, do geral, criando isolamentos. Em elogio à obra de Djuna Barnes (1892-1982) que torna os gêneros obsoletos,[nota1] Wittig afirmou que ela conseguiu tornar o minoritário universal e afetou a trama de sua época através de sua literatura. No entanto, o ponto fundamental de seu argumento se encontra na problemática daquilo que hoje entendemos por “nichos”, recortes de identidade: “Ele [o texto sobre/de autoria homossexual] se torna interessante apenas para os homossexuais. Visto como símbolo ou adotado por um grupo político, o texto perde sua polissemia, torna-se unívoco” (p. 101). A complexidade do trabalho literário, em sua letra e/m sentido, afunila-se pelo recorte do tema nessa perspectiva, o que o isola de outros diálogos potentes, entre outros textos e entre públicos leitores.
Afinal, “a literatura não deve ser subserviente ao engajamento” (p. 108) o que, no entanto, não a separa de sua participação política, como, por exemplo, na marca do gênero nos pronomes pessoais, questão que Wittig elegeu como assunto de suas obras. Em sua discussão sobre gênero e/m linguagem, feita neste livro de ensaios e experimentada em sua ficção, Wittig de fato promoveu aquilo que defendia: uma “transformação que afetaria não só o nível conceitual-filosófico e político, mas também o poético” (p. 128), que não se dirige a um grupo, mas parte de vários, e se propõe a afetar toda a ordem social.
[nota1] Escrevi um artigo sobre Djuna Barnes e seu romance Nightwood para a edição 170 (abril/2020) deste Pernambuco. Texto disponível em: https://suplementopernambuco.com.br/artigos/2466-desejo-al%C3%A9m-dos-nomes-e-suas-formas-djuna-barnes-e-a-teoria-queer.html