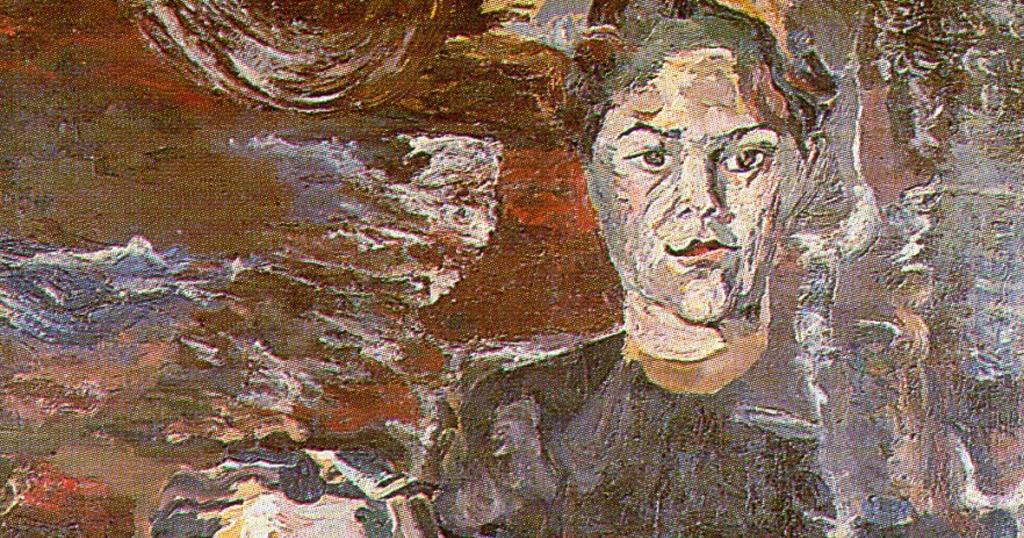
Ao terminar a leitura de Dia Garimpo, de Julieta Barbara – primeiro lançamento do selo Círculo de poemas, parceria da Fósforo Editora e da Luna Parque Edições –, dois tipos de representações imagéticas muito específicas insistiram em me acompanhar: o dragão e as suas caudas, sempre tão pesadas; e a imagem de um espaço que se manifesta em contínuo do que é divino, na pista do que disse o poeta modernista Raull Bopp na carta que abre a edição: “Há atrás das palavras uma porção de coisas que a gente não sabe, um desejo de reunir distâncias (...)”.
Assim me chegou Julieta Barbara, escritora paulistana que publicou um único livro, este aqui discutido, 1939. Como muitas outras poetas, artistas, escritoras e pensadoras que surgiram no recorte do modernismo, Julieta Barbara obteve uma escassa recepção crítica na época em que foi lida, sendo levada pela enxurrada masculina que perpetua os debates até hoje. Sobre esse aspecto, o poeta Mariano Marovatto escreve, no prefácio que acompanha a edição: “Tudo indica que se falou com interesse sobre Dia garimpo nas rodas literárias à época de seu lançamento. Por outro lado, escreveu-se pouquíssimo sobre a obra. As modestas notas críticas que saíram a seu respeito afirmavam que o livro ‘vinha obtendo grande repercussão nos nossos meios literários’ (Diário de Notícias, 30/7/39) e que trazia uma bem-vinda ‘contribuição pessoal que há de interessar à crítica’ (Dom Casmurro, 12/8/39)”.
Desse modo, observa-se que o livro estava restrito ao meio intelectual (predominante masculino) e que a sua poesia tinha algo de personalista que a colocava quase como que em detalhe – uma ou outra coisa a ser dita – diante do rebuliço que o modernismo estava promovendo. E se, nos poemas de Julieta Barbara, estivesse, na verdade, muito do que se pode ser dito a partir da perspectiva de reestruturação da identidade nacional, ainda em processo?
Volto, então, às duas figurações: o personagem medonho, monstro, desafiador, e a paisagem que não se mostra só em sua formação ufanista da fauna e flora brasileira, mas sim pela pela Iara no sertão de seu avós e pelo Roque Nagô, Roque Cabinda – “Na barriga da rajada/ Principiava o céu estrelejante a ficar lindo/ Para as bandas de lá/ Penteando os ombros virgens do outro mundo/ Na crosta lívida”. Um espaço feito pela linhagem de um povo, pela ancestralidade que se fez nossa terra antes de ser o que o outro nos apontou. “Era um canto de lá/ Que vinha no seio da lua de leite atroando/ Que arfava na gamela / E comi as cinco bocas de bruço atroando/ Que no terreiro/ Era o bode era o santo era orixá atroando”.
No grego, a palavra dragão vem do significado monstro de olhos cruéis. Em várias narrativas mitológicas, vencer o dragão é como passar por um portal e encontrar o tesouro do outro lado, estar em contato com algum tipo de recompensa e de alívio. É também uma resposta de que se consegue seguir na jornada e criar outras saídas. “Tudo ficou dor de cinza/ Cheia de escuridão/ Cheia de claridade/ Na viagem do dragão”, escreve a poeta que escolheu estar com o monstro não como obstáculo, mas sim como agente do tempo e da invenção.