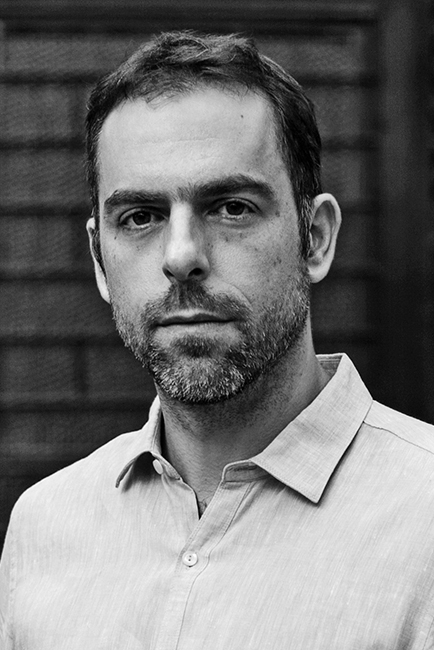
“O Deus que mora na proximidade do haver avencas/ esse Deus dos fetos/ Das plantas pequenas é a luz/ Saindo pelos olhos/ De minha amiguinha linda/ De minha amiguinha”, ecoa os versos de Caetano Veloso, na canção Pelos olhos, durante toda leitura de O deus das avencas (Companhia das Letras), novo livro de Daniel Galera. Planta fetal, a avenca tem ação desinflamatória e desintoxicante, utilizada milenarmente desde povos indígenas até a Grécia Antiga. Uma planta sem sementes ou flores, que cresce discreta, apesar de seu potencial medicinal. Das pequenas ervas, até as proporções metafísicas e pós-humanistas, em três novelas Daniel Galera apresenta a aflição de um processo de nascimento, uma distopia a lidar com assombrações familiares e uma busca pela transformação radical em meio a ruínas, num livro sobre a coexistência de finitude e vida.
Onze de março de 2020. Quando a Organização Mundial de Saúde anunciou o estado de pandemia, fomos acometidos coletivamente por uma espécie de sentimento de finitude. Mais que isso, a certeza da finitude. Passado mais de um ano – e até onde escrevo com o país próximo à marca de meio milhão de vidas perdidas –, parecemos estar habitando um fim de mundo em looping. Para quem trabalha com as artes, a crise sanitária foi também um inibidor potente da própria atividade laboral. Tanto do ponto de vista do fechamento de aparelhos culturais, quanto da criação. Decerto que muitos grandes livros foram escritos em tempos de crise, de Boccaccio a Kafka. Mas quais os impactos de uma pandemia e de um estado de genocidio para a literatura de ficção contemporânea? Como pontuado pelo pesquisador Cristhiano Aguiar, em texto recente para o Pernambuco, sobre o rosto da literatura em tempos de pandemia, “contra o silêncio, não mais da doença, e sim da política e dos apagamentos, a literatura se fez e se fará ouvir. Nossos enredos e desenredos estão apenas começando”. O deus das avencas soa como uma especulação, nesse sentido. Ou talvez três formas distintas – porém coesas – de lidar com o próprio criar ficcional, em uma situação de fragilidade da membrana que separa realidade e ficção.
A primeira das novelas carrega o título do livro. Temos aqui um casal, que, às vésperas das eleições de 2018, se prepara para a chegada do primeiro filho. Se Galera estreou no romance com um livro absorto pelo signo da morte, O dia em que o cão morreu (2003) – antes disso havia publicado o volume de contos Dentes guardados (Livros do Mal, 2001) –, no texto que abre seu novo título constrói uma efígie de nascimento. Uma espécie de espera marcada pela angústia da vinda, ainda que marcada pelo sentimento de velha novidade. Tanto no ato do parto quanto no sentimento de um Brasil novamente se afundando num governo autoritário. Estamos fadados aos mesmos ciclos. De toda maneira, Galera mantém o olhar para o fluxo de elaboração de seus personagens – mesmo que por vezes de forma bastante expositiva, comprometendo as sutilezas da história –, trazendo uma dimensão muito íntima para os cenários criados em suas narrativas.
A partir de um deslocamento temporal, as novelas subsequentes abandonam os resquícios de realismo e agravam o tom distópico típico da ficção científica. É como se o livro subisse um degrau no tom para virar uma obra de gênero, mesmo que encare os contornos distópicos desde sua primeira história. Na segunda delas, Tóquio, observamos um grupo de pessoas lidando com as mentes de seus familiares retidas em dispositivos. Enquanto Deus das avencas trata de um nascimento, Tóquio evoca um ponto de vista transumanista para a ideia de memória: sua história conta como um rapaz frequenta terapia coletiva, vivendo numa realidade de escombros, para se preparar para livrar-se enfim da consciência da mãe presa num dispositivo. Como quem quer dizer que no futuro somos sempre assombrados por escolhas pretéritas. E somos. Mas a potência da história resta em pensar um novo mundo com doenças antigas. Novas distopias com velhos assombros. Quais as formas possíveis de habitar este talvez já não tão admirável mundo novo? Já Bugônia, a última novela da edição, é uma especulação sobre a possibilidade de se viver em sociedade após o fim do mundo. Em sua narrativa, parte para o esforço de uma comunidade humana pós-apocalíptica em dividir o protagonismo com outros animais e plantas.
Em Bugônia vemos um Galera interessado no estado das coisas, na coexistência de tudo. Talvez o que mais sintetiza um apontamento de futuro no livro. A própria ideia da comunidade, que traz consigo uma forma de reinterpretação para o signo da família que já acompanhava as outras duas novelas. Outras formas de família e de sociedade, pensando uma chance de um recomeço do tecido social de um ponto zero. Sem adiar o fim do mundo, que infelizmente já aconteceu, mas criando a partir dele. Exuberante em metáforas, infelizmente algumas delas explicadas até demais, busca uma razão metafísica dentro da distopia e toma o terreno da ficção científica como forma de especulação do “eu”. Um “eu” que compartilha de angústias coletivas e pessoais, sobre o futuro, o presente e o passado recente do que viveu. Um necessário processo de articular, a partir da ficção, alguma maneira de habitar estes mundos.