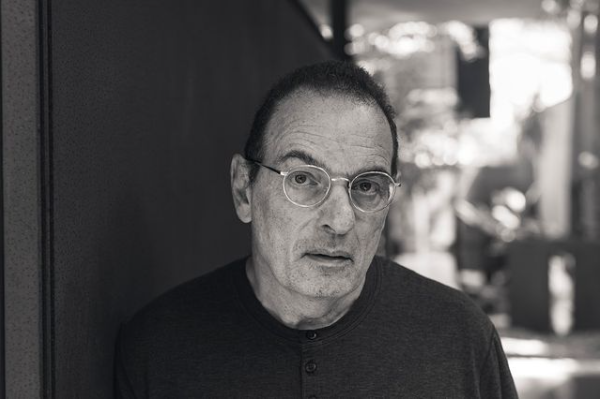
Desde o subtítulo de O ar que me falta (Companhia das Letras), infância e depressão andam juntas sob o olhar implacável de Luiz Schwarcz, numa narrativa que mantém o leitor preso até o fim, tal a intensidade da reminiscência e a destreza do narrador. A cena inicial em que, já adulto, se prepara para esquiar — azul do céu, brancura da neve, ar puro — não é um momento de alívio ou de contemplação da natureza, mas prelúdio de uma reação adversa do corpo e da mente, “um nó seco inexplicável na garganta”, metáfora que o leitor verá desenvolvida em toda sua extensão daí por diante.
A potência das crises depressivas e sua busca de explicação remetem, de imediato, à lembrança do pai, em especial sua insônia, o “som das pernas batendo na cama sem parar”, que o filho irá repetir numa de suas piores crises. O “barulho seco” do passado delineia os contornos da lembrança e faz dela não apenas a história do sujeito, mas a história de sua família e, por meio dela, metonimicamente, a da diáspora judaica. Daí a força generalizadora e cosmopolita das memórias.
A natureza confessional do texto ganha, assim, uma amplitude inesperada, tecida por diversas entonações e distintas temporalidades, atualizadas no presente narrativo pelo incessante ir-e-vir do passado de quem recorda — etimologicamente quem “traz de novo ao coração”, sede da memória. Por isso a determinação do memorialista de dizer tudo com rigor, sem meias palavras ou subterfúgios, não esconde, mesmo se quase sempre contido, o afeto que persiste como traço marcante de seu relato de vida, em muitos sentidos exemplar.
Uma cena traumática é o novelo que a narrativa desfia com linguagem direta e medida, sem adjetivações desnecessárias: Laiós, como era chamado o avô de quem o narrador herda o nome Luiz, empurra o filho para fora do trem que os conduz juntamente com outros judeus para o campo de extermínio nazista em Bergen-Belsen, na Alemanha. “Foge, meu filho, foge” é a frase que, como uma sorte de mantra para os homens da família, ecoa e se repete para sempre, permeada por dor e culpa insuportáveis. Salvo, o jovem André, pai do Luiz narrador, só saberá dos dias finais de seu próprio pai nos anos 1960, já há muito vivendo no Brasil. O episódio do trem é condensação de tempo e espaço que carrega de significado histórico a linhagem e as crises depressivas do escritor, inserindo-o numa comunidade de destino que se vai configurando à medida que o texto avança e recua, em contraponto entre passado e presente, Europa e Brasil.
O “menino muito sério e responsável”, leitor do Thesouro da juventude, uma espécie de guia de vida enciclopédico e manual de instrução fantasioso comum às crianças da sua geração, sentirá os primeiros sinais da depressão na adolescência, sem saber muito bem defini-la ou explicar suas razões. Envolvido no dia a dia da família e nas práticas religiosas pela vida afora, o filho e neto único irá se “cobrar em demasia”, desde então, nos vários esportes que pratica meio a contragosto, nos estudos, na relação com os pais e avós, na profissão. O sucesso internacional como editor, já adulto, agrava a situação depressiva, em vez de contribuir para superá-la. Como na construção da desejada casa de campo — “eu olhava para os alicerces da futura casa e enxergava ruínas”, observação que pode ser lida como bela e pungente síntese do narrado.
A natureza maníaco-depressiva da doença que acomete o narrador se traduz em marcas corporais que a medicação, por meio de um “mecanismo perverso”, reforça em vez de aliviar, atuando sobre essas marcas como um ponto de articulação sincrônica da linguagem, corpo da escrita. O ato memorialístico enquanto reformulação do vivido corporifica antigas sensações de “raiva e culpa” e, ao mesmo tempo, acentua a “timidez social” e a “reclusão” inerente ao ato de escrever, de certa forma superadas pela publicação do livro atual, uma forma de romper o silêncio e, paradoxalmente, reforçá-lo pela proximidade e pelo distanciamento em relação ao leitor.
A atuação decisiva da esposa e dos filhos nas diferentes etapas das crises, que vêm avassaladoras e parecem insuperáveis, dá aos momentos dramáticos leveza inesperada para narrativas dessa natureza: uma espécie de fino alinhavo que reveste o tecido textual de afeto e compreensão. Por outro lado, a paixão de colecionador — livros, discos, obras de arte —, além de evidenciar a condição social e o lado maníaco-obsessivo do escritor, o introduz num processo de identificação além dos limites familiares. O colecionador se vale da singularidade e não do típico e do classificável, agindo contra a reificação, que é uma espécie de esquecimento.
“História de uma curta infância e uma longa depressão”, com certeza, mas, antes de tudo, história e testemunho da formação de uma personalidade singular que une três gerações, como nas cerimônias religiosas em que se afirmam e que expressam a riqueza da vida cultural judaica. Na escrita, o narrador entretece, enfim, vida, cultura e religião, numa forma de identidade que pode se constituir livre da culpa e da dor. Procura e palavra então se realizam, segundo a epígrafe de Drummond, na instância da letra, fazendo dela, mais do que uma confirmação, uma revelação imprevista para o escritor e o leitor.
Por tudo isso, o corajoso livro de Luiz Schwarcz já tem assegurado um lugar especial na história da memorialística brasileira.