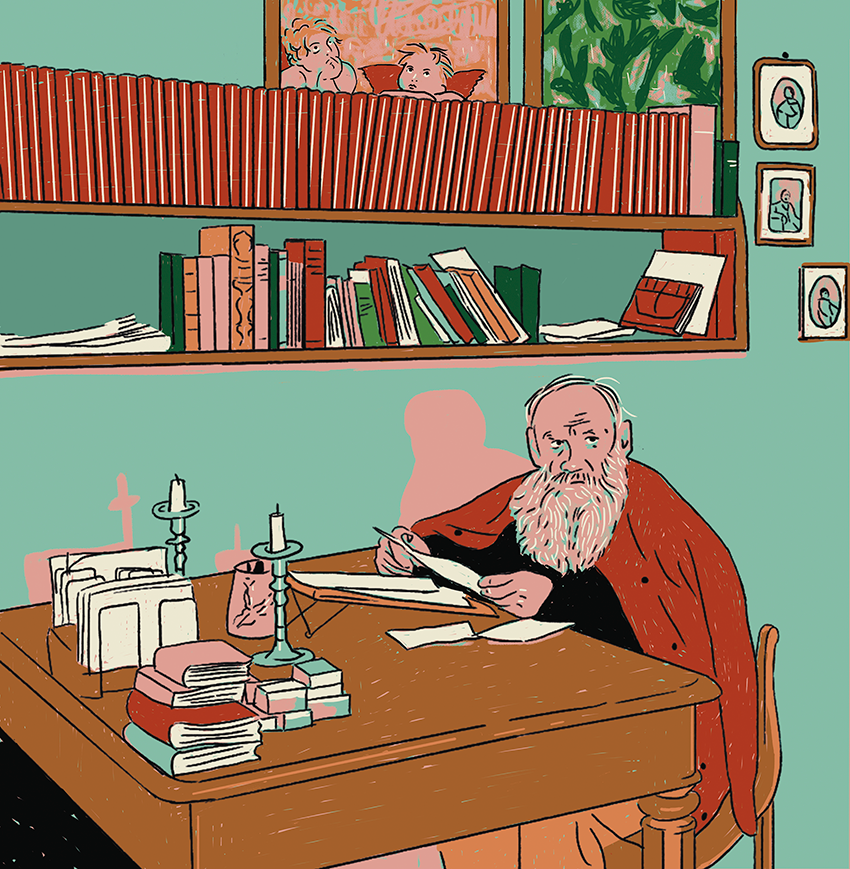
Respice finem, ou “Leve em conta as consequências”, é o lema que Ivan Ilitch manda gravar em uma medalhinha. Tais palavras de ordem, reveladoras de um ímpeto de ser consequente custe o que custar, de levar as próprias convicções até as últimas consequências, mesmo que paradoxais e absurdas ao olhar exterior, atravessam não apenas a trajetória dos protagonistas das narrativas reunidas no volume das novelas de Liev Tolstói (1828-1910), Novelas completas, recém-lançado pela editora Todavia, mas também são significativas do tipo de realismo construído pelo autor. A tradução é de Rubens Figueiredo. Vale destacar que o título do livro, obviamente, não reúne todas as novelas escritas por Tolstói. O "completas" aqui diz mais sobre a maestria desses textos, "completas" como definitivas, seguramente entre os momentos mais altos do gênero.
Cada uma das quatro novelas, Felicidade conjugal (publicada em 1859), A morte de Ivan Ilitch (1886), Sonata a Kreutzer (1890) e Padre Siérgui (1911) [nota 1], organizadas cronologicamente no volume em um arco que vai da obra mais jovem à obra mais madura do autor, é precedida por um breve e informativo comentário, no qual o tradutor situa a narrativa em questão no conjunto da produção tolstoiana, apresenta fatos biográficos e históricos e esboça traços formais e estilísticos. A destreza do tradutor e intimidade com o texto, plenamente desenvolvida e revelada no seu trabalho com os grandes romances, se evidencia também nas novelas. O texto em português flui com a naturalidade necessária para causar os efeitos estilísticos do original.
O conjunto permite ver a pena de Tolstói se exercitar em modalidades narrativas diversas, produzindo um prisma em que a forma realista a um tempo incorpora e transgride padrões do romantismo, da hagiografia e do monólogo dramático. Variam também os tipos de narradores e pontos de vista empregados: a narradora feminina em primeira pessoa de Felicidade conjugal, os narradores oniscientes em terceira pessoa de A morte de Ivan Ilitch e em Padre Siérgui, e o narrador ouvinte de Sonata a Kreutzer. A leitura dos textos na sequência em que são apresentados oferece um percurso interessante, pelo qual é possível observar, por um lado, o deslocamento de temas do primeiro para o segundo plano (a sexualidade, o matrimônio e a vida conjugal, por exemplo) e, por outro, revela a persistência de inquietações que parecem nunca abandonar o autor — é o caso da artificialidade da vida social, em particular nos centros urbanos.
Anunciado no título, o casamento é o leitmotiv de Felicidade conjugal, novela na qual Tolstói constrói um relato autobiográfico feminino, uma empreitada ousada para o jovem autor. Trinta anos mais tarde, a mesma questão reaparece em Sonata a Kreutzer, porém com um grau de elaboração bastante distinto. Se Felicidade retrata o sentimento genuíno e positivo entre a jovem Mácha e Serguéi Mikháilitch, um homem consideravelmente mais velho, em Sonata, o protagonista Pózdnichev olha a possibilidade de vida a dois pelo prisma da impossibilidade, do fracasso imanente a essa empreitada.
A narrativa de Felicidade conjugal é mais linear: retrata o nascimento, desenvolvimento e morte (além de um potencial renascimento, em outras bases) do amor — um ciclo que mimetiza, à moda romântica, os movimentos da natureza. A refração dos fenômenos naturais no estado de espírito dos personagens pode ser observada, por exemplo, na descrição de um esboço de reaproximação do casal, após muitos desgastes na relação: “lá embaixo, as rãs coaxaram, de novo os rouxinóis se agitaram e, dos arbustos molhados, começaram a chamar e responder, de um lado e de outro. À nossa frente, tudo clareou”.
Entre as duas narrativas é notável uma mudança drástica no entendimento sobre a possibilidade de realização amorosa conjugada com a satisfação carnal, o que, com efeito, coloca em xeque a própria instituição do casamento. Apenas Felicidade conjugal apresenta um tipo de amor genuíno entre um homem e uma mulher, e este, segundo a perspectiva tolstoiana, significa um sentimento de doação e entrega plena sem qualquer traço de orgulho e vaidade, implicando no limite a anulação do “eu” e uma abertura radical para o “outro”. Não à toa, Mácha sente: “Todas as minhas ideias, todos os sentimentos, naquele tempo, não eram meus, mas sim ideias e sentimentos dele, que de repente se tornavam meus, se incorporavam à minha vida e a iluminavam”. Esse amor que produz um tipo paradoxal de individualidade desindividualizada é apresentado numa chave positiva pelo autor. Um curioso testemunho disso foi sua recepção calorosa à protagonista do conto Queridinha (1898), de Anton Tchékhov (1860-1904), cuja personalidade camaleônica, que se adaptava aos gostos de cada novo amor, foi enaltecida por Tolstói.
Embora tratem de temas universais da Filosofia, da Sociologia e da Psicologia, a potência das novelas decorre menos de uma coesão teórica ou estofo filosófico do que da carga dramática de sua apresentação. Nesse sentido, é interessante observar o enredo de Sonata a Kreutzer, iniciado por um prólogo sobre a correlação entre o nível de instrução das mulheres e a felicidade no casamento. O palavrório generalista que contrapunha conservadores e liberais na querela ganha força e sentido apenas quando ouvimos o relato vivo, de carne, osso e sangue do feminicida Pózdnichev.
A constatação de que a vida em sociedade é contraditória no mais alto grau, a ponto de que um oxímoro do tipo “devassidão decorosa” seja a medida ideal do comportamento masculino, produz nos personagens uma busca intransigente por certa lógica férrea que não raro resulta, ela mesma, em novas contradições e paradoxos. É assim que Pózdnichev, ao escrutinar as diferenças entre os códigos sociais e morais estabelecidos para homens e mulheres, chega à surpreendente conclusão de que o principal direito vetado às mulheres não é ao voto ou ao exercício de certas profissões, mas o interdito à possibilidade de “usar o homem e dispensá-lo conforme o seu desejo”. Não obstante, esse olhar cru sobre a realidade leva o protagonista a radicalizar não em favor de uma devassidão, digamos, mais democrática, mas de numa defesa intransigente do celibato.
“Tudo está pelo avesso, tudo está pelo avesso!…”, exclama Pózdnichev. Ivan Ilitch e Padre Siérgui constatam o mesmo. Se o protagonista de Sonata sabe de antemão que os códigos da vida em sociedade são verdadeiros disparates e atentados contra a pureza moral, os outros dois passam praticamente toda vida aferrados aos valores de seu meio social. Somente no final de um longo percurso biográfico marcado por profundo materialismo e valorização das aparências e da glória mundana, Ivan Ilitch e Síergui têm revelação epifânica de que suas vidas pregressas não passavam de simulacro.
Quando, no leito de morte, Ivan Ilitch descobre que “em lugar de morte, havia luz”, um espelho invertido se coloca diante do leitor, a base semântica se esvanece e as palavras podem ser lidas como seus antônimos. Assim, a morte que dá título à novela é, de fato, aquilo que Ivan Ilitch chamara de vida, uma existência artificial da qual todos os traços de humanidade genuína, preservados apenas na infância, são gradualmente extirpados na medida em que se dá sua completa aculturação na sociedade burguesa. Paradoxalmente, a vida que existia na infância só pode ser resgatada quando o protagonista se encontra num estado transitório de convalescença, literalmente entre a vida e a morte.
No universo tolstoiano, a figura do mujique, o trabalhador rural, é com frequência colocada como contraparte à individualidade burguesa. Impossibilitado de medir seu valor pelo acúmulo material, o homem do povo opera por uma escala de valores totalmente distinta daquela que rege o comportamento das classes elevadas. Assim, o copeiro Guerássim não se exime de executar com toda naturalidade a tarefa de limpar os excrementos do patrão moribundo Ivan Ilitch. Tendo preservado o vínculo fundante com a natureza (esfacelado no sujeito da alta sociedade), o mujique sabe que a dor, os dejetos e a morte são parte da vida. Não estranha, portanto, que apenas Guerássim encare o estado decrépito de Ivan Ilitch e ainda se apiede dele, uma amostra de humanidade que comove o enfermo e se revela impossível para seus pares de mesmo nível social.
O estrato popular da sociedade reaparece em Padre Siérgui. Nascido Stiepán Kassátski, o militar abandona carreira e casamento para ordenar-se monge. Nesse novo relato biográfico, Tolstói alinhava procedimentos da hagiografia com realismo psicológico. Kassátski, que “julgava indispensável alcançar a perfeição e o sucesso e obter elogios e a admiração das pessoas”, ascendeu na carreira, na vida social, mas fracassou no amor. Movido pelo mesmo “desejo de supremacia”, resolve desbravar o caminho espiritual. O que antes era um ímpeto de estar acima de todos converte-se em submissão integral à vida no claustro. A aparente reviravolta, contudo, é apenas a outra face da mesma moeda da glória mundana.
Na jornada de Siérgui ressurgem dois elementos elaborados em outras novelas: o contato com a natureza e com o povo simples como chaves para libertação dos grilhões da existência artificial burguesa. A certa altura, Siérgui se dá conta de que a “chave são os rouxinóis, os besouros, a natureza”, e seu rompimento definitivo com a busca desenfreada pela glória travestida de altruísmo ocorre a partir de um encontro reparador com uma mulher do povo, após o qual a identidade aprisionada aos valores da sociedade moralmente degradada se dissolve de uma vez por todas. Padre Siérgui, outrora Stiepán, torna-se um peregrino anônimo.
As novelas mostram um Tolstói que não hesita diante do absurdo, que não se esquiva um milímetro sequer diante de contradições demasiadamente humanas. De tão objetivo e cirúrgico na revelação dos fatos em sua concretude e crueza, o corajoso estilo narrativo do autor paradoxalmente gera estranhamento, como bem observaram os teóricos do Formalismo Russo. A obstinação lógica — respice finem — dos protagonistas reprisa o modus operandi narrativo e, assim, redobra sua potência.
Além de ter sido exímio ficcionista, Tolstói esboçou em O que é arte? uma teoria estética própria, da qual o Pózdnichev de Sonata é uma espécie de porta-voz. O feminicida revoltado descobre algo de que Tolstói parece ser plenamente consciente, isto é, que a arte exaspera a alma, transporta para uma condição outra, contagia. Resta-nos a questão: com o que pretende Tolstói nos contagiar?
[nota 1 ] Felicidade conjugal foi escrita entre 1858 e 1859. De 1882 a 1886, o autor criou A morte de Ivan Ilitch. Sonata a Kreutzer foi trabalhada de 1887 a 1890. Padre Siérgui, por fim, foi iniciada em 1890-1891, para ser retomada pelo autor em 1898 e publicada anos mais tarde, pouco depois da morte de Tolstói.
>> Priscila Nascimento Marques é pesquisadora e doutora em Literatura e Cultura Russa pela USP.