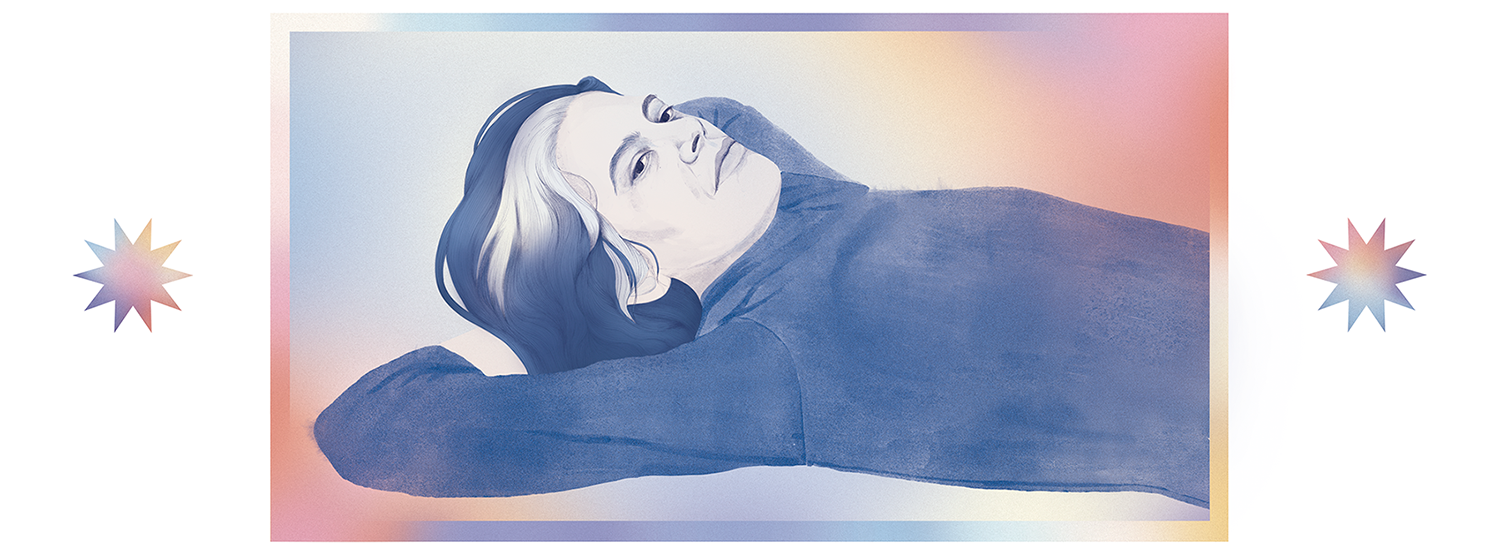
“Vivemos numa época assim, em que o projeto de interpretação é em larga medida reacionário e sufocante. [...] Numa cultura cujo dilema já clássico é a hipertrofia do intelecto em detrimento da energia e da capacidade sensual, a interpretação é a vingança do intelecto contra a arte.” Esta passagem presente em Contra a interpretação (1966), livro-fetiche de Susan Sontag (1933-2004), volta a assombrar o mundo com a cruzada da autora por uma “erótica da arte”. Com tradução de Denise Bottmann, a obra reaparece oportunamente para fazer jus ao período pós-relato-biográfico em que a autora vira personagem de sua própria vida na biografia escrita por Benjamin Moser (Sontag: Vida e obra), e põe o cerne do debate em como ela construiu um pensamento sobre crítica que aponta um esgotamento do sentido e a busca pela dimensão sensível da arte.
Em Contra a interpretação tem-se uma Sontag chegando nos 30 anos, inquieta com um status supra-interpretativo da crítica e tentando embaralhar verdades colocadas na mesa como cartas definidas sobre crítica cultural. Interpretar o mundo parece reduzir o mundo — sugere. Mas como não o fazer se somos interpelados incessantemente? O impasse parece ser o da “vingança do intelecto contra o mundo”. E arremata: “O mundo, nosso mundo já está suficientemente esvaziado, empobrecido. Acabemos com todas as suas duplicatas, até voltarmos a vivenciar de maneira mais imediata o que temos”.
No início dos anos 1960, quando os textos foram escritos, aquilo que viria eclodir em 1968 estava ruminando nos ambientes intelectuais. Emergência das noções de gênero, raça, nação, excessiva politização dos intelectuais, sombra do comunismo. O mundo esvaziado a que Sontag parece indicar é o do “isso é isso”, o excesso do código linguístico: tudo tem nome, cor e gênero. Se tudo tem nome, para Sontag era possível ter “nome”. Porque a interpretação é o sentido das coisas, mas também as aspas. O mundo interpretado é “mundo”.
Tente não se assombrar: “Qualificar O triunfo da vontade e As Olimpíadas de Leni Riefenstahl como obras-primas não é maquiar a propaganda nazista com uma leniência estética. A propaganda nazista está ali. Mas também há ali algo mais que, se rejeitarmos, será em detrimento nosso. Por projetarem os movimentos complexos da inteligência, do encanto e da sensualidade, esses dois filmes de Riefenstahl (únicos entre as obras de artistas nazistas) transcendem as categorias da propaganda ou mesmo da reportagem. Encontramo-nos — com certo desconforto, claro — vendo ‘Hitler’ e não Hitler, as ‘Olimpíadas de 1936’ e não as Olimpíadas de 1936. Pelo gênio de Riefenstahl como cineasta, o ‘conteúdo’ veio — suponhamos que até à revelia de suas intenções — a desempenhar um papel puramente formal”. Sontag ao mesmo tempo que emprestava o termo “obra-prima” para dois filmes que ressaltam o nazismo, chamava atenção para a sensualidade da forma, o rigor da visualidade, para aquilo que nos trai: a beleza. Sua crítica é a de observar as concomitâncias e não as rupturas. As coisas são por adição. Assim respondia, em meio a uma ressaca pós-nazismo, sobre o assombro de admirar uma obra de arte nazista. Como fazê-lo, senão com um golpe na hermenêutica?
A forma faz deslizar conteúdos, assim como as enunciações. A obra de arte não pode ser reduzida ao “isto” do conteúdo, uma vez que constrói um paralelo ao mundo — uma opacidade em que as transparências só ressaltariam a violência da obra com o mundo e vice-versa. Enquanto os jovens debatem sua pouca ênfase “política” (ressalto aqui as aspas), ela vai se encantando ao mesmo tempo pela ficção científica e pela “grande literatura”; por cinema comercial e pelo cinema de autor, deixando um tanto poroso o lugar da crítica “engajada”. Lembro da crítica de Vivian Gornick no The New York Times sobre a biografia escrita por Moser e a “pouca ênfase política” de Sontag. Mas de que política Susan parecia tratar?
Aposta-se no vigor iconoclasta da política. No deslocamento dos objetos para um olhar quase blasé. A crítica não pretende extrair verdade(s); é, antes, um muxoxo, um incômodo, um deleite desavisado – ou um flerte. Pra que converter o mundo “neste mundo”? O tédio de Sontag é um pouco o abuso juvenil com uma série de prescrições. Em prefácio, ela diz achar um tanto ingênua sua posição diante de algumas obras que analisa. Mas talvez estejam aí — num certo descompromisso com a “grande narrativa” da crítica literária — o trunfo e a longevidade do seu pensamento. Na juventude da escrita insolente ela busca certo rompimento do campo, do cânone e do esgarçamento de sua escrita por caminhos improváveis.
A insolência reside também no trânsito entre literatura, cinema, pintura — não há hierarquia posta, as obras se movem, se aproximando ou se afastando de outras, como nos melhores estudos comparados. Questiona-se quase sempre a própria autoridade. Por vezes, a política se revela na mobilização de argumentos quase fúteis, com textos que deliciosamente parecem transitar entre analogias improváveis e pitadas de fofoca, como naqueles sobre os Cadernos de Camus e sobre A idade viril, de Michel Leiris.
Há recusa a um projeto de interpretação, sempre inconcluso: “Nossa tarefa é reduzir o conteúdo, para podermos ver a coisa”. Mas em alguns contextos culturais, afirma, a interpretação é um ato libertador, um meio de rever, de transvalorar, de escapar ao passado morto.
Os textos reunidos em Contra a interpretação foram publicados em revistas literárias, acadêmicas e ensaísticas. Observa-se uma crítica que personifica obras como personagens, personagens que são sombras de seus autores. Mas tudo é penumbra nesta escrita. A erótica do texto é o toque e o tatear na superfície da linguagem. Susan Sontag nomeia: metacrítica. “Eu estava escrevendo de maneira ardorosamente parcial sobre problemas que me foram levantados por obras de arte, sobretudo contemporâneas, de diversos gêneros: eu queria expor e elucidar os pressupostos teóricos por trás de juízos e gostos específicos. Não me pus a elaborar uma posição sobre as artes ou sobre a modernidade; mas, mesmo assim, parecia se formar uma espécie de posição geral que se expressava com uma insistência cada vez maior, em qualquer obra específica que eu estivesse abordando”. Sublinho aqui: tomar partido.
E como se estivesse no teatro, sentada, observando trabalhos que fossem de Ionesco à morte da tragédia, e depois soltasse nossa mão — é desta forma que Susan Sontag escreve Notas sobre o camp. Com ele, nos faz perceber que é na afeição pela deriva que as linguagens se apresentam mais claras. Vira a intelectual pop que muitos amaram odiar.