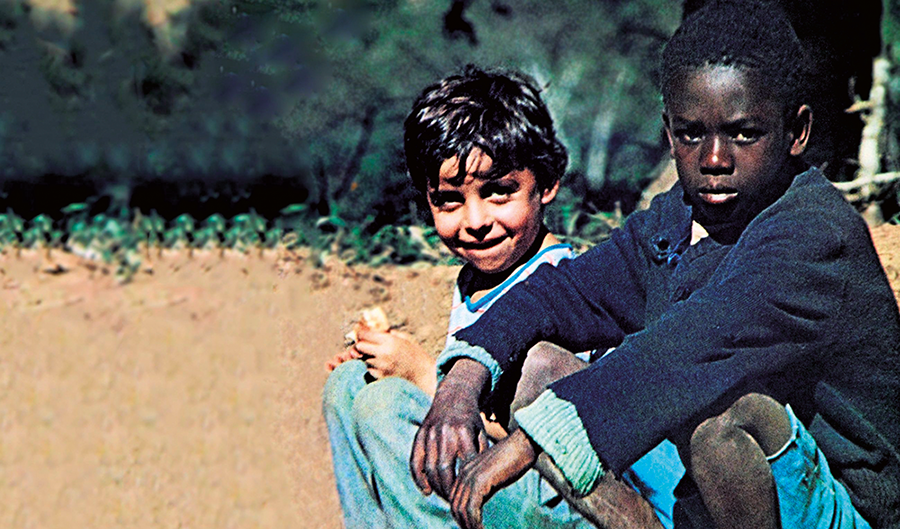
Antes de embarcar para Belo Horizonte, em 2016, eu abasteci o aparelho de mp3 com Clube da esquina e outros discos que fomentavam meu imaginário acerca de Minas Gerais, suas cidades montanhosas e um sem número de nuvens ciganas que eu acreditava pairar sobre elas. Durante a viagem, percebi que minha relação com o álbum de Milton Nascimento e Lô Borges havia saltado de um eixo emocional, de transcendência e alguma melancolia, para uma leitura política mais efetiva e dolorosa, nos meses que seguiram ao golpe político-judiciário contra a presidenta Dilma Rousseff, naquele mesmo ano.
Não bastassem as diversas possibilidades de associações metafóricas entre o disco, produzido na ditadura militar, e os nebulosos e arrastados meses de 2016, Dilma é natural de Belo Horizonte, vivenciou a maior parte de sua militância contra o regime em cidades mineiras e havia sido submetida a pavorosas sessões de tortura em Juiz de Fora, Zona da Mata de seu estado natal, no mesmo 1972 em que o álbum fora concebido. A viagem não se tratava mais de buscar vestígios de um clube “transcendental” pelas ruas de BH, mas de revisar certo imaginário ingênuo e bem sedimentado que construí em torno do álbum.
Talvez as placas douradas em referência ao Museu Clube da Esquina, que existe apenas de maneira simbólica nos pontos em que elas estão afixadas, onde seus membros costumavam se encontrar, não tenham contribuído para a resolução dessa questão tanto quanto o volume da coleção O livro do disco sobre Clube da esquina, escrito pelo jornalista e antropólogo Paulo Thiago de Mello. Durante a leitura, me dei conta de que as duas visões que expus aqui não eram opostas, mas complementares: a melancolia serena e o afeto não suprimiam uma leitura doída e engajada do disco – pelo contrário, a potencializavam.
Uma chave de leitura fundamental para o álbum consiste justamente nas relações de afeto entre os membros do “clube”, que, nas palavras de Mello, mais do que um disco ou um movimento, fora uma aventura amorosa fundada na amizade. Nesse sentido, Milton e Lô arregimentaram letristas, arranjadores e demais parceiros dos bailes da vida em prol da construção de um projeto coletivo que, ao lado do Tropicalismo, passou a constituir um dos pilares da música brasileira moderna. Para além do desbravamento estético na música brasileira, no entanto, a dupla havia arquitetado uma redoma de afeto e resiliência frente à repressão da ditadura militar.
Para Mello, no campo musical, o arriscado LP duplo dos mineiros agregava desde influências de autores clássicos, como Pixinguinha, Noel Rosa, Ary Barroso e Dorival Caymmi, aos medalhões da Bossa Nova, sem desconsiderar o Tropicalismo (com a qual vivenciou uma espécie de disputa simbólica), o jazz fusion, o rock da fase psicodélica dos Beatles e a toada, a música sacra e o folk de Minas. Ao lado de uma arrojada síntese musical, esboçou-se também no disco uma síntese de um Brasil profundo e afetuoso, em frangalhos, mas resiliente a despeito de sonhos estranhos com sabor de vidro e corte.
Mello se equilibra entre informações históricas e curiosidades sobre o disco, análises dos contextos histórico-sociais aos quais a obra está atrelada e uma análise subjetiva das letras assinadas por Fernando Brant, Ronaldo Bastos, Márcio Borges e pelo próprio Milton. Talvez a análise mais consistente seja justamente o paralelo que o autor estabelece entre o movimento Clube da Esquina e o Tropicalismo – não os discos, mas os respectivos movimentos que estes originaram e que remodelaram a música brasileira moderna. Mello define o trabalho dos mineiros como adepto de um caminho mais intuitivo do que o formalismo minucioso dos baianos, que estava em consonância com os demais movimentos de vanguarda de então.
Na autobiografia Verdade tropical, Caetano Veloso argumenta, de maneira lacônica, que o trabalho de Milton era “tão notável e tão diferente do nosso (mesmo oposto ao nosso, em certos aspectos)”, sugerindo certa indiferença quanto às contribuições dos mineiros à música brasileira no período em que ele e Gilberto Gil estiveram exilados em Londres, entre 1969 e 1972. O próprio Milton, em entrevista de 1972, se disse magoado pela falta de reconhecimento do seu trabalho por parte de outros artistas, embora não cite nomes.
Um mea culpa de Veloso só viria décadas depois, no prefácio de um livro sobre o movimento Clube da Esquina: “Nos anos setenta, um grupo de mineiros se firmou no cenário da música popular brasileira com profundas consequências para sua história (...). Eles traziam o que só Minas pode trazer: os frutos de um paciente amadurecimento de impulsos culturais do povo brasileiro, o esboço (ainda que muito bem-acabado) de uma síntese possível. (...) Em Minas o caldo engrossa, o tempero entranha, o sentimento se verticaliza”.
Minha segunda ida a Belo Horizonte ocorreu justamente três dias após o tenso segundo turno das eleições presidenciais de 2018. As placas de metal douradas em referência ao simbólico Museu Clube da Esquina permaneciam afixadas nos mesmos pontos de antes – uma delas, no edifício Malleta, com adesivos descascados onde ainda se lia #HaddadSim e “BH Antifascismo”. Talvez o que Clube da esquina e as eleições de 2018 me mostraram em comum tenha sido a constatação de que o afeto permanece como estratégia política potente em tempos obscuros. Voltando ao Brasil de 2019, a turnê comemorativa do Clube da esquina, com a qual Milton está rodando o país atualmente, não deixa de ser a defesa de uma utopia em meio às distopias da vida concreta. Que seja uma sinalização de que sonhos não envelhecem e, em meio a tantos gases lacrimogêneos, ficam calmos, calmos, calmos.