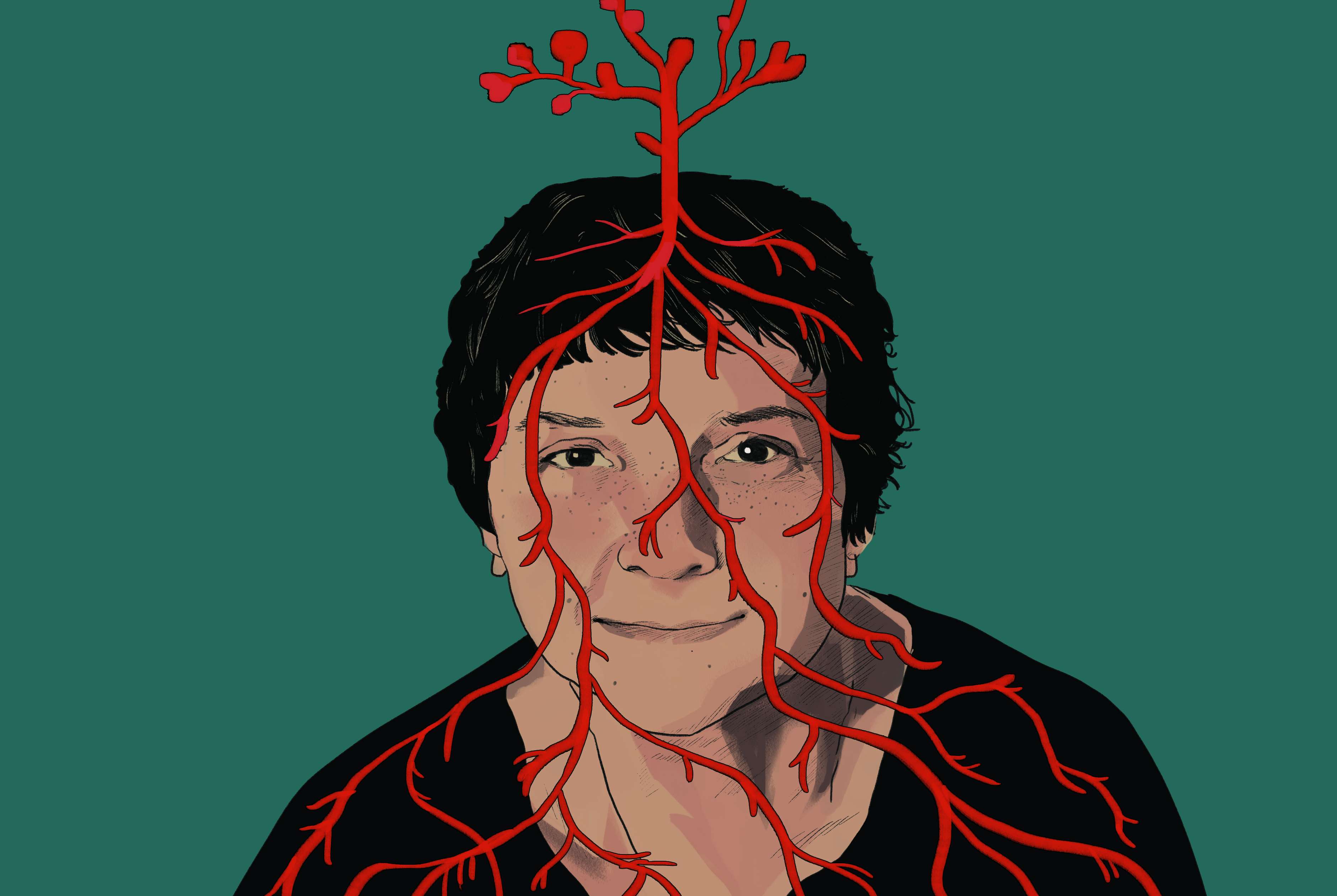
Se vocês procurarem pela internet, devem encontrar uma fotografia das mais significativas para os nosso tempos: nela, uma senhora na casa dos seus 60 ou 70 anos, com cabelos curtos enrolados e um longo cachecol, está numa manifestação com a placa I can’t believe I still have to protest this shit, apoiada no que parece ser uma cadeira de rodas. Noutra imagem, em outro ambiente de reunião popular, outra mulher um pouco mais jovem, com cabelos longos e grisalhos carrega um cartaz com a variante I can’t believe I still have to protest this fucking shit. Em uma terceira, outra mulher ainda um pouco mais nova, com um casaco cinza azulado, carrega uma placa que praticamente tampa seu rosto, I can’t believe we still have to protest this shit. Há várias outras, que carregam uma relação com o tempo e as expectativas da política ao longo do século XX e XXI, sobretudo o embate em torno dos corpos femininos, num ciclo de repetições que beira sempre o desgaste e o desânimo, que, nesses casos, se torna mais uma vez a marca do que resiste. Não importa agora o que vem a ser especificamente this (fucking) shit em cada um dos casos, porque o fundamental é que elas ainda têm e terão de protestar, ou melhor, nós temos e teremos de protestar, já que os processos históricos não são lineares nem simples: o embate político não termina, porque somos, segundo a famosa frase de Aristóteles, animais políticos; e a política será feita sempre num embate de mundos possíveis. Nós teremos de protestar ainda e sempre por essas merdas que nós amamos e defendemos com unhas e dentes.
É nesse contexto de retomada e resistência de diversas pautas políticas que pareciam estar já estabelecidas (movimento negro, questões de gênero, demarcações de terras indígenas, aprofundamento de disciplinas críticas na escola pública, minoração do abismo social etc.), que a primeira antologia da poesia da norte-americana Adrienne Rich (1929-2012) chega ao país pelas Edições Jabuticaba. São 10 poemas cobrindo quase um quarto de século (escritos entre 1968 e 1991), com tradução e apresentação de Marcelo Lotufo, que também já traduziu obras de Rosmarie Waldrop e John Yau na importante coleção de poesia que editora já tem realizado em sua curta trajetória. Diria que não poderia ser em melhor hora, sendo aqui e agora um modo a mais de protesto, um aprendizado direto com o que se fez de melhor na poesia encarnada em seu próprio tempo, sem aspirações ingênuas ao universal ou à imortalidade; mas é claro que antes sempre seria melhor: antes ela já seria uma arma a mais nos protestos. Consolo-me: antes tarde do que nunca.
Isso se dá porque a poesia de Rich é desses casos muito raros e fertilíssimos em que o engajamento direto com o contexto presente em que viveu nos Estados Unidos se realiza com uma tal força de linguagem, que os poemas, mesmo aqueles escritos há meio século, seguem absolutamente vivos. Quando louvo essa força de linguagem, fique claro, não estou falando de nenhuma estilização formalista, de nenhum projeto de inovação estética; mas, sim, da percepção de que sua poesia se contorce diante da brutalidade do mundo, fazendo ela própria um desdobramento crítico dessa brutalidade, para nos convocar a tomar posição e fazer frente. Nada ali é diretamente panfletário, e ao mesmo tempo nada é sonho da pura estética; ao contrário, na poesia de Rich, as torções sintáticas, os silêncios inesperados, os cortes por vezes abruptos contribuem para a produção de um efeito sobre quem a lê.
O resultado, na tradução, é uma colagem semântica causada pelo aspecto prosaico da obra, que poucas vezes quer chamar atenção para efeitos sonoros ou para qualquer coisa que por estas bandas se costuma entender por “função poética” da linguagem, nos termos de Roman Jakobson. A função poética em Rich, se podemos falar exatamente disso, é a relação que ela estabelece com uma linguagem enquanto trauma que se reencena e expõe a chaga; nesse sentido, qualquer beletrismo poderia arruinar a potência que está em jogo. Por isso Lotufo, apesar de se permitir menos liberdade do que poderia, segue um caminho adequado à poética que se estabelece ao longo de décadas.
É justamente o que acontece em poemas como A queima de papel em vez de crianças, de 1968, que se inicia, brutal desde o título, por relações entre vizinhos para fazer um contorno sobre desigualdade, violência e linguagem até nos sugerir “a fratura da ordem/ o conserto da fala/ para superar este sofrimento” e nos lembrar que “ninguém sabe o que pode acontecer/ ainda que os livros expliquem tudo// queimem os textos disse Artaud”. Ao fim, a metalinguagem que o permeia explode num abismo das relações: “Eu sei que dói queimar”. A máquina de escrever está superaquecida, a minha boca está queimando, não posso tocar em você e esta é a língua do opressor”. Sim, é sempre a língua do opressor, há sempre o risco e a realidade da queima de livros, da queima de vidas, mas os dedos permanecem à máquina manipulando a língua do opressor em língua de resistência.
Em Da casa de detenção, de 1971, Rich assume o olhar de uma detenta e nos atinge com os versos dolorosos: “Este olho/ não é para chorar/ a sua visão/ precisa ser límpida// embora haja lágrimas no meu rosto// sua intenção é a clareza/ não pode esquecer/ nada”. Aqui é o enfrentamento direto da realidade social que precisa ser feito, mas não sem uma reflexão dos modos de realizá-lo. A poeta poderia ter enveredado pelo caminho mais direto de simplesmente listar os horrores da vida prisional; no entanto, ao escolher o próprio olhar como matéria e os cortes da visão (sua relação ambígua com a luz que aclara e cega, informa e machuca), Rich nos traz para perto de uma experiência, e não de uma informação.
É também contra a informatividade pura que Rich também a guerra em Dien Bien Phu, de 1973, que acompanha uma enfermeira em batalha na cidade homônima no Vietnã, enquanto ela “se feriu mas trabalhando// sonha// que cada homem que toca/ é uma granada humana/ uma arma antipessoal/ que pode explodir em seus braços”. É singular a concatenação rápida das imagens entre o ferimento da enfermeira (pouco claro se físico ou psicológico ou ambos), o sonho (um devaneio do trabalho, ou um delírio noturno que retoma cenas do dia?), que acaba por transformar os homens da enfermaria em granadas humanas; fazendo assim dos feridos novas armas de ferimento, impessoais, prontas para explodir em seus braços. O ciclo da frase, que atravessa cortes de versos precisos e significantes, retorna a uma causa de ferimento. São essas granadas humanas que não cessam de ferir a enfermeira, que segue “colocando misericórdia /à frente de sobrevivência”.
Quando lemos agora esses e outros poemas, fica claro que a questão não é apenas a especificidade dos contextos originais, muito embora Rich escrevesse diante deles, como intervenção direta e sem contornos ambíguos ou reticências precavidas; e assim os versos retornam como engajamento ao presente do nosso contexto, porque guardam força poética, que os desdobram como experiências partilháveis ao mesmo tempo em que marcam suas origens, seja pelas explicitações de lugares, seja pela marcação do momento em que foram escritos. Eles sobrevivem a essa transferência, tal como pervivem na tradução de Lotufo.
Dois momentos a meu ver singulares nessa antologia de 10 poemas são Uma mulher morta aos quarenta e Que tempos são estes. O primeiro, escrito entre 1974 e 1977, trata simultaneamente da perda amorosa causada por um câncer de mama (com uma objetividade crua da perda das mamas e do buraco em lugar de cicatriz, além do desenvolvimento da doença) e da dificuldade da relação entre duas mulheres num mundo que não convive com seu desejo (que assim estabelecem metaforicamente também um corte, ou um buraco, na expressão desses afetos); o resultado é uma investigação sobre as próprias feridas que o poema ao mesmo tempo analisa e partilha, o que aparece metapoeticamente em trechos como: “Você me manda de volta para compartilhar/ minhas próprias cicatrizes antes de tudo/ comigo mesma// O que eu escondi dela/ o que eu neguei a ela/ quais as perdas sofridas// como neste corpo ignorante ela se escondeu// esperando pela libertação/ até que a luz incontrolável começou a jorrar/ de cada machucado e sutura/ e de todas as aberturas sagradas”.
O segundo, uma pérola de 1991, é a peça que dá título ao livro e em que Rich nos conta de um lugar perto de onde “a velha estrada revolucionária acaba em sombras/ perto da assembleia abandonada pelos perseguidos/ que desapareceram nestas sombras”, para logo depois nos garantir que “este não é um poema russo, isto não é em algum outro lugar; mas aqui”. Ela não pode dizer onde fica o lugar, porque ele ainda corre risco, é feito por e contra o risco, está lá como resistência, pois há quem queira comprá-lo e vendê-lo, “fazer com que desapareça”. Por isso é preciso contar que ele existe, para que não desapareça, porém sem dizer onde, para que sobreviva: assim é a poesia de Adrienne Rich, que não cabe no mercado de pura compra e venda, porque ela mesma faz um lugar ao qual precisamos chegar sem mapas.
>> Guilherme Gontijo Flores é poeta, professor e tradutor, autor de carvão :: capim