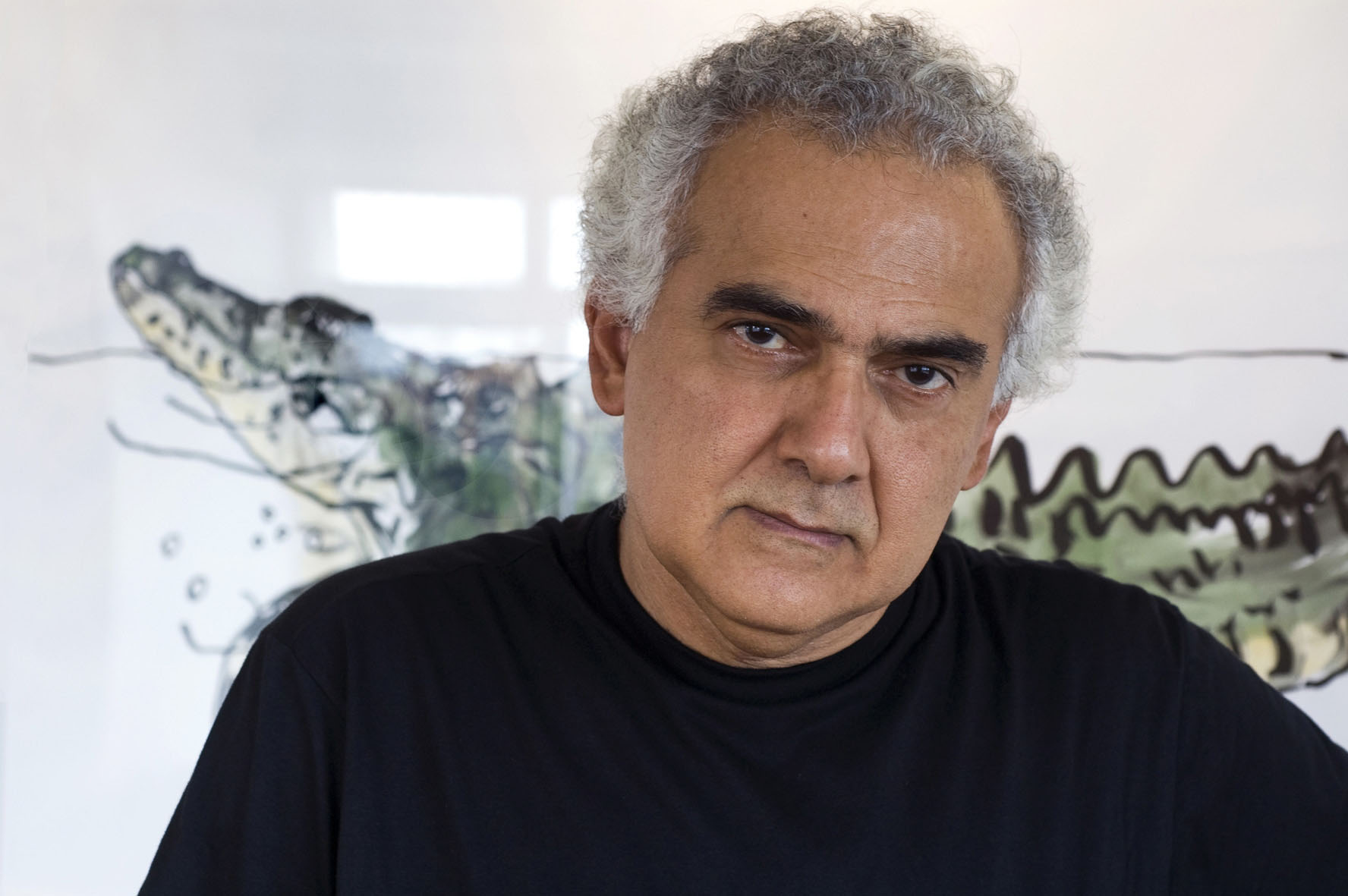
Não é a primeira vez. A ditadura é um tema que sempre percorreu a obra de Milton Hatoum. Em romances como Dois irmãos e Cinzas do norte, mais do que referencial, o período de repressão e violência é retratado de forma estrutural, mantendo relações profundas (ainda que subterrâneas) com os dramas dos seus personagens. Em Cinzas, um incômodo ainda não revelado encontra o narrador já no primeiro parágrafo, como uma espécie de ritual de iniciação para o leitor: “Li a carta de Mundo num bar do beco das Cancelas, onde encontrei refúgio contra o rebuliço do centro do Rio e as discussões sobre o destino do país. Uma carta sem data, escrita numa clínica de Copacabana, aos solavancos e com uma caligrafia miúda e trêmula que revelava a dor do meu amigo”. Temos as expressões “rebuliço do centro do Rio” e “discussões sobre o destino do país” que continuam dizendo tanto. Seja ontem. Ou hoje.
No conto Encontros na península (a peça mais perfeita do injustamente subjugado A cidade ilhada), o narrador é um professor de português exilado em Barcelona durante a década de 1970. Aqui, ele se vê diante de um conflito belicoso. Mas se trata de uma guerra das políticas das relações amorosas. Passa a dar aulas para uma catalã que quer ler Machado de Assis no original. Seu ex-amante é um português que acreditava na superioridade de Eça de Queirós em relação ao escritor brasileiro. “Ele disse que Machado foi pérfido ao criticar cruelmente dois romances do escritor português. Não sei se isso é verdade; sei que Soares não se conforma com essas críticas, e até ficou exaltado quando perguntou: por que a dor física e a miséria são menos aflitivas que a dor moral? Ele não se cansa de afirmar que Eça é muito superior a Machado, que é o maior escritor brasileiro. Por isso eu quis ler no original o rival de Eça. Coisas de amantes”, vocifera a aluna catalã, que conviveu não apenas com um péssimo amante. Também com um péssimo leitor. No jogo de vinganças emocionais de Encontros na península, o golpe de 1964 é outra vez apenas estrutura.
Em A noite da espera, primeiro volume do projeto O lugar mais sombrio, a ditadura passa a ocupar um lugar central numa obra de Hatoum. Agora é destino, referência, estrutura e estofo dos seus personagens. Não é tarefa das mais simples empreender a escritura de um romance que dialoga de frente com um período histórico tão próximo e, pelas circunstâncias atuais do Brasil, ainda mais turvo e conflituoso. O projeto O lugar mais sombrio acaba remetendo a Estive lá fora, romance de 2012 de Ronaldo Correia de Brito, sobre os anos do golpe no Recife que, quando do seu lançamento, foi rechaçado por parte da crítica como político demais (2012 era outro planeta). “Tendemos a recusar a política, a não pensar politicamente. E por conta dessa cultura, Estive lá fora foi considerado um romance abordando feridas saradas, dores esquecidas”, escreveu Ronaldo para o Pernambuco num texto em que comentava a rejeição política que sua obra “fora de hora” recebeu.
Não se pode reclamar que as discussões presentes em A noite da espera estejam fora de hora nesse 2017. Mas os leitores do Hatoum de romances como Órfãos do Eldorado e Relato de um certo oriente talvez estranhem seu tom testemunhal. Não há o olhar sobre mitos de formações ou passagens (ou paisagens) poéticas. Esse é um livro direto, sem derramamentos de palavras. Uma narrativa com os seus conflitos resumidos ao osso. Montado num formato entre o epistolar e as anotações de diário, sua preocupação maior é remontar as peças de um quadro histórico.
É curiosa também a preocupação de Hatoum em, ao construir seu romance, tratar de personagens que não estavam necessariamente na linha de frente do conflito. São pessoas comuns, à margem, que tiveram suas vidas infiltradas pelos conflitos históricos. Narrador exímio, Hatoum nos dispensou de explicar os detalhes históricos do Golpe. A ação nos é apresentada já com o cenário político se desenrolando com sua lógica irreversível, como uma avalanche a carregar tudo pelo caminho.
Assim como em seus livros anteriores, A noite da espera tem como foco o olhar de um exilado. No caso, um adolescente que, após a separação dos pais, é levado de São Paulo para a paisagem no futuro de Brasília com o pai (a mãe encerra o casamento e passa a morar com um “artista” e, por um motivo nebuloso, não pode permanecer com o filho). A figura paterna é de turbulência e de silêncio. Existe o rancor do abandono e o total desconhecimento desse filho cuja relação era filtrada pela mãe. O Brasil se fecha por um lado; por outro, pai e filho se encontram apenas para se distanciar. A espera de que fala o título é dupla – pela resolução de um quadro político; pela resolução de afetos que foram fragmentados e dissipados com a virada entre as décadas de 1960 e 1970.
Em A noite da espera, encontramos um Hatoum que, finalmente, encara o trauma de formação da sua geração. E agora olhando-o de frente.