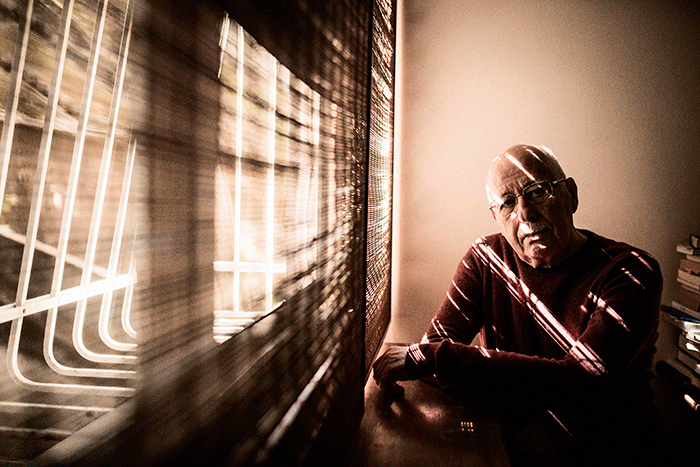
A desconstrução é, em última análise, um projeto frontal e circunlunar de convivência conflitiva com o objeto literário somado à prole interpretativa que ele alimentou.
Silviano Santiago, Genealogia da ferocidade
A desconstrução é, desde os primeiros escritos e ao longo da sua vasta produção – crítica, ficção, poesia –, a força mobilizadora de pensamento de Silviano Santiago. Supõe, como diz a epígrafe acima, uma relação conflitiva do escritor com a palavra e o mundo, traduzida por um impulso interpretativo voltado para a leitura acirrada da tradição literária brasileira, com vistas a desvesti-la das inúmeras “capas” eurocêntricas de sentido e significação com que foi sendo revestida. Supõe, ainda, um esforço de compreensão da literatura que abole fronteiras de gênero e a encaminha para o ensaio enquanto dramatização da experiência do ato simultâneo – e indecidível – de ler e escrever.
Seu texto mais recente, Genealogia da ferocidade, é o relato da longa “convivência conflitiva” com a obra-prima de Guimarães Rosa, Grande sertão: veredas. Distante dos lugares-comuns com que a crítica foi “domesticando” o livro, busca-se, mediante aproximações e analogias interpretativas inusitadas, resgatar a wilderness do “monstro literário” “insólito”, “intolerável”, “anacrônico”, indigesto”, adjetivação que diz muito da “qualidade selvagem” do romance e da interpretação de Santiago.
Parte-se a recepção do romance, em tudo estranho ao momento em que surge: a construção da “utópica cidade de Brasília”, o tom cool da bossa nova, a secura da poesia de João Cabral, o experimentalismo artístico dos anos de 1950, o construtivismo dominante na primeira Bienal de São Paulo em 1951. Santiago assinala que a obra se faz à contracorrente dessas manifestações: Rosa é um “inventor” (Pound) solitário que não pertence a grupos ou movimentos artísticos que possam legitimar a novidade que seu livro inaugura – “ao contrário da nova capital federal (Grande sertão) é ribeirinho e verde, barrento e encardido, anárquico e selvagem”, fala “com tom de voz horrendo e grosso” como a do gigante Adamastor camoniano.
A recepção crítica mais imediata pode demonstrar má vontade ou incompreensão, como em Ferreira Gullar (“uma história de cangaço contada para linguistas”) ou Adonias Filho (“um equívoco literário”), mas encontra vozes dispostas a entender e acolher o “monstro” na sua radicalidade, como nos ensaios publicados pela revista filosófica Diálogo, em 1957. Dentre os ensaios da revista, destaca-se o de Antonio Candido, “O sertão e o mundo”, publicado posteriormente em Tese e antítese com o título de O homem dos avessos.
Ao pautar sua leitura por Os sertões (1902), de Euclides da Cunha, Candido encontra um lugar na “tradição afortunada” da literatura brasileira para Grande sertão: veredas, empreendendo assim a mais “notável e brilhante” “domesticação do selvagem”, conforme Santiago. Em síntese, a domesticação se dá pela indiferença crítica em relação à questão da sexualidade “desviante”; pelo “envelopamento” da “inédita, fluvial, verde e agreste disposição cênica do sertão mineiro”, diversa do sertão seco de Canudos; pela oposição entre os personagens das duas margens do Rio São Francisco e daí pela leitura guiada pela “semântica do decidível”.
Passada em revista a perspectiva analítica do nosso maior crítico literário, Santiago aposta, para dar força à nova argumentação, na semântica derridiana do indecidível – “Tudo é e não é”, diz Riobaldo à certa altura da narrativa. O paradoxo é, no texto, a figura que revela a “confusão dos opostos” como álibi literário capaz de revelar o “cálculo enigmático” que dá forma à narratividade selvagem de Grande sertão: veredas.
A “irascibilidade” do chefe surge, então, como conceito que dá a ler a questão do político em aberto, fora da domesticação sociológica e histórica a que o livro de Rosa tem sido submetido, e o faz recobrar sua “identidade poética dentro da literatura comparada e sua força política dentro da história universal eurocêntrica”. Mas como tudo é e não é, a irascibilidade não esgota o entendimento da “ferocidade do jagunço Riobaldo”. Para compreendê-la melhor, o ensaio se detém nos desdobramentos posteriores do livro, como na obra de Glauber Rocha, principalmente na figura de Antônio das Mortes, o matador de cangaceiros, bem como na postura polêmica que o cineasta assume ao se aproximar do governo Geisel e considerar os militares como “legítimos representantes do povo”, nas palavras de Glauber.
Mas a consecução da obra depende da sua montagem enquanto fala de Riobaldo, anotada por um pseudonarrador – anônimo, insiste Santiago – que vai escrevendo o que ouve e que será transcrito pelo autor – a rigor, qual? – nas páginas do livro. Num dos momentos altos do ensaio, Santiago recorre a Roberto Schwarz, para com ele dialogar de forma também desconstrutora sobre a oralidade do Grande sertão, a partir do travessão que dá início ao relato e do símbolo do infinito que o encerra. De novo, o leitor se defronta com o indecidível: “quase diálogo, quase monólogo”, que transforma o pseudonarrador em “coprotagonista da fala de Riobaldo”, demonstra Santiago.
Do ponto de vista do pactário, a ausência/não-ausência do diabo se presentifica pela sua proliferação na linguagem, não só nas inúmeras denominações que pretendem identificá-lo, mas também na pontuação – quase aleatória, acrescento – que acaba por desconcertar o “ponto de um fato” que a narrativa quer armar para o visitante e o leitor: “A pontuação ganha o estatuto de wilderness, agora no interior da estilística literária em língua luso-brasileira”.
A interpretação se afirma como força de significação de largo alcance na abolição do significado transcendental pelo jogo da estrutura do qual a pontuação é o índice relevante, ao lado da preferência pela conjunção e em detrimento da conjunção ou. Mais uma vez e sempre, tudo é e não é. Seria possível supor então que a existência do diabo estaria assim abolida, mas a “conjunção anexadora” revela a disseminação demoníaca por todo o “texto altamente poroso” de Guimarães Rosa.
A porosidade enquanto estruturalidade da estrutura do texto de Rosa permite transformar a armação do “ponto de um fato” no relato do problema efetivamente diabólico do livro e naquilo que configura seu jogo estruturante: a questão do gender. O próprio fato de Guimarães Rosa apelar para esse recurso, ao invés do dramalhão, no desfecho da relação amorosa homoerótica entre Riobaldo e Diadorim pela morte deste, como quer Santiago, retira do drama fáustico a sua transcendência solene mediante o afastamento – paródico, em certo sentido – do mito de origem europeu tal como está no Doutor Fausto, de Thomas Mann, em tudo diferente ao Grande sertão: veredas, de Guimarães Rosa, em razão principalmente do que a porosidade deste último traz consigo – a “região do Alto São Francisco é molhada”, diz Santiago.
Só a porosidade permite o romance “ir além da grande divisão entre o erudito e o popular”, só ela agencia estratégias de derivação do pacto do homem com o diabo. Nesse sentido, Santiago toma de empréstimo a categoria do frio, índice da falta de amor no Doutor Fausto, e a categoria do quente, indiciadora do desejo sexual em Grande sertão – “sensações e emoções térmicas”, no dizer do crítico. No império dos sentidos que é a porosidade molhada, trabalha-se a figura da sereia em Mann, e a da rã, mais prosaica, em Rosa.
A metamorfose do homem em animal e vice-versa, de longa tradição na literatura e na filosofia ocidentais, assume função “despersonalizadora”, acrescento, na medida em que refaz a seu modo a conjunção do que é e não é. Na cena em que Riobaldo e Diadorim poderiam declarar-se enfim um ao outro, salta inesperadamente uma “rã brusca, feiosa”, revertendo e ao mesmo tempo afirmando o desejo recalcado – “A língua e eu somos um casal de amantes que, juntos, procriam apaixonadamente”, diz Rosa em entrevista a G. Lorenz.
O desejo é, portanto, desejo de linguagem antes de tudo. Por isso, os sinais de pontuação que o indiciam “são significantes selvagens, bruscos e flutuantes” como os não ditos de Riobaldo e Diadorim, como a linha que separa (e une) o transcritor e o autor do livro, tradução mediada da fala a favor da escrita – uma sorte de transculturação permeável ao outro que não escreve. Por isso, a natureza da ferocidade permanece em aberto como a percepção “atemporal” do mundo ambiente pelo carrapato estudado por Jacob von Uexküll, no “seu miudinho viver”, nas palavras de Rosa.
É por esse motivo que o mundo de Rosa é “naturalmente anacrônico, acrônico” –, determinado “pela atemporalidade de sua inserção no Tempo. Trata-se de um enclave arcaico, perdido por detrás da Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais, a esbofetear a pseudomodernidade do pós-colonialismo no Brasil e na América Latina”. Como efeito de seu gesto literário, Rosa se encontra, afinal, com o seu leitor em desconstrução: “Desconstruir é um encontro auspicioso e valente com o romance-animal cru e à beira da morte, como se fosse ele – e certamente o é – o monstro que só se concretiza enquanto objeto-cultura pelos vários, sucessivos e contraditórios (ou paradoxais) processos de domesticação (ou de antropomorfização) por que tem passado”.
O que mais podemos esperar de uma leitura? Mas ela continua ao infinito no Post-Scriptum que encerra o livro. Dessa vez, a atenção de Santiago é atraída pelo conto Meu tio, o Iauaretê, tomado como suplemento do Grande sertão: Rosa abandona de vez a reflexão antropocêntrica do mundo, transfigura-se no homem-onça e se adentra “pelo mundo ambiente (Umwelt) do outro e animal” na sua “indecidível domesticação”.
Na Genealogia da ferocidade, seu texto mais pessoal, Silviano Santiago escreve – muitas obras ainda por vir – seu testamento literário. Estão reunidas no livro as preocupações que o acompanharam ao longo de décadas dedicadas à literatura, sua ousadia interpretativa, sua acuidade teórica e a capacidade de fazer da leitura de um livro a escrita do mundo – “belo, áspero e intratável”.