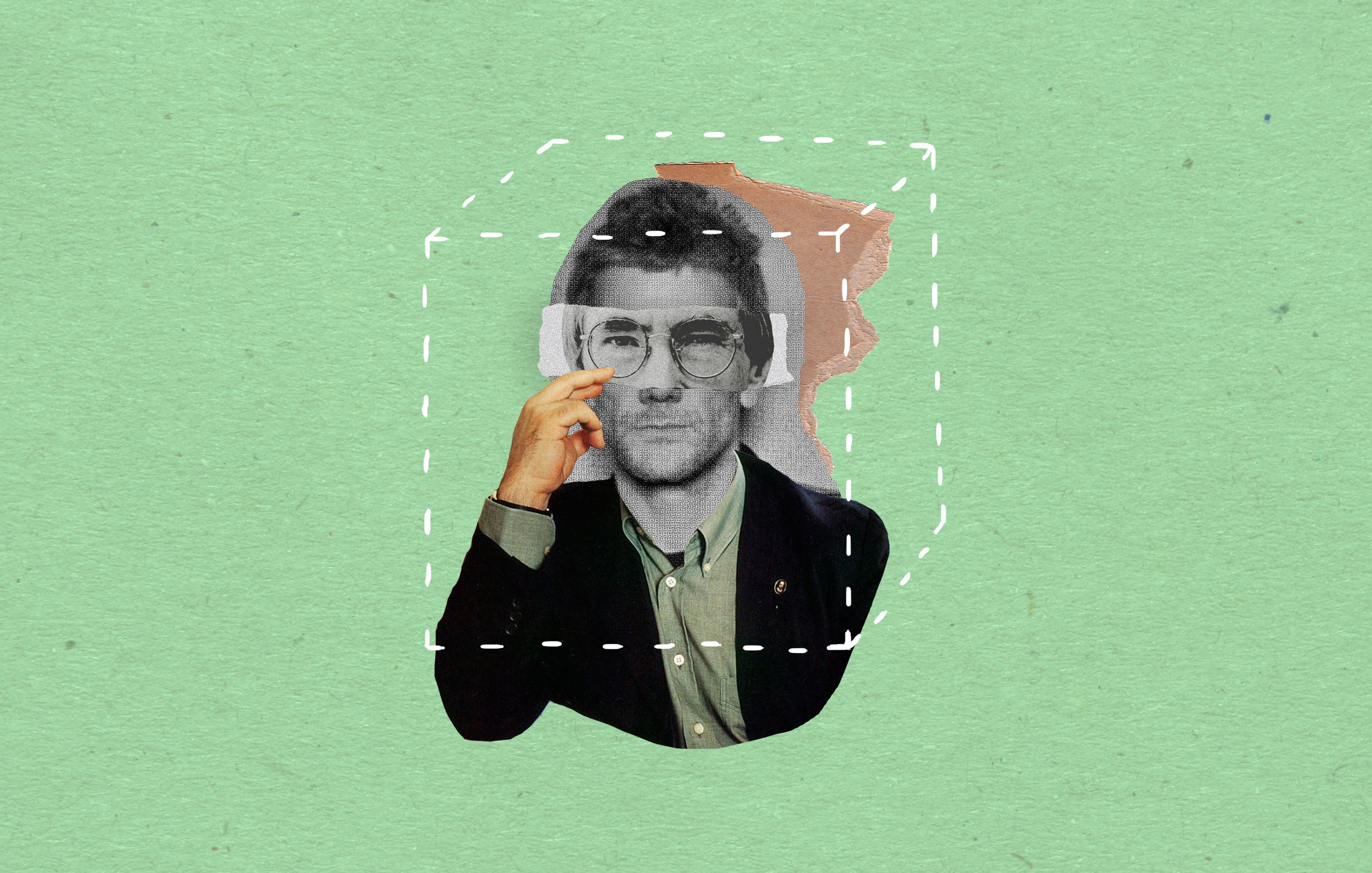
Abaixo, publicamos uma resenha sobre Mutações da literatura no século XXI (Companhia das Letras), de Leyla Perrone-Moisés. O texto é assinado por Regina Dalcastagnè, professora de Literatura da Universidade de Brasília (UnB).
***
Após o anúncio de que Trump pretende cancelar os investimentos públicos em artes nos Estados Unidos, um colunista de direita do Washington Post comemorava, explicando sem ironia: “O que é arte? Subsidiamos a produção de soja, mas pelo menos se pode dizer o que é um grão de soja”. É claro que a comparação é impertinente e que não sabemos, absolutamente, o que é a soja que nos vendem. Nem por isso estamos isentos (como se acham os grandes produtores agrícolas e seus aliados) de discutir abertamente o nosso entendimento do que é arte a cada vez que nos debruçamos sobre uma de suas expressões. A explicitação desse posicionamento é fundamental porque, antes de mais nada, é preciso reconhecer que esse é um território em disputa e que ignorar isso é já se situar – do lado daqueles que ocupam as posições centrais no campo literário e artístico. Não discutir critérios de valoração e de legitimação serve para manter de pé uma estrutura consolidada, canônica, e não para garantir o livre desenvolvimento da arte, que depende da democratização do acesso e da produção.
Por isso, o livro Mutações da literatura no século XXI, de Leyla Perrone-Moisés, tem de ser lido como mais um discurso (de reação) em meio a essas disputas e não apenas como uma análise das transformações vividas no interior da literatura contemporânea. Até porque os principais deslocamentos efetivados dentro e nas cercanias dessa produção – realizados por mulheres, negros, pobres, agentes periféricos do campo literário – e que têm profunda influência, política e estética, no que vem sendo escrito nos dias de hoje, não chegam sequer a ser considerados pela autora. Assim, temos mais um livro, de uma crítica literária importante, a discutir as perdas que as “altas literaturas” vêm sofrendo nos últimos tempos com a migração dos leitores para as redes sociais, com pais que não leem a “boa literatura” e que, por isso, não criam novos leitores, com as escolas que se desobrigam a valorizar essas obras e que se rendem aos estudos culturais, com uma crítica universitária que “se exime dos juízos de valor”. Esse discurso, que não é novo, mas ainda tem apelo entre aqueles que se preocupam com a manutenção de um espaço para a literatura, empalidece diante de uma produção literária cada vez mais vigorosa, feita e consumida em outras esferas sociais, que não entra nesses cálculos simplesmente porque não é entendida como literatura.
O livro de Perrone-Moisés é, como a maior parte das produções de professores universitários hoje, um conjunto de artigos – alguns mais extensos, focando em autores específicos, outros mais breves, com discussões amplas e destinados a jornais, que é onde a autora escorrega nas maiores simplificações, como, por exemplo, quando comenta, com desdém, as páginas de leitores na internet, abrindo links ao léu e ignorando os estudos que já existem sobre os significados desse novo espaço de crítica. Há, também, os capítulos sobre intertextualidade, sobre o autor como personagem, sobre os “espectros da modernidade” na produção atual. O que dá unidade à obra, como em seus trabalhos anteriores, é sua visão elitista e conservadora da literatura, acusação da qual a autora se defende no livro, dizendo que a “conservação é uma atitude inerente aos conceitos de cultura, de arte e de educação” e que o que chamamos de elitismo trata-se, na verdade, “de uma seleção visando a preservar o melhor do que já foi feito até hoje, e de uma resistência ao tsunami da indústria cultural”. Não está em questão, é claro, quem define os conceitos e em função de que; quem faz a seleção das obras e autores a serem preservados; o que está sendo legitimado como literatura e, exatamente, por quê.
É de dentro dessa perspectiva e com a abordagem teórica condizente a ela que se abrem o que seriam os capítulos principais do livro, com a análise das tais mutações da literatura no século XXI a partir do estudo de um conjunto de romances considerados representativos. Em um desses capítulos a autora seleciona o que ela chama de “seis romanções de amor”, escritos por Ian McEwan, Alan Pauls, Vargas Llosa, Orhan Pamuk, Javier Marías e Jeffrey Eugenides. Embora sejam de diferentes países, são todos homens, brancos, para além da meia idade, bem estabelecidos, publicados por grandes editoras, até muito parecidos entre si. Em que universo seria possível dizer que essa amostra é significativa para se pensar os modos como o amor pode ser literariamente representado na contemporaneidade? As mulheres escritoras não teriam nada a acrescentar sobre o assunto, após décadas de feminismo? Elas realmente não fazem parte da equação a não ser como personagens pensadas pelos homens? E os/as autores/as negros/a? E as narrativas sobre relações homoafetivas? Uma história de amor escrita sob outras perspectivas que não a desse modelo tão repisado já não seria um estupendo objeto de comparação?
Em outro capítulo, Leyla Perrone-Moisés observa os romances distópicos produzidos neste século. Sem definir distopia, ou reduzindo o conceito à ideia de narrativas pessimistas em relação ao presente, ela discute os livros de Michel Houellebecq, Antoine Volodine, Gonçalo M. Tavares, Ricardo Lísias e Bernardo Carvalho. Nem é preciso dizer que o perfil se mantém o mesmo. Isso acontece no livro inteiro: não há nenhuma mulher que mereça sua atenção, para além da inclusão circunstancial nas listas de nomes que aparecem aqui e ali. E, no terreno das distopias, fica difícil ignorar a ausência de uma escritora consagrada como Margaret Atwood, por exemplo, ou, por que não, de Suzanne Collins, autora de Jogos vorazes, que é a própria encarnação da narrativa distópica para milhões de jovens leitores/as. Elas não cabem na discussão porque estão eliminadas desde sempre do horizonte possível da perspectiva crítica de Perrone-Moisés. E isso é extremamente empobrecedor.
A literatura que Perrone-Moisés quer valorizar é aquela que atinge um “universal” que nega validade às experiências humanas concretas e plurais de mulheres e homens. Aquela que é lida por critérios estéticos platônicos, que existem por si mesmos, não como produtos das circunstâncias históricas e de seus conflitos. Ao perceber essas qualidades universais e eternas somente nas obras de homens brancos, ela certamente julga que está sendo fiel à noção de que a posição dos autores não importa. Mas o resultado é reforçar o uso da literatura como ferramenta de exclusão e de reafirmação das hierarquias sociais.