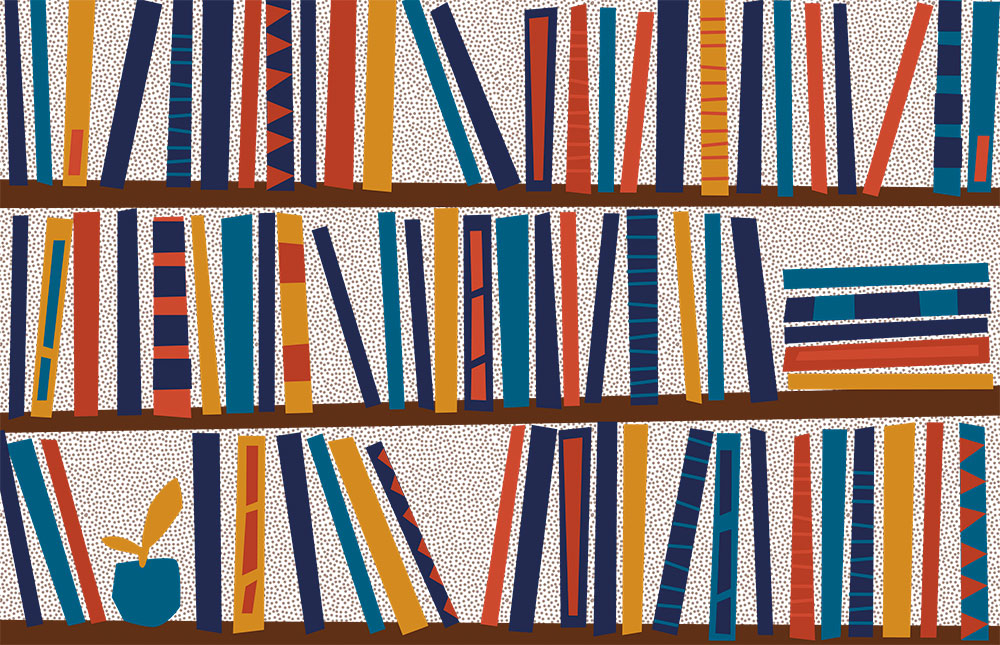
Na “Supersticiosa ética do leitor”, breve texto que Borges desenvolve em 1931 nas páginas de Azul, há espaço para a credulidade e para a devoção aos livros, além de uma tendência à sobrevalorização do “estilo” dos escritores. Talvez seja possível acrescentar essa compulsão mais recente, fruto da vastidão de títulos disponíveis, que é a de procurar pontos de contato entre livros postos lado a lado em uma mesa de trabalho. Ou ainda, um fio narrativo que dê conta de uma costura possível entre livros e autores diversos.
Percebo que tal compulsão não tem nada de recente, pois é a própria força motriz do gênero ensaio, que trata, em grande medida, de criar percursos criativos entre textos e tempos. Vejamos o primeiro livro em minha mesa, 41 inícios falsos, de Janet Malcolm – 16 ensaios dos mais variados tamanhos, organizados por uma obsessão comum: a lógica tortuosa das “vidas dos artistas”.
Há um paradoxo constante na escrita de Malcolm: ao mesmo tempo em que recusa ocupar a linha de frente da escrita – é apenas uma jornalista, uma repórter, relatando palavras alheias, diz ela –, traz continuamente à superfície de seu texto a autorreflexão, a consciência muito aguda de que o observador sempre interfere naquilo que é observado. O paradoxo está também no estilo, pois o esforço de manter certa contenção, certo trabalho dos bastidores, terminam por chamar a atenção a um estilo que se engrandece no próprio desejo de desaparecer (“Suas justaposições desarmônicas de imagens e estilos incongruentes”, escreve Malcolm sobre David Salle, “destacam com nitidez especial o paradoxo sobre o qual repousa sua arte de materiais apropriados: sua aparência misteriosa, quase sobrenatural de originalidade”).
Quando escreve sobre Virginia Woolf e o grupo de Bloomsbury, por exemplo, Malcolm lá pelas tantas quebra a quarta parede e declara: “No que escrevi até agora, ao separar minhas heroínas e meus heróis austenianos de minhas personagens planas gogolianas, eu, como qualquer outro biógrafo, esqueci convenientemente que não estou escrevendo um romance e que não cabe a mim dizer quem é bom e quem é mau”. A vida, conclui ela, “é muitíssimo menos ordenada e mais desconcertantemente ambígua do que qualquer romance”.
Essa digressão autorreflexiva já é produtiva por si só, mas é aprimorada na última página do ensaio, quando Malcolm comenta a autobiografia rancorosa da sobrinha de Virginia Woolf, Angelica. Apesar do rancor, a sobrinha ajudou na manutenção do legado da família, especialmente da Chesterton Farmhouse, casa de campo de sua mãe, “em cuja restauração”, escreve Malcolm, “Angelica teve uma participação ativa, tal é a confusão da vida: em um romance, ela nunca mais teria olhado para o lugar”. Se buscarmos encaixar forçosamente a lógica dos romances na vida, parece dizer Malcolm, perderemos as complexidades dos personagens – ainda assim, é algo que não conseguimos deixar de fazer, vide o exemplo de Emma Bovary e do Quixote (a ética supersticiosa do leitor sempre nos aguarda na próxima esquina).
O último texto da coletânea de Malcolm, um fragmento intitulado “Reflexões sobre autobiografia de uma autobiografia abandonada”, mostra seu desconforto quando escapam as ferramentas da repórter. “A memória não é uma ferramenta de jornalista”, escreve ela. “Percebo que meus hábitos de jornalista inibiram meu amor-próprio”, continua. “No que se segue, tentarei me ver com menos frieza, ter menos medo de escrever um texto de autoelogio. Mas pode ser tarde demais para mudar de pele”, e assim termina não só o texto, mas o livro.
Ainda sob o encanto desse final abrupto, antecipo o encontro com o livro seguinte, quando recorro a outro elemento da ética supersticiosa do leitor: um livro sempre começa no ponto onde outro livro (outros livros) foi abandonado (porque, se acreditarmos em Paul Valéry, quando comenta seu poema Cimetière Marin, um livro nunca se finaliza, sempre se abandona). Consideremos Linha M, de Patti Smith, e sua facilidade diante do autobiográfico e da memória, sua dependência irrestrita do “eu”, o mesmo “eu” que tanto desconforto gera em Janet Malcolm.
Mas o confronto só vai até certo ponto, pois Smith e Malcolm dependem em igual medida de seus discos, livros, artistas, notas, objetos, percepções, dúvidas e superstições. Smith – cantora, compositora, poeta, artista visual – se apresenta em Linha M sobretudo como leitora e é a partir de suas leituras que dá forma ao seu relato autobiográfico. Também ela persegue livros, justapondo vida e ficção nesse percurso memorialístico. “Nem sequer entrava naquele mundo e era transportada a uma miríade de outros universos”, escreve ela depois de retirar da estante e reler trechos de After nature, o livro de poemas de W. G. Sebald. O encontro com a ficção de Roberto Bolaño leva a própria Smith à escrita: “Quando li seu Amuleto”, escreve ela, “percebi uma referência passageira à hecatombe – um antigo abate ritualístico de 100 bois. Resolvi escrever uma hecatombe para ele – um poema de 100 versos”. Versos e universos se multiplicam, à medida que ela retoma volumes de Jean Genet, Albert Camus, César Aira, Bruno Schulz, William Burroughs, e assim por diante.
O ritmo de Smith, comparado àquele de Malcolm, é mais calmo e homogêneo. Por estar voltada aos outros, seus dizeres e experiências, a narrativa de Malcolm é cheia de detalhes, de informações, de análises. Smith, pelo contrário, leva o leitor em direção à sua rotina cotidiana – acordar, dar comida aos gatos, olhar pela janela, visitar seu café favorito do bairro, sentar à “sua mesa” e lá rabiscar nos guardanapos (rabiscar aquilo que estamos, agora, lendo). Aquilo que Malcolm deixa de lado em seus ensaios é a matéria-prima da escritura de Smith, e vice-versa. “Eu tinha um itinerário diversificado de leituras, performances, concertos e conferências”, é tudo que Smith oferece no que diz respeito ao mundo prático das informações e das análises.
“O Café’Ino estava vazio, por isso me sentei feliz para ler O jovem Törless, um romance de Robert Musil”, continua ela, em uma passagem típica. “Fiquei refletindo sobre o parágrafo de abertura: ‘Era uma pequena estação na longa estrada de ferro para a Rússia’, fascinada pelo poder de uma frase comum que despercebidamente leva o leitor a intermináveis plantações de trigo se abrindo em um caminho que conduz ao covil de um predador sádico contemplando o assassinato de um garoto imaculado”.
Aqui está outro ponto que aproxima Smith e Malcolm, o fascínio pelo “poder de uma frase comum”, que ainda assim transporta e transforma o leitor - por isso que Borges diz em seu texto que a tradição é mais uma questão de leitura que de escritura. Quando escreve um ensaio sobre Salinger em 2001, Malcolm dá um bom exemplo dessa dinâmica. Começa seu texto citando críticos que, em 1961 e 1965, atacaram intensamente os contos então recém-publicados de Salinger. “Até o sadismo do cordial John Updike foi despertado”, escreve Malcolm, e completa adiante: “Os ‘erros’ e ‘excessos’ de que os primeiros críticos se queixam são com frequência as inovações que deram à obra a sua força”.
Em seu método recursivo característico, Smith mostra que, em seu caso, a escritura é sempre precária, dependente dos pontos de referências que a leitura oferece – por exemplo, o cultivo de um projeto do atraso e da escansão infinita da ficção: “De vez em quando eu voltava para o meu poema de Bolaño, ainda pairando entre 96 e 104 versos”. Ou um exemplo ainda mais eloquente, quando Smith está entediada em uma viagem de avião e anota: “Decidi escrever sobre Sylvia (Plath). Escrever para ter alguma coisa para ler”.
Percebo a dificuldade de abandonar os dois livros, Linha M e 41 inícios falsos. Retomo trechos, separo citações, noto uma série de correspondências que já não tenho espaço para mencionar. Tenho uma lista das referências a revisar – as fotos de Diane Arbus, Edward Weston e Julia Margaret Cameron; as vidas de Mishima, Fred “Sonic” Smith e Alfred Wegener –, referências que me levarão a uma miríade de outros universos, mas sempre ligadas ao campo gravitacional desses dois livros.
Patti Smith também apresenta uma dificuldade semelhante: ela não consegue aceitar o fim da série The Killing. “A temporada de The Killing terminou”, escreve ela. A detetive “Linden perdeu tudo e agora eu a estou perdendo. (...) não estou pronta para abandonar Linden e não quero seguir em frente”. Em seu desespero estético, em seu desamparo diante da perda, Smith relaciona a detetive Linden a “um personagem da pena de Emily Brontë”, a uma “Madona flamenga com os olhos de uma mulher do mato que dormiu com o demônio”, tudo para tê-la por perto por mais tempo. No fim das contas, a vida dos artistas – e daqueles envolvidos com suas obras – se resume a esse incessante trabalho de prolongar o contato com essas entidades que geram curiosidade, desconforto ou transformação. “Atravesso o oceano com o único objetivo de possuir em imagens únicas o chapéu de palha de Robert Graves, a máquina de escrever de Hesse, os óculos de Beckett, o leito onde Keats esteve doente”, anota Smith já nas últimas páginas de Linha M.
O procedimento é o mesmo em Malcolm, somente mais rebuscado, indireto. Em várias das pinturas de David Salle, escreve ela, “aparece uma mulher misteriosa de cabelos escuros, levando aos lábios um copo cheio pela metade”, bebendo o que pode ser veneno ou uma poção do amor. Ela tem um “aspecto renascentista”, quase como a Madona detetivesca de Patti Smith. “A mulher nos perturba e nos emociona”, continua Malcolm, “do modo como o fazem nos sonhos pessoas que sabemos que conhecemos, mas não conseguimos identificar”. Para Malcolm, o artista se confunde com sua criação e ela, a repórter, se confunde com esse sonho: “Depois de muitas entrevistas com ele, acho que não passo de quase conhecê-lo, e o que escrevo sobre ele terá a vaga e vaporosa qualidade que os nossos sonhos mais indeléveis assumem quando os pomos em palavras”. Eis o instigante paradoxo de uma escritura, entre a crítica e a autobiografia, que deseja apenas desaparecer – mas desaparecer no interior de um sonho alheio, sempre ambíguo e desordenado.