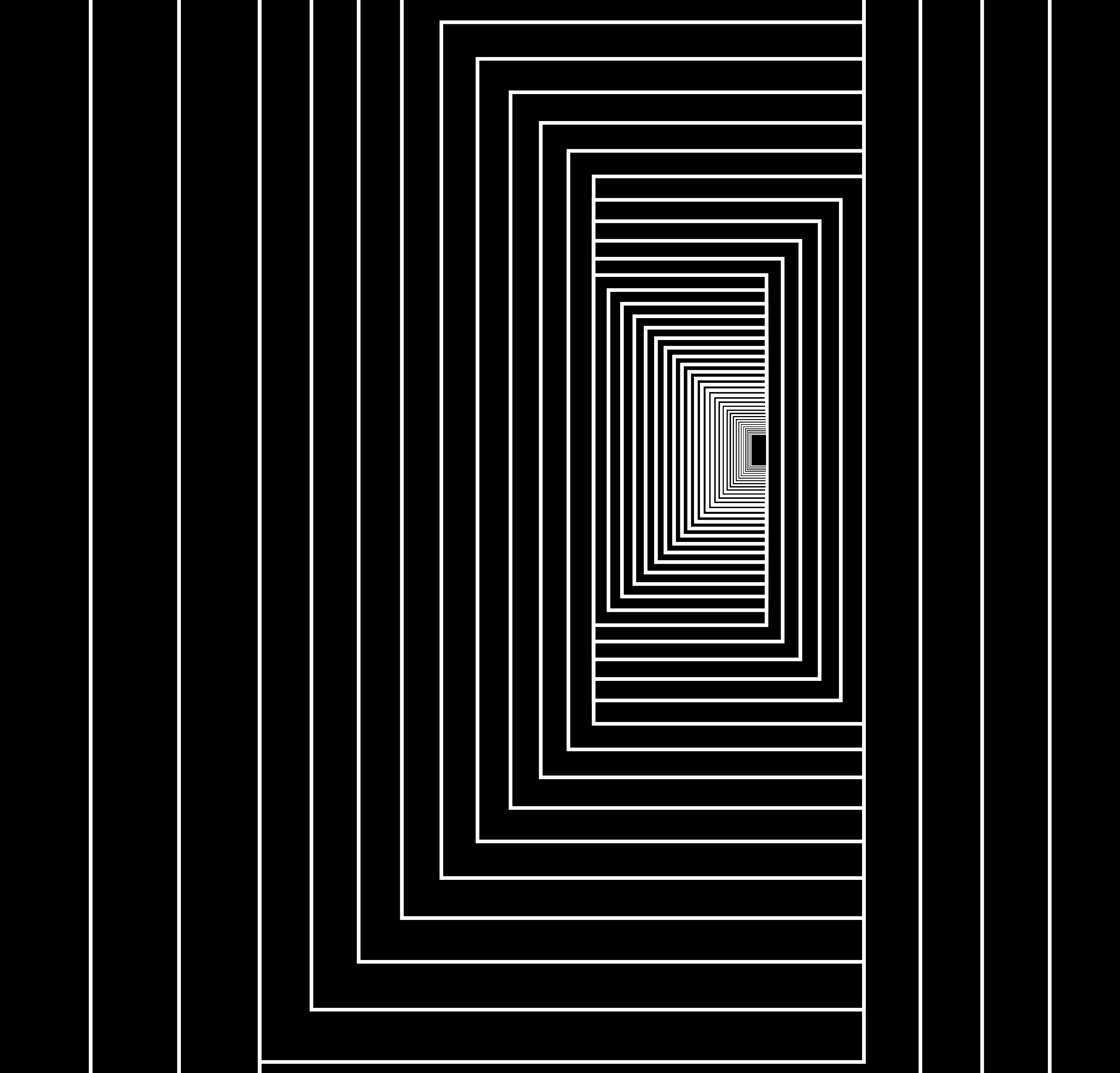
Quando ouvi Ripple, do Grateful Dead, no momento em que ensaiava este texto, pensei que As portas da percepção, de Aldous Huxley, poderia ser uma excelente leitura para limpar a atual onda obscurantista e conservadora. A visionária canção do Dead (aliás, escrevo este artigo em pleno Dia dos Mortos) foi baseada na letra do poeta Robert Hunter, notório consumidor de LSD, e tem versos como o haikai “Ripple in still water/ when there is no pebble tossed/ nor wind to blow” (“Ondulação na água parada/ quando nenhuma pedra foi lançada/ nem vento foi soprado”). A síntese entre impermanência e física quântica na música do Grateful Dead e o princípio da incerteza como indutor de lucidez no texto de Huxley podem clarear mentes fundamentalistas? Provavelmente. (Devo explicar que a canção apareceu via shuffle assim que comecei a escrever — e tenho mais de 20 mil músicas no iPod).
O título de As portas da percepção — um dos dois livros mais importantes da minha existência, conforme conto mais à frente — foi pescado da frase “If the doors of perception were cleansed, every thing would appear to man as it is, infinite” (“Se as portas da percepção fossem limpas, cada coisa apareceria ao homem tal como é, infinita”), presente no esquisito livrinho O casamento do paraíso com o inferno, que o poeta místico William Blake escreveu em 1793. O título inspirou Jim Morrison a nomear em 1965 sua lendária banda de rock’n’roll, e só este verbete pop demonstra a importância central do livro para a cultura planetária desde que foi lançado, em 1954. Mas o livro é muito mais que bíblia de cabeceira de hippies ou roqueiros doidões, como gostam de apregoar os obscurantistas (e mesmo influentes amigos de Huxley, como Thomas Mann, que o criticaram à época da publicação).
No aspecto puramente científico, As portas da percepção, em edição que faz dupla com o também ensaístico Céu e inferno (Biblioteca Azul, 156 págs.), trata-se de um raro relato de um sofisticado intelectual sobre os efeitos físicos, sensoriais e mentais advindos do consumo de substâncias psicodélicas. Convém ressaltar que Huxley integra uma família de high-brows britânicos — como o avô, o zoólogo agnóstico Thomas, e os irmãos Julian, evolucionista e fundador da Unesco, e o biólogo Andrew, que faturou um Nobel de Fisiologia — além de já ser considerado, nos anos 50, um dos mais renomados autores do século 20: Admirável mundo novo é de 1932. Um observador aquém de qualquer suspeita, portanto.
O título também integra uma seleta linhagem de livros que detalham experiências com substâncias alteradoras de estados da percepção: Confissões de um comedor de ópio, de Thomas de Quincey (opiáceos), O tratado dos excitantes modernos, de Balzac (álcool e café), Paraísos artificiais, de Baudelaire (haxixe e ópio), Memórias de um ex-morfinômano, de Reinaldo Ferreira (opiáceos), Romance com cocaína, de M. Agueiev (coca), Pileques, de Scott Fitzgerald (álcool), Junkie, de William Burroughs (heroína e um grande etc.), As cartas do Yage, de William Burroughs & Allen Ginsberg (DMT), Medo e nojo em Las Vegas, de Hunter S. Thompson (tudo o que você imaginar), Confissões de um comedor de ecstasy de meia-idade, de Anônimo (MDMA), Meus lugares escuros, de Bill Clegg (crack)... (Nota: salvo textos curtos, reportagens, poemas, contos e relatos — como o maravilhoso “Uma experiência com LSD”, de Paulo Mendes Campos —, o enlace entre escrita e substâncias psicoativas é muito fraco na literatura brasileira. O excepcional Pornopopéia, de Reinaldo Moraes, seria um forte candidato, mas seu princípio narrativo é o sexo, mais que o álcool, a maconha e a cocaína usados pelo protagonista. Cadê nosso grande livro sobre a cachaça, a ayahuasca, o crack? Autores: às drogas!)
Por fim, pelo resgate que Huxley faz de William Blake, já a partir do título, podemos agregar à sua obra outro caráter — este, mais exclusivo: sua multiplicidade, sua ambição de formar e fazer parte de uma rede de obras e de autores. Tratando-se de um ensaio de tom autobiográfico, funde testemunho pessoal e aproximação vagarosa entre conceitos distantes, e assim se estabelece como um contínuo tatear de possibilidades e flertes de Huxley com a História da Arte, da Filosofia, da Teologia, da Música e da Ciência, sem jamais fechar juízos ou postular afirmações. Como diriam Umberto Eco e Italo Calvino, o ensaio é uma legítima obra aberta, posto que mais sugere do que deduz. Impressiona como, passados 60 anos de sua publicação, seu texto é atual, por conta do espírito sempre questionador e a escrita clara, leve.
William Blake no País das Maravilhas
“Foi assim que, numa luminosa manhã de maio, engoli quatro décimos de um grama de mescalina dissolvidos em meio copo d’água e me sentei para aguardar os resultados.” Estamos em 1954: Aldous Huxley vive desde 1937 na Califórnia, onde trabalha como roteirista em Hollywood. É preciso informar que já nesta época a visão do visionário autor está bem prejudicada — desde os 17 anos era meio cego de um olho, motivo pelo qual foi rejeitado pelo Exército inglês quando se alistou para a Primeira Guerra. O problema na visão só torna a narrativa de As portas da percepção mais inquietante. Tido como guru pela elite intelectual californiana, por conta de Admirável mundo novo, era natural que Huxley conhecesse pesquisadores heterodoxos. À época era vegetariano, estudava budismo e textos védicos, e havia se tornado amigo do pensador indiano Jiddu Krishnamurti (cujo axioma básico propõe que “a verdade é uma terra sem caminhos”).
Na autobiografia do amigo Christopher Isherwood, descobre-se que Huxley faturava 3 mil dólares por semana em Hollywood — uma fábula para a época — e usava o dinheiro para trazer da Alemanha escritores judeus e de esquerda para os EUA durante a Segunda Guerra. Entre seus principais trabalhos — como os roteiros de Jane Eyre e Orgulho e preconceito — encontra-se o script para uma adaptação da Disney de Alice no país das maravilhas (certamente daria um filme melhor que o de Tim Burton). Correspondente de George Orwell — de quem tinha sido professor de francês na universidade Eton —, parabenizou-o pelo poder profético de 1984, publicado em 1949. Praticante de meditação, Huxley escreveu artigos sobre filosofia vedanta e chegou a morar em Taos, cidadezinha do Novo México notória por suas ressonâncias místicas — espécie de São Tomé das Letras gringa —, que atraía gente como Dennis Hopper. Ali teria ouvido falar do peiote, substância obtida a partir de cactos, usada por indígenas mexicanos para experiências espirituais.
Quando leu que o médico inglês Humphrey Osmond pesquisava na Califórnia um derivado do peiote chamado mescalina e procurava cobaias para um experimento, escreveu-lhe imediatamente. E assim, na manhã de 3 de maio de 1953, acompanhado por sua primeira mulher, Maria (a quem o livro é dedicado), e o escritor George Heard, seu amigo, Huxley tomou mescalina em Los Angeles. Seu mundo nunca mais foi o mesmo, e o mundo o acompanhou: sem As portas da percepção, não haveria contracultura, não haveria Timothy Leary, nem Ken Kesey, nem Sgt. Pepper’s, nem o Verão do Amor, nem toda a cultura pop global criada a partir da contracultura nos anos 60, e é possível que o Vale do Silício e seus nerds hippies, como Steve Jobs, jamais surgissem. Se Admirável mundo novo aponta para um futuro distópico possível, e A ilha, uma utopia impossível, As portas da percepção de fato moldou este futuro em que vivemos.
“Vivemos juntos, atuamos uns sobre os outros e reagimos uns aos outros; mas sempre, e em todas as circunstâncias, estamos sós. Nos braços um do outro, os amantes tentam desesperadamente fundir seus êxtases isolados num único arroubo de autotranscendências; mas em vão. Todo espírito encarnado está, por sua própria natureza, condenado a sofrer e gozar na solidão. Sensações, sentimentos, ideias, fantasias, todos eles são particulares e incomunicáveis (exceto por símbolos). Podemos juntar informações sobre nossas experiências, mas não podemos juntar as experiências em si. A mente não está em lugar nenhum a não ser nela mesma. Como visitar os mundos onde Blake, Swedenborg ou Bach viviam? Parece praticamente certo que jamais saberei como é ser Falstaff ou Joe Louis. Porém, modificando meu estado ordinário de consciência, usando hipnose, meditação, ingestão de medicinas, eu poderia modificar meu estado ordinário de consciência a ponto de conhecer desde dentro a consciência de visionários, médiuns e místicos.”
A cadeira de Van Gogh
Durante a jornada em que ingeriu mescalina, Huxley era quase um cego. Não por acaso, portanto, o cerne da sua experiência é visual. “Sempre tive uma péssima imaginação visual. As palavras não evocam imagens em minha mente. Quando me lembro de algo, a memória não se apresenta como um evento ou objeto visualmente vívido”, afirma. O que torna o relato de sua visão ainda mais extraordinário. Osmond chegou à casa de Huxley, em West Hollywood, e encontrou um homem gentil e simpático. Chegou a passar pela cabeça de Osmond, conforme ele relatou depois, “medo de levar Huxley à loucura” (muitos integrantes do clã Huxley padeceram de males mentais como depressão e esquizofrenia). Mas o escritor agiu sempre de modo sereno e sóbrio. Demorou umas três horas até que os efeitos da mescalina atigissem o cérebro de Huxley — e sua visão interior se cristalizou. Primeiro ele viu uma “lenta dança de luzes douradas”. Depois, percebeu a ocorrência dos padrões multicoloridos que se multiplicavam — um evento visual típico da experiência psicodélica.
A palavra “psicodélico”, aliás, seria criada por Osmond em conjunto com Huxley, alguns anos depois. Quando buscava um termo para a experência induzida pelo LSD, Osmond pediu uma dica a Huxley, que lhe mandou um dístico: “To make this mundane world sublime/ take half a gram of phanerothyme” (“Pra fazer do mundo mundano algo ótimo/ tome meio grama de fanerótimo” — a palavra “fanerótimo” é uma junção dos termos gregos “fanerós” (manifestar) e “timo” (espírito). Osmond entrou na brincadeira e respondeu: “To fathom hell or soar angelic/ just take a pinch of psychedelic” (“Pra atingir o inferno ou tornar-se angélico/ é só tomar um teco de um psicodélico” — “psicodélico” sendo a mistura de “psique” (mente ou alma) e “delo” (revelar). O termo seria superpopularizado por Timothy Leary. Mais tarde, outros autores iriam preferir, ao uso de psicodélico, o termo “enteógeno” (“cheio de Deus” + “se tornar um ser”), especificamente referindo-se ao uso de plantas de poder para rituais xamânicos — cogumelos, jurema, ayahuasca etc. O próprio Huxley usa em seu livro a palavra “alucinógeno”, hoje considerada inapropriada à narrativa da experiência visionária por lembrar alucinação, delírio ou insanidade.
Depois dos padrões multicoloridos — que Huxley via com olhos abertos, não fechados —, uma hora e meia depois vem a famosa visão das flores, quando ele fixa o olhar em um vaso da sala de sua casa. Vi o que viu Adão na alvorada do dia em que fora criado: o milagre incessantemente renovado da existência nua. “‘É agradável?’, perguntou alguém. ‘Apenas é’, respondi.” Neste ponto Huxley atinge o começo da epifania abstrata, a qual, paradoxalmente, é a estrutura de sua tese psicodélica. Quando diz “apenas é”, Huxley refere-se ao darma budista, uma designação do Espírito Universal, a esseidade, o vazio, a essência divina: algo que não pode ser explicado por meio da linguagem ou por símbolos, mas que pode ser intuído para além do mundo físico pelo processo da graça ou da transfiguração. Ele também sente a dissolução do seu ego, “meu ‘não eu’, liberto por um instante de meu abraço sufocante”. Então vem a espetacular visão da cadeira de bambu, que faz Huxley disparar uma incessante cadeia de associações. “Passei alguns minutos — ou terão sido séculos? — não só contemplando aquelas pernas de bambu, mas sendo-as — ou, antes, sendo eu mesmo nelas; ou, para ser ainda mais preciso (pois “eu” não estava envolvido na situação, tampouco, em certo sentido, estavam “elas”), sendo o meu ‘não eu’ no ‘não eu’ que era a cadeira.”
Dali vamos para Bergson, divagações sobre a fisiologia cerebral quando ausente de glicose (o que acontece sob efeito de mescalina e LSD), C. D. Broad, São João da Cruz, Eckhart, Whitman, e, já perto do pôr do sol, a turma resolve dar uma volta na The Owl Drug, conhecida como a maior loja de departamentos do mundo, onde Huxley casualmente tropica num livro de Van Gogh, e o abre justo no quadro “A cadeira”. “Estava claro que a cadeira que Van Gogh vira era idêntica, em essência, à cadeira que eu tinha visto. Mas a cadeira em sua pintura era apenas um símbolo expressivo do fato. O fato fora a esseidade manifesta; a pintura era só um emblema.” De Van Gogh, Huxley passeia por pinturas de Botticelli, Cézanne, Vermeer, Vuillard... depois discorre sobre os drapejados nas pinturas clássicas... a teoria psicanalítica... e percebe que os pintores viram “o fato milagroso da existência pura” do mesmo modo que ele via sob a mescalina. “É assim que devemos ser”, pensava, olhando a cadeira: “a mescalina havia me libertado do mundo dos eus, do tempo, dos juízos morais e das considerações utilitárias, da autoafirmação, da presunção, da sobrevalorização das palavras e da idolatria das noções”.
Antípodas da mente
Um par de horas depois, Huxley volta a casa, de volta à sobriedade, e nota: “é muito improvável que a humanidade seja capaz de dispensar os paraísos artificiais”. Observa que somente o álcool e o tabaco são drogas psicoativas aceitas em sociedade, mas aponta seus defeitos e limitações, dedurando a hipocrisia do cristianismo que tolera o alcoolismo e o tabagismo, e sugere que procuremos “portas melhores”. “Precisamos de uma nova droga que alivie e console nossa espécie sofredora sem causar mais dano”. O homem que décadas antes havia criado a panaceia soma em Admirável mundo novo lembra que para os índios a mescalina é uma experiência transcendental, e a aproxima da iluminação beatífica dos santos — no que, mais tarde, já um contumaz psiconauta movido a LSD, foi duramente repreendido. Defende, no entanto, a experiência iluminadora como possibilidade de escape da razão, do verbal e do simbólico, e finaliza voltando aos anjos de Blake: “Ser iluminado é ser consciente, sempre, da realidade total em sua alteridade imanente — ser consciente dela e mesmo assim permanecer em condições de sobreviver como um animal”. Em outras palavras, Huxley sugere a experiência psicodélica como um reavivador da realidade que nos cerca.
No livro seguinte, Céu e inferno, Huxley disseca a sua exploração aos “antípodas da mente” e aprofunda as aproximações entre arte, teologia, psicologia e biologia; tece uma ziguezagueante genealogia dos estados alterados da percepção, dos paraísos e dos infernos conhecidos pelo homem através da literatura e de sua interação com substâncias psicoativas; demora-se na busca incessante que artistas visionários se jogaram para atingir estados de êxtase — da pintura ao cinema, passando pelos fogos de artifício e pela lanterna mágica, do estroboscópio aos suplícios religiosos.
Por fim, o corajoso posfácio do neurocientista brasiliense Sidarta Ribeiro — defensor da descriminação da maconha — advoga em favor da psiconáutica, a ciência da navegação mental de que Huxley foi um dos mais valentes capitães. “A psiconáutica está mais viva do que nunca. Hofman e Huxley tinham razão: os psicodélicos são um inestimável patrimônio da humanidade. As promessas desse novo olhar são a evolução de uma nova ética social em tempos de abundância, a desrepressão da libido e o respeito a todas as formas de loucura, menos àquela que oprimem. Poderiam os psicodélicos fazer os ricos se desapegarem do excesso de riqueza? Provavelmente”, desafia Ribeiro. Poderia As portas da percepção iluminar as mentes mais retrógradas que hoje tomam conta de nossa sociedade? Cabe a nós, a partir de Huxley, divulgar a nova: a iluminação só surge no autoconhecimento e no antidogmatismo.
No estágio terminal de um câncer de laringe, em 22 de novembro de 1963, Huxley pediu à segunda mulher, Laura, que lhe injetasse 100 gramas de LSD. Horas se passaram; durante todo o tempo, o escritor esteve sereno, até que, nas palavras de Laura, “assumiu um semblante muito belo e morreu”. Nesta mesma data, quatro anos depois, meu pai, levando um livro de Kafka debaixo do braço, ficou hipnotizado pelo estranho desenho na capa do livro trazido pela bela garota com quem marcara um encontro. “O nome do livro é As portas da percepção”, informou minha mãe.