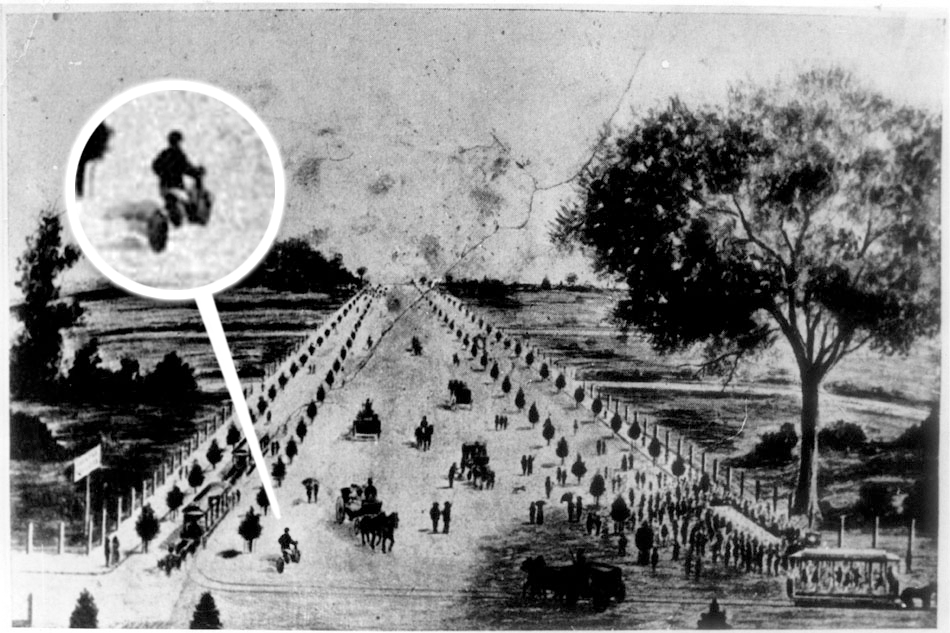
No momento em que este texto é divulgado, a Avenida Paulista, cartão-postal da cidade de São Paulo e corredor da Marcha Imperial na memória coletiva do progresso brasileiro, recebe uma obra emblemática que simultaneamente opera na ideia de construção e desconstrução da cidade. Construção de uma obra viária simples e desconstrução de uma lógica carrocrata complexa, enleada à própria noção de identidade paulistana. A ciclovia que agora corta a famosa avenida projeta uma cidade que precisa repensar a glória do desenvolvimento a qualquer custo.
A princípio, nada disso diz respeito ao livro resenhado aqui. O próprio autor tenta amenizar os liames entre a São Paulo que ele trata em seu trabalho (a cidade que acontece entre os anos de 1900 e 1954, durante a chegada em massa de imigrantes estrangeiros e antes da dos nordestinos) e a São Paulo das amadas/odiadas ciclofaixas de hoje. Mas tudo na pesquisa de Roberto Pompeu de Toledo aponta para as inevitáveis associações entre a vertigem da São Paulo atual do formigueiro humano subindo e descendo as infinitas escadas rolantes da estação Pinheiros e a vertigem da São Paulo dos anos 20, abismada com a sólida sustentação do edifício Martinelli, o prédio “Monstro de Aço” que subia à medida que seu proprietário, o empresário Giuseppe Martinelli, desafiava a engenharia em nome de sua vaidade.
A partir de personagens como esse, quase sempre uma elite que se projeta a partir de arquivo público e livros históricos, o jornalista cria um atraente texto-novelo a tecer a história dos indivíduos a partir das alterações paisagísticas e morais da cidade. Consegue quase sempre conectar essas pessoas numa grande narrativa dos urbanoides que contaminam e são contaminados pela simpática predisposição exibicionista da cidade. Dos elementos que abrem e fecham o livro para apontar características medulares de São Paulo, o mais elementar é, claro, o trânsito, cujo primeiro registro oficial se dá no dia 12 de setembro de 1911, quando, na inauguração do Theatro Municipal, 118 automóveis e 122 “carros de praça e de cocheiras particulares” pararam a região do Vale do Anhangabaú. A ideia de um local que será travado, na terra e na água, por represas humanas, é a mais forte impressão de A capital da vertigem.
Por ser um documento que busca sua narrativa em outros documentos, o livro termina por reproduzir a versão dos “vencedores”, de pessoas que, como o próprio Martinelli, invocam a falsa ideia de que a meritrocacia do homem trabalhador tudo vence. E mesmo não se tratando de um trabalho que propõe uma análise sobre costumes e valores, a escolha de seus personagens não deixa de refletir a contemplação de uma São Paulo non ducor duco, que ainda reclama para si o protagonismo na condução da engrenagem brasileira. Esse livro desfaz e refaz esse espírito paulistano. Um texto, enfim, mais contemporâneo que passadista.