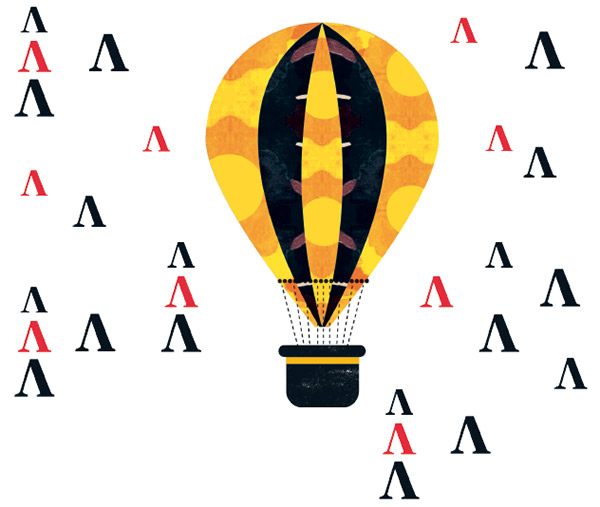
“Por que haveria um padrão, logo aqui?”pergunta o escritor inglês Julian Barnes, nos últimos parágrafos de Altos voos e quedas livres (Ed. Rocco, R$ 23,50). A indagação, uma entre tantas moradoras argumentativas da vizinhança literária tão doída e bela apresentada por ele ao longo de pouco mais de 100 páginas, aparece como um alerta aos mais desatentos: caro leitor, ao fim deste livro, você deverá compreender que o amor e o luto não têm fim. Escrito após a morte de sua mulher, a agente literária Pat Kanavagh, vítima de um tumor no cérebro em 2008, Altos voos e quedas livres é um conjunto de fragmentos históricos, pequenos contos e experiências pessoais dividido em três partes. O fio condutor é o axioma poeticamente variável “Você junta duas coisas que nunca foram juntadas antes. E o mundo se transforma. As pessoas podem não reparar na hora, mas isso não importa. Mesmo assim, o mundo se transformou.” Essa mistura de matemática universal com o conceito junguiano de sincronicidade e o tão atraente acaso resulta, geralmente, em uma fórmula certeira de divagações sedutoras, e não foi diferente no livro, lançado este ano no Brasil.
De início, Barnes nos convida, meio sem jeito ou sentido, a empreender viagens de balão com algumas figuras alegóricas do século 19. Entre elas, está o francês “jornalista, caricaturista, fotógrafo, balonista, empresário e inventor” Félix Tournachon, que adotou para a vida o pseudônimo de Nadar. Inspirado em Júlio Verne, ele produziu o Le Géant (O Gigante), enorme balão de ar quente, sucesso entre os amantes dos ventos europeus naquela época. Além desse fato importante, Nadar ficou conhecido também pela ideia de colocar em prática uma junção fortuita: unir altitude e fotografia. Enquanto estava lá em cima, o francês registrou inéditas e grandiosas visões da realidade. Também é confessado ao leitor trechos da vida privada de Nadar: apesar da boemia e de várias paixões, Nadar foi um marido carinhoso e cuidou, com afinco, da sua mulher, acometida por um derrame (fato este que, de certo, não foi escolhido aleatoriamente por Barnes para ser descrito no livro).
Na segunda seção, intitulada No nível do chão, o personagem Fred Burnaby, soldado inglês e também amante dos balões, engata um romance (fracassado) com a célebre atriz Sarah Bernhardt. Como avisa Barnes no começo da pequena história: “É claro que o amor não pode ser combinado equilibradamente, talvez ele raramente seja”. A eventual entrega de Fred ao relacionamento foi recepcionada com uma decidida e melancólica negação por parte de Sarah. Através de trechos nos quais Sarah afirma que jamais casará com ninguém, pois será sempre uma “balunática” e conclui para o capitão: “Você deve pensar em mim como sendo uma pessoa incompleta”, Barnes consegue trazer para as palavras a queda lírica e titular que foi proposta entre os dois primeiros capítulos.
A frieza e concretude do chão, depois de páginas rarefeitas, preparam, um pouco, para a terceira e última parte, na qual o autor adota a primeira pessoa e discorre, com sinceridade, beleza e devastação sobre o luto. É neste ponto, quando Barnes “perde a profundidade” e mergulha em um relato íntimo de situações e sensações, que observamos um egoísmo paradoxalmente bonito convivendo com abdicações de esqueleto narrativo, gêneros literários e linguagens. Diante de passagens nas quais o autor relata pensamentos suicidas, momentos de embaraço e tristeza divididos com amigos e investigações sombrias sobre o cotidiano da falta (“Noto estranhas continuidades: eu costumava passar óleo nas costas dela porque sua pele ficava seca com facilidade; agora passo óleo na madeira ressacada da lápide do seu túmulo”); podemos resgatar a frase na qual o francês Julien Gracq afirma: “O escritor não tem nada a esperar dos outros. Acredite, ele só escreve para si mesmo”. Neste ponto, refletimos: partindo da ideia com nuances ególatras e presunçosas de Gracq, o que é, de fato, literatura? Existem linhas divisórias entre ela e o exercício da escrita como libertação individual? Barnes parece responder a essa pergunta no trecho em que afirma: as palavras criadas pelos escritores com a intenção de expressar ideias, histórias, verdades, são a salvação deles “estejam ou não devastados pelo luto”. Ou seja, literatura é, antes de tudo, necessidade. Barnes parece entender e desenvolver esse pressuposto não de maneira excludente e mesquinha, e sim como algo valioso, um presente ao leitor mais atento às minúcias, que estiver disposto a adotar uma posição participativa, acolhedora e analítica. Essa abertura na relação escritor-obra-leitor, também está presente em outros livros do inglês, como em O sentindo do fim e Pulso, ambos traduzidos em português para a editora Rocco.
Enquanto tenta lidar com a morte e com a ausência deixada por ela, Barnes esbarra no entendimento de que este é um tópico inalcançável do ponto de vista teórico, assim como o amor, muitas vezes. “Processo de luto. Parece um conceito claro e sólido. Mas é um termo fluido, escorregadio, metafórico”, afirma. Se livros tivessem trilha sonora, durante os parágrafos que narram a solidão diária nesses últimos anos, e as tentativas de superação esperadas pelos amigos que muitas vezes incentivavam o escritor a “ser feliz e continuar com a vida” amorosa, estaria tocando aquela linha de baixo inconfundível assinada por Peter Hook em harmonia com os versos de Leave me alone. “It’s going to be so quiet in here tonight. It’s a thousand islands in the sea, it’s a shame”cantam junto com o clássico dos anos 1980 algumas páginas de Altoos voos e quedas livres. No final dessa curta, porém turbulenta e grandiosa viagem de balão proporcionada por Barnes fica no leitor o conforto e a dor côncava em saber que, assim como o luto e o amor, a literatura não tem fim.