Todas as épocas históricas têm características dominantes que definem sua identidade. Entretanto, confirmando o princípio dialético das coisas, têm, também, significativas contradições. Seja qual for o corte histórico que se utilizar, sempre haverá em seu bojo contradições, inclusive antagônicas. Ao analisar um personagem histórico, necessário se faz contextualizá-lo, levando em conta sua posição econômica, social, política, religiosa etc, no tempo e no espaço. As ideias e as ações dos personagens se desenvolvem em função dessa realidade.
Os estudos centrados em pessoas, mesmo aqueles frutos de intensas pesquisas e de boa reconstituição temporal, às vezes destacam somente os aspectos positivos ou negativos, procurando justificá-los; a inconstância humana é escamoteada. Entendemos que todo ator significativo da história é fruto das ambiguidades postas no universo em que vive, sem esquecer, todavia, suas particularidades enquanto indivíduo. Assim, a capacidade de entender novas situações conjunturais e posicionar-se diante delas, sem cair no tão conhecido oportunismo, é definidora das grandes personalidades.
O livro Antônio Vieira: jesuíta do rei (Companhia das Letras, 2011), do professor Ronaldo Vainfas, consegue não só contextualizar o célebre padre em sua época, como dissecar as disparidades entre o discurso e a prática, as ideias e a obra, enfim, fraquezas e grandezas da condição humana desse biografado “multifacetado”.
Mais conhecido como grande marco da literatura portuguesa, homem barroco e erudito, e como missionário catequizador de índios, Vieira foi também político, politiqueiro, diplomata, pacificador, agitador, vidente e, sobretudo (como sugere a obra de Vainfas), jesuíta. Seus escritos permanecem como fonte de estudos pelos mais diversos ramos do conhecimento humano. Aqui, pretendemos uma abordagem de sua figura sob o ponto de vista da história.
No século 17, do qual Vieira foi testemunha privilegiada e personagem ativo — nasceu em 1608 e morreu em 1697 — consolida-se o sistema colonial no Brasil, baseado em latifúndio, escravismo, monocultura e economia exportadora. No plano internacional, os grandes impérios coloniais (Portugal, Espanha, Holanda, França e Inglaterra) se digladiam entre si com alianças intempestivas, atingindo, logicamente, as colônias. Diversos fatores como a Reforma Protestante, a Contrarreforma e o judaísmo servem como justificativa para disputas de interesses econômicos, políticos e pessoais.
O projeto dos holandeses de ampliação do seu domínio colonial, facilitado pela União Ibérica (1580 – 1640), leva à invasão do Brasil, onde já havia toda uma estrutura de produção com reciprocidade de negócios entre flamengos e luso-brasileiros. As perseguições a judeus e cristãos-novos expulsam da Península Ibérica preciosos capitais que vão dinamizar outras áreas, onde o espírito do capitalismo contido no calvinismo não se interessa pelas origens religiosas dos seus empreendedores.
No Brasil Colônia havia, segundo Nelson Werneck Sodré, uma “aparente placidez”. De fato, lutas entre índios e colonos, colonos e negros, grupos étnicos e outros setores sociais marcaram todo o período. Restringindo-nos ao século 17, citaríamos a conquista do Sertão nordestino, as guerras contra os holandeses, as bandeiras no sudeste, a economia extrativa no Maranhão e na Amazônia, as lutas contra o Quilombo dos Palmares e a Guerra dos Bárbaros. Todos os citados denotam contradições internas e externas; o cotidiano da Colônia, portanto, não era nada “plácido”. Muito pelo contrário...
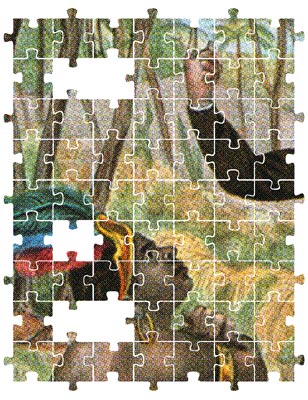 Escravidão indígena, escravidão negra, catequese, resistência às dominações, invasões estrangeiras e Santo Ofício são os mais cadentes problemas do País no século 17. Vieira envolveu-se apaixonadamente em todos eles, tanto na sua obra escrita quanto nas suas ações enquanto personagem. Às vezes contraditório, mas sempre dando ênfase à defesa do reino português como um todo e a hierarquia religiosa, política e social.
Escravidão indígena, escravidão negra, catequese, resistência às dominações, invasões estrangeiras e Santo Ofício são os mais cadentes problemas do País no século 17. Vieira envolveu-se apaixonadamente em todos eles, tanto na sua obra escrita quanto nas suas ações enquanto personagem. Às vezes contraditório, mas sempre dando ênfase à defesa do reino português como um todo e a hierarquia religiosa, política e social.
No que diz respeito à escravidão, mais sinais da contradição que era o jesuíta. Vieira condenava a indígena, mas justificava a negra. “No caso dos índios, escravidão e catequese se opunham; no caso dos africanos, complementavam-se”, diz Vainfas. Essa visão era certamente alicerçada na versão bíblica (Gênesis, 9, 18-28) onde Noé amaldiçoa os descendentes de seu neto Canaã, filho de Cam, estabelecendo que seriam escravos dos descendentes de Sem e de Jafé. Escravistas explicam a restauração plena da instituição, em quase total desuso na Idade Média, com diversas variantes dessa versão.
Ora, sendo os negros identificados com os camitas ou hamitas, descendentes de Cam, estariam condenados ao ócio, ao vício, ao crime e, consequentemente, à condenação eterna. Todavia, aos “não amaldiçoados” caberia a sublime missão de salvar a alma desses indivíduos, metendo-os à condição de servos através do trabalho, da disciplina e da doutrina religiosa. Assim sendo, o senhor tinha obrigação de tirá-los da “selvageria” e discipliná-los, ocupando-os e castigando-os quando preciso; ensinando-lhes o caminho da salvação. Enfim, deveria lhe dar o pão (panis), a disciplina (disciplina) e o trabalho (opus); mais ainda, a glória dos pretos residia na condição de escravos. Vieira chega a pregar que eles deviam agradecer a Deus por terem sido retirados da gentilidade, instruídos na fé e, assim, puderem ganhar a salvação eterna.
E em relação aos excessos, sobretudo nos castigos? O padre Jorge Benci SJ (Economia cristã dos senhores no governo dos escravos. Editora Grijalbo, 1977), contemporâneo e amigo de Vieira, tido por alguns como “reformador” da escravidão no século 17, aconselha prudência, afirmando que “o castigo dos escravos não deve passar de prisões e açoites moderados”. Curioso como, apesar de defender a escravidão, Benci adverte aos senhores para que “não induzam seus servos ao pecado, para que não usem de sevícias ao castigá-los e que o trabalho deles não deve ser agressivo e superior a suas forças; devem dar trabalho aos servos para que não se façam insolentes a Deus”. Ser senhor, para ele, mais que direitos e vantagens, implica em obrigações e sacrifícios. Vieira defendeu tudo isso desde seu famoso sermão na capela de um engenho, em 1633, até o seu parecer contrário a qualquer negociação com os palmarinos, em 1691.
Outra curiosidade do comportamento do inquieto jesuíta: Tridentino em relação aos protestantes, mas tolerante quanto aos judeus e cristãos-novos. Ainda que haja notícias de uma avó “índia” ou mulata e outra de possível origem hebraica, a impressão é que essa tolerância era mais por conta da importância que ele via neles para a sobrevivência e o ressurgimento de Portugal. Esse seu “ecumenismo”, portanto, era, tudo indica, mais pragmático que atávico. Isso, mais os escritos proféticos, as disputas palacianas e as querelas dentro da própria Companhia, vão servir de munição para enredá-lo no Santo Ofício que o condenou a sério confinamento. Posteriormente, uma reviravolta no palácio, com a queda de D. Afonso VI e ascensão de D. Pedro II (de Portugal) cria uma correlação de forças que leva ao fim da punição.
Como conselheiro e embaixador de Portugal sua preocupação maior era evitar a derrota do País frente à Espanha e uma guerra contra os holandeses por conta da resistência local e a consequente expulsão deles de Pernambuco. Nesse mister, muda de opinião e de proposta várias vezes. Contrário à Insurreição Pernambucana, propõe comprar, com a ajuda de cristãos e judeus, o Brasil Holandês. Logo em seguida, sugere a entrega pura e simples para evitar uma segunda frente de batalha.
O retorno ao Brasil, mais precisamente ao Maranhão (1653) como Superior das Missões é o apogeu do Vieira missionário, “defensor” dos índios e vidente do Quinto Império. De volta a Portugal, é envolvido novamente em processos do Santo Ofício, esteve preso e teve vitórias alternadas com derrotas nas lutas contra seus inimigos. Em 1681, com o restabelecimento do Santo Ofício, resolve voltar à Bahia, onde vive até sua morte, em 1697.
Nessa última fase da sua vida, teve momentos de prostação, conheceu o poeta Gregório de Matos, e foi, durante três anos, visitador da Companhia; meteu-se em polêmicas com governadores da Bahia, tomou posição contra negociações com os quilombolas dos Palmares e escreveu outros trabalhos; entrou em choque com membros da Companhia, como Antonil e Benci, e preparou os Sermões para publicação.
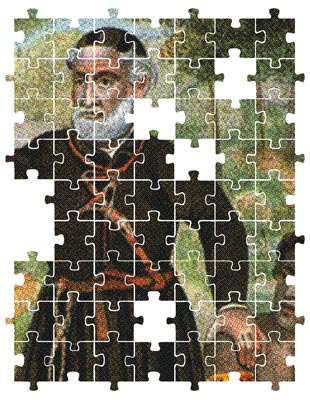
Personagem “multifacetado”, em sua época, foi demonizado por uns e santificado por outros. Fonte riquíssima de estudos e versões — atilado, mordaz, criativo, desafiador, delirante, autêntico, traidor, gênio — só consegue unanimidade como escritor maior, “imperador da língua portuguesa”.
Muitos, portanto, são os trabalhos sobre o notável jesuíta. Modelo no escrever e no comunicar, é importante para a linguística e a literatura. Obediente à hierarquia da Companhia de Jesus e do reino português, contestava-os em várias ocasiões para gáudio dos polemistas de todas as épocas. Do ponto de vista da história, atua numa clara demonstração de quem acredita na possibilidade de mudar o rumo do processo, às vezes de forma desastrada e sonhadora.
O professor Ronaldo Vainfas, ao utilizar-se de método e técnicas inteligíveis e eficazes, consegue, no livro já citado, dar uma contribuição importante ao tema e à historiografia brasileira. A coleção Perfis brasileiros, da Companhia das Letras, em títulos anteriores, já mostrava claro interesse em aprofundar os estudos de figuras marcantes do País, como D. Pedro I, Getúlio Vargas, Maurício de Nassau, Joaquim Nabuco, entre outros. A orientação desses trabalhos se diferencia do estilo biográfico tradicional, fugindo das louvações e/ou críticas exageradas, preferindo analisar os personagens e sua época em suas reciprocidades.
Vainfas reconstitui o tempo histórico do século 17 e o biografado em suas várias dimensões, sem esquecer as permanências e mudanças. Uma permanência destacada em Vieira é sua fidelidade básica à Companhia de Jesus e ao reino português. Suas contestações são sempre em fundação de transformações da realidade objetiva, continuando incondicionalmente jesuíta e luso-brasileiro.
Outro destaque do título é não padecer do engessamento de alguns trabalhos, sobretudo alguns acadêmicos, por conta de notas de rodapé e outras minudências “oficialescas”. Nada disso compromete a forma como o autor manuseia citações, opiniões de outros e informações, sempre com exatidão e clareza.
José Ernani Souto Andrade é professor de história na Universidade Católica de Pernambuco.