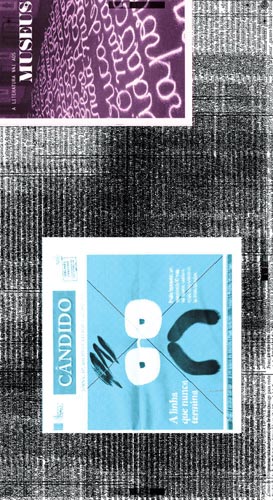
Diversos outros estados também já tentaram engatar suplementos vinculados a órgãos públicos. Um exemplo é o Suplemento Literário Amazonas, que saiu entre 1986 e 1988, comandado pelos escritores Arthur Engrácio e Alcides Werk, e que teve sua importância para divulgação da produção local. Depois, a Secretaria de Cultura do Amazonas, na segunda metade da década de 1990, ainda lançou O Muhra, também já extinto.
O maior problema dos suplementos, vinculados a órgãos governamentais, é justamente o de sobreviver intactos a mudanças políticas. O mais comum é a saída do editor e do corpo de colaboradores – um processo relativamente natural. Publicações de menor tradição, no entanto, podem ser simplesmente encerradas, desarticulando em certa medida a construção de uma voz literária estadual.
Um dos jornalistas e escritores que viveu a situação na pele foi o paraibano Astier Basílio. Com experiência de edição em suplemento de jornais – ou seja, de maior aspecto comercial – e uma passagem também pelo Correio das Artes, caderno semanal do jornal governamental A União, ele lidou com limitações distintas nos dois veículos. No Augusto, encartado no Jornal da Paraíba entre 2005 e 2007, Astier Basílio tinha uma maior liberdade de criar novas seções e de intervir até mesmo na parte gráfica. “Encarado como produto da casa, o foco do suplemento era aquela abstração chamada ‘leitor médio’. Assim sendo, não se podia fazer uma edição pesada demais, hermética, como o antigo Mais! da Folha, nem um suplemento que não enfrentasse a reflexão. Foi nesse equilíbrio que pautamos as edições todas”, ele lembra.
Já no Correio das Artes, Astier Basílio foi convidado por Sívio Osiais. “Na ocasião, e é até meio brega dizer isso, mas era a verdade, eu disse que eu tinha me preparado a vida toda para ser editor do Correio”. No suplemento estatal, abarcando também outras artes, o editor conta que se sentia menos confortável para ser inventivo, numa espécie de censura interna. “Nunca recebi nenhum gesto de censura, nem de sugestão direcionada, não é nada disso. É aquela ‘linha editorial’ que o prórprio jornalista internaliza, sabe? De se levar em conta o que notáveis, pessoas da cultura, comentam”, confessa. De certa forma, para ele, exerciam uma influência indireta no caderno a Academia de Letras local, a velha guarda do jornalismo, os escritores oficiais, dentre outros.
Ainda assim, se o paraibano lidava com o peso da tradição do caderno, o respeito acumulado do Correio das Artes rendia também uma maior circulação dos textos e reflexões ali publicados. “A avaliação transcende meu período como editor, que foi curto, de seis meses apenas. O caderno sempre teve uma repercussão maior, pela tradição e, principalmente, porque com Linaldo Guedes, que editou o suplemento entre 2003 e 2009, chegamos à internet e às discussões”, pondera, lembrando de textos com grande repercussão, como o manifesto Odeio poesia, escrito por Hildeberto Barbosa, contra a poesia de invenção. Astier Basílio saiu da publicação depois de uma mudança de governo, que o acusou de ter feito campanha para o opositor.
Na verdade, os suplementos de diários oficiais dialogam com uma longa história de revistas e jornais literários brasileiros. “O Brasil sempre teve uma relação muito estreita entre jornalismo e literatura como um todo, como se pode ver com Machado de Assis e José de Alencar, que publicavam seus romances nos jornais”, resgata Isabel Travancas, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Apesar de uma longa tradição de veículo menores, segundo ela, só nas décadas de 1940 e 1950 surgiram no país os primeiro cadernos de jornais dedicados exclusivamente à literatura, como o Ideias, do Jornal do Brasil.
Para a acadêmica, a partir desses fenômenos, o campo passa a dialogar com figuras externas a ele. “Essas publicações dão uma visibilidade da literatura para um público maior, se voltam para o ‘espaço público’ mesmo”, destaca. Possibilitando o início de um debate, esses cadernos e revistas se tornaram fundamentais para o desenvolvimento da crítica e da reflexão sobre o tema.
Raul Antelo, professor de Letras da Universidade Federal de Santa Catarina, reporta-se ao momento em que os veículos que falam sobre literatura começaram a aparecer no Brasil, ainda no século 19. Nesta época, uma das principais preocupações dos escritores – e dos homens letrados como um todo – era a de dar voz a identidades nacionais ou de classe. Ele recupera as declarações dessa época de Domingos F. Sarmiento, escritor e presidente da Argentina, que via o jornal e a literatura como local de circulação e debate dos valores democráticos - o equivalente, para os povos modernos, do fórum romano. “A imprensa substitui a tribuna e o púlpito; a escritura substitui a palavra e a oração que o orador ateniense acompanhava com a magia da gesticulação”, dizia o político, falecido em 1888.
Ele cita um termo-chave para o argentino, “diarismo”, ou seja, defende a ideia de que o escritor deve fazer “o diário no jornal, como uma forma de militância cívica”. Nessa visão, os suplementos literários são tidos como um local em que autores podem falar publicamente. “Derrida reiterou várias vezes que, com o pretexto da ficção, a literatura do século 19 chega a se sentir capaz de dizer algo, o que equipara a literatura a outras instituições sociais, como os direitos humanos ou a liberdade de expressão”, explica Raul Antelo.
Então, para o acadêmico, nessa época, é o ato de publicar um texto que “vincula a palavra literária à reflexão política e filosófica, libertando-a de seu confinamento no reino do doméstico ou do privado”. Mesmo que esse contexto tenha mudado bastante, e que agora exista inclusive uma dificuldade de separar quem é autor e quem é leitor, é importante, para o professor, entender essa história.
Raul Antelo, no entanto, não é otimista em relação ao papel dos suplementos hoje. “Não há mais intervenções construtivas como o Suplemento Literário do Jornal do Brasil dos anos 1950-60. Não há mais suplementos eruditos como o do velho Estadão, do Décio de Almeida Prado. Nem mesmo o Folhetim da redemocratização, com maciça colaboração uspiana”, lamenta. “O jornal é, então, jornal do luto e é luto pelo diário de um letrado que buscava esclarecer com valores universais”. Outro ponto crítico é a invasão de assuntos de outras artes, como o cinema e música, nesses veículos.
Para ele, o papel desses cadernos e revistas é nos familiarizar com elementos residuais da sociedade. “O suplemento literário não deveria olhar para o contemporâneo como o atual. O contemporâneo é o inatual. Aquilo que ainda (ou já não mais) atua. Se é um suplemento, se suplementa a tarefa da educação e da crítica, é no sentido de mostrar quanto passado ainda nos resta por digerir para nos pensarmos contemporâneos”, defende Raul Antelo.
Esse papel político e social dos suplementos também encontra eco na palavra de Isabel Travancas. “Acho que o suplemento tem o papel de colocar em cena a literatura. Minha visão é a de que eles precisam trazer para a literatura questões de maior interesse coletivo, como discutir a sociedade hoje e o papel do cidadão, do governo, das editoras e dos editores, por exemplo”, sugere a professora.
Astier traz duas sugestões. Para ele, os jornais podem investir tanto na integração da literatura com o dia-a-dia do leitor como na interdisciplinaridade, focando-se em ceder espaço para que os escritores falem de outros assuntos, como cinema, música e artes plásticas.
Já para Rogério Pereira, o panorama atual é positivo, de certa forma. “Pegando pelos suplementos de diários oficiais, como o de Minas Gerais e o Pernambuco, a literatura está até bem servida de espaços de divulgação. Quantos veículos desse tipo você tem para falar de cinema, de teatro, de artes plásticas? O mercado de alguns deles pode até ser mais forte, mas não tem tanto lugar de discussão na imprensa”, argumenta. Para eles, os atuais veículos, oficiais ou não, e a internet se completam: “quanto mais vozes, melhor”.