
Este texto toma por empréstimo o título de uma pesquisa desenvolvida na Universidade de Brasília (UnB) que tenta conhecer e ampliar o acesso às narrativas que constroem o imaginário da capital federal. Por meio do mapeamento de autores negros, mulheres, trabalhadores e moradores da periferia do Distrito Federal, o estudo de 2017, coordenado pela professora Regina Dalcastagnè, mostra que não teríamos como falar de Brasília sem sentir pulsar forte o que a margeia, muito menos ignorando as narrativas feitas de concreto e poeira. O primeiro elemento marca as edificações levantadas feito catedrais simbólicas e o segundo, as regiões pobres que receberam centenas de trabalhadores de todo o país, ainda anônimos dessa história.
Falar da literatura deste pedaço do país pressupõe o entendimento das relações de pertencimento e não pertencimento muito particulares à cidade. Exige, por exemplo, compreender que o uso da designação “Brasília” para se referir a todo o Distrito Federal vai além de um ingênuo efeito de sinédoque. Esconde o risco do esquecimento das 31 regiões administrativas que compõem o DF. Isso se reflete na distância entre essas regiões e a capital, sede do governo, que, se por um lado aparta a produção e o acesso à cultura, por outro é motor que faz nascer novas experiências literárias e editoriais. Não à toa, cidade e distância são temas recorrentes na produção de certa poesia recente, que movimenta a cena periférica por meio de saraus e slams. Elas também aparecem no romance Por cima do mar, de Deborah Dornellas, vencedor do Prêmio Casa de Las Américas de 2019. Antes disso, foi tema e cenário de Cidade Livre, de João Almino, e reaparece recentemente em As margens do paraíso, do brasiliense Lima Trindade, hoje radicado em Salvador, e que conta uma Brasília sonhada desde antes de sua construção.
Tão complexo quanto entender o que foi a construção de Brasília e do que é feito o Distrito Federal, esse lugar que nem todo brasileiro expressa desejo de conhecer, é dar conta da heterogeneidade da produção literária que nasce na região, seja por moradores de longa data, recém-chegados ou por quem ali nasceu. E porque é de Brasília que ecoam as decisões mais difíceis do país, onde milhares de pessoas depositam esperança e fé ao mesmo passo de descrença e indignação, o Pernambuco procurou autores que produzem sobre o signo dessa cidade, para tentar entender algo do que tem sido produzido nela ou sobre ela. Muito longe de querer fazer as vezes de guia de leitura, nossa intenção é mostrar que o Planalto Central repete os problemas do Brasil, mas também se oferece como local de potência criativa para problematizar passado e presente e nos sugerir alguma projeção de futuro.
DO CENTRO ÀS MARGENS
Cidade Livre era o nome dado ao local provisório onde viviam os primeiros candangos, trabalhadores que vieram de várias partes do país para construir Brasília. A cidade era destinada a ser destruída tão logo a capital ficasse pronta e seus moradores expulsos, mas manteve-se de pé e ganhou o nome de Núcleo Bandeirante, hoje com uma das maiores concentrações populacionais do DF. O desejo de autonomia da Cidade Livre se espalhou por outras cidades de sina parecida: ser dormitório de uma mancha urbana que trabalhava no sonho projetado de Dom Bosco e Oscar Niemeyer, mas tinha hora para se recolher. Hoje, o entorno de Brasília procura ocupar o espaço que lhe é de direito, a partir de dicções que há mais de 10 anos talvez não escutássemos. Na avaliação da escritora Cristiane Sobral, 45 anos, uma das vozes mais importantes da cena literária do DF, as periferias, por meio de slams, editoras independentes, movimentam as cidades com total força. “Os saraus rompem lógicas de patrocínio, espaços tradicionais de apresentação, ocupam ruas, parques. A cultura da oralidade é retomada por grupos de jovens, mulheres, músicos, só para citar alguns”, explica a autora, que atualmente dirige o Sindicado dos Escritores do Distrito Federal e é professora de teatro da Secretaria de Educação do DF.
A poesia jovem cansou da lógica de ter de pegar o ônibus até o Plano Piloto. Resolveu produzir no seu lugar e se deslocar quando bem quiser, promovendo um vaivém, em que todos saem ganhado, centro e margem. “(...) Trajetos longos, caminhos curtos / Chego pela trajetória de minha linha / Atravesso quadras e quadras / Sem entender onde vivo”, diz a poesia de Nanda Fer Pimenta, autora negra, 27, moradora de São Sebastião. A escritora, que arrebatou o Prêmio Dente de Ouro 2019, da 5ª Dente Feira de Publicações, com o livro Sangue, faz questão de trazer as marcas de barro e as pegadas de quem levantou Brasília e morreu no esquecimento. “Não encontrava nos poemas, nos versos dos poetas conhecidos, o que eu precisava expressar”, conta. Nascida em Canavieiras (BA), chegou criança em São Sebastião. É de lá, um dos lugares afastados do Plano Piloto, que ela participa de uma das cenas geradas pela falta de políticas culturais que integrem as regiões administrativas do DF, exigindo o deslocamento dos moradores que vivem numa espécie de cinturão ao redor do Plano Piloto. Segunda a terminar o Ensino Médio em sua família, ela lembra que leitura e escrita foram pouco impulsionadas na escola. Coube à mãe, Railda Isabel da Conceição Ramos – “64 anos de muito amor e luta”, empregada doméstica ainda em atividade –, e a uma tia suprirem esse apoio. “Minhas referências são a minha vivência com elas, não autores”, afirma, para depois ressaltar a potência que emerge das cidades do DF, cada qual com uma história. “Temos cidade que foi lixão antes de ser habitada. Ainda temos cidades-dormitório porque pessoas precisam sair para trabalhar e não podem pagar para viver no Plano. As histórias das (cidades) satélites são de muita força”, explica.
Para Bruna Lucena, doutora em Literatura e Práticas Sociais (UnB) e uma das organizadoras do livro bRASÍLIA iNSPIRA pOESIA – bip, a oportunidade de leitura de autores do DF em sala de aula sempre causa impacto, porque os jovens se identificam pelos espaços narrados. Bruna, também professora da Secretaria de Educação do DF, conta que a leitura da poeta Meimei Bastos, slammer nascida na Ceilândia com projeção nacional, é muito mais marcante do que das crônicas de Clarice Lispector escritas por ocasião das três visitas à Brasília. “Os alunos veem a possibilidade real de serem não apenas leitores, mas autores também. É muito difícil ter indiferença em relação a essa literatura que afeta, fazendo crítica social, falando de classe, raça e etnia”, avalia.
A pesquisadora, cria de Brazlândia, acredita que, se há uma marca na produção dos autores no e do DF, ela está na relação que estes estabelecem com a cidade. A distância não é apenas geográfica, é também econômica e cultural e, ao mesmo tempo em que reflete problemas do restante do país, faz uma curva diferenciada, porque muitas cidades ainda estão se desenvolvendo, se comparadas ao restante do Brasil. Para Lucena, a literatura que tem pungência hoje no DF é a da periferia e cita São Sebastião, Ceilândia, Sobradinho, Taguatinga e Samambaia como locais de referência. “Ela surge das fricções nos locais, seja por pertencimento ou despertencimento, nessa dualidade entre centro e periferia”, define.
Quando a periferia cresce, busca se desenvolver culturalmente, independentemente das ações do poder público. O crescimento do rap em alguns locais, a organização das cidades em torno de centros culturais, e a organização de jovens em praças fazem surgir novos bens culturais, literatura oral e música. Entre os saraus do DF, o Sarau-Vá, que ocorre na Praça da Bíblia (Ceilândia), é um dos consolidados pelo rap. A efervescência de saraus e slams descentralizados seguem uma lógica parecida com o que acontece com grandes centros como São Paulo. O pioneirismo, entretanto, não é da pauliceia: o primeiro Slam das Minas, de 2015, é do DF, idealizado pela escritora e editora tatiana nascimento.
Bruna Lucena defende que, na contramão das visitas aos pontos turísticos de Brasília, é possível fazer uma “travessia das quebradas” para ver a cidade a partir de outra perspectiva. Sua lista inclui o Slam Quebrada (itinerante), o Slam Complexo (Samambaia), o Sarau da Tribo das Artes (itinerante), criado há mais de 20 anos, e a Batalha das Rimas, que apesar de concentrada em frente ao Museu da República (Plano Piloto), faz também o enfrentamento da exclusão de autores de outras regiões do distrito. A literatura oral torna-se um começo pertinente com os acessos e as experiências de vida em comunidade desse público.
Também compõe uma nova fotografia a produção de autores indígenas, como Célia Xakriabá, 29, e mestre em Educação (UnB), cuja obra dá ênfase às experiências das comunidades indígenas e tradicionais. Outro nome é Ian Wapichana, 22, nascido em Boa Vista (RR) e hoje morador do Riacho Fundo. No longo poema Por onde andares, ele nos conduz por esses lugares em que não sabemos bater à porta de Brasília. Uma espécie de saudação a tudo que corre por fora da imagem principal. Há outras cidades por aqui, não as conhecemos, só sabemos que de lá tiram o nosso elixir, escreve. O sobrenome Wapichana é referência à sua etnia, do norte de Roraima. O autor descende de uma família de escritores e também se fortalece por meio do ativismo no Santuário dos Pajés, terra com registro indígena desde 1957 onde foi construído o Bairro Setor Noroeste, uma das mais caras da capital. O conflito em torno da disputa das terras de uso tradicional pela comunidade se arrastou por 13 anos, até 2018, quando a Terracap, órgão responsável pela averbação de terras na capital federal, e os indígenas assinaram acordo de demarcação de 32 hectares.
A defesa indígena é pauta recorrente em Brasília, seja porque o DF possui mais de 6 mil indígenas, segundo o censo do IBGE (de 2010), seja porque foi cenário de um dos mais violentos crimes contra indígenas na nossa história recente. Em abril de 1997, após participar das manifestações do Dia do Índio, Galdino Jesus dos Santos, foi queimado vivo enquanto dormia numa parada de ônibus no Plano Piloto. Para Ian Wapichana, a possibilidade de falar de seu povo pela arte é um meio de dar visibilidade à luta pela sobrevivência indígena. É um caminho sem volta. “A geração de agora já sabe como ocupar espaços de resistência, estão mais abertos a transformar”, diz.
EDITORAS INVENTAM HORA E VEZ
Além de travessias geográficas, o que a literatura do DF e entorno ensinam é que, muitas vezes, escritores precisam inventar sua hora e sua vez. É a partir disso que editoras locais têm reconfigurado o mapa de autores do Distrito e lançado seus nomes para todo o país. Uma das principais referências hoje entre editoras artesanais é a Padê editorial, criada em 2015 por tatiana nascimento e Bárbara Esmenia, cujo catálogo tem quase 60 autoras. O coletivo publica livros de autoras negras, periféricas, lésbicas, travestis, pessoas trans, bissexuais em tiragens variadas. A Cole-sã Escrevivências, com apoio do Fundo Elas de Investimento Social, tem tiragem aberta (a primeira com 44 exemplares), mas, depois, tanto autoras quanto editora podem reimprimir e vender os livros, que ficam disponíveis para download gratuito no link www.literatura.lgbt. Além disso, muitas vezes, as autoras participam da montagem dos livros, estratégia que também é utilizada pelas editoras mais jovens: a AUA Editorial, especializada em publicação de autores negros e indígenas, e a AVÁ editora artesanal, que além de publicar oferece oficinas, consultorias e outros serviços.
De acordo com Júlia Ribeiro, 23 anos, da AUA, a proposta da editora, criada em 2017, surgiu da barreira de publicação relatada por autores indígenas e negros. A editora funciona remotamente, concentrando os trabalhos, principalmente, no Plano Piloto, Guará e Samambaia. A produção dos livros é discutida com os autores, que participam da conceituação da obra – que envolve visualidade do livro, experiência tátil e outros elementos. “É fundamental entender a essência do texto e a história do autor”, comenta. Além disso, um dos destaques da produção, segundo ela, são as capas, todas feitas à mão em serigrafia. Em outubro, o catálogo crescerá de quatro para 12 títulos, com quatro novos autores negros e os outros quatro indígenas. Há preocupação em romper com a ideia de que Brasília é apenas o centro do poder. “Aqui, é mais que isso. É o encontro do Brasil, o que se dá nas cidades-satélites”, opina. Nascida no Pará e moradora do DF há 10 anos, Júlia reconhece, apesar de todo esforço, que o Plano Piloto ainda é a referência. “Falta pertencimento. Gostaria que fossemos para outros lugares, mas a gente ainda precisa ir para o Plano”, comenta.
Natália C., 33, poeta e coordenadora editorial da AVÁ editora artesanal, aposta além do “fazer junto” com o autor. A editora, fundada no Recanto das Emas, promove ações de incentivo à leitura e à escrita, além de várias oficinas e formações. Em apenas um ano, a AVÁ (que também é um coletivo) lançou 20 livros. Em 2017, venceu o edital do Fundo de Amparo à Cultura (FAC) e desde então desenvolve uma incubadora de novos autores e editores. Foram realizados até agora nove encontros na periferia do DF, com cerca de 30 poetas inéditos, o que mostra o potencial da região para os planos futuros do coletivo. A partir de fevereiro de 2020, serão realizados mais nove encontros. “A democratização do livro começa quando a gente quebra a velha hierarquia do conhecimento e compartilha toda a cadeia produtiva do livro com o autor”, afirma Natália, que é autora de Emaranhados. Ela destaca a importância de eventos que valorizam as editoras artesanais e a literatura independente, como A Outra Margem e a Dente Feira de Publicações.
DIFERENTES MODOS DE PERTENCER
Se é no Distrito Federal que o Brasil se encontra, a literatura não foge a essa máxima. É o que observamos a partir das safras de escritores que vivem na cidade e que, de tão misturados ao local, já fazem parte do lugar à revelia de selos classificatórios, que não dizem muito além de propor um didatismo obsoleto para o modo como a literatura brasileira pode ser organizada e lida hoje.
Alberto Bresciani, Alexandre Vidal Porto, Pedro Tierra, Noélia Ribeiro, Cíntia Kriemler, Cristiane Sobral, Nicolas Behr, João Almino... A lista de autores que, por motivos diversos, escolhem o Distrito Federal é extensa e não está fadada à construção da capital. Há quem tenha escolhido viver e escrever no lugar nos anos 2000, como a paulista Beatriz Leal, 34, que chegou em Brasília há 15 anos. O nome de Beatriz ganhou projeção associada ao DF após o lançamento do romance Mulheres que mordem (2015), indicado ao Prêmio Jabuti de 2016. Ali, ela explora a experiência da ditadura argentina em uma inevitável aproximação com o Brasil – uma de suas personagens mora em Brasília. “A principal relação entre a atual conjuntura política e meu livro é que ambos são resultantes dos anos em que vivemos a democracia, na ilusão de que não precisaríamos mais lidar com a violência da nossa própria história”, diz. O leitmotiv para o romance foi uma reportagem da The New Yorker, mas a autora não deixa de assumir a dimensão de estar na capital federal ao mesmo tempo em que sua produção literária acontece e se consolida. “Chegar ao centro do país aos 18 anos foi fundamental para conhecer pessoas de lugares, realidades e sotaques diferentes. Não fossem essas conexões, possivelmente minha produção literária não existisse. Ou, se existisse, seria outra, sem dúvida”, diz.
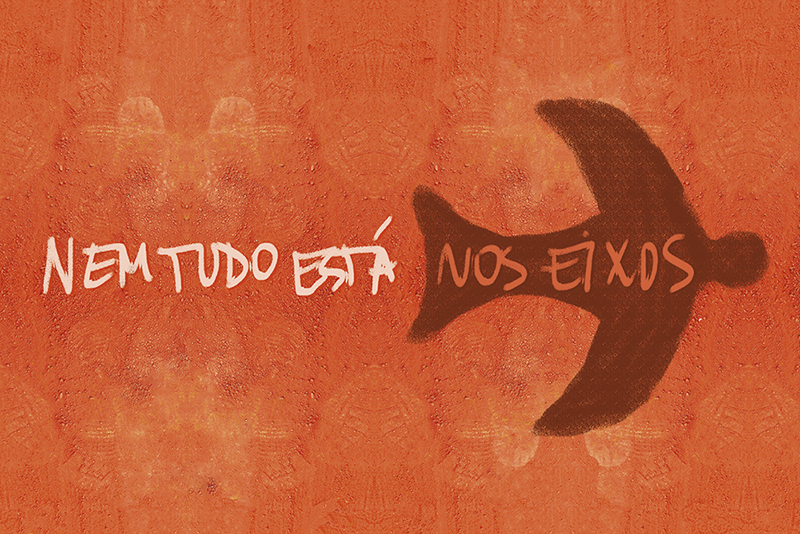
Beatriz partilha a sensação de pertencer à região e mostra insatisfação em relação aos estereótipos associados a Brasília, em particular o Plano Piloto. “A banalização do estereótipo do político corrupto, por exemplo, fez a política nacional chegar onde chegou. Me preocupa, também, o do funcionalismo público como ineficiente, principalmente na tendência neoliberal que estamos vivendo, e serve de álibi para o desmonte das instituições. O que enxergo em Brasília é outra imagem, de uma produção literária pulsante e de um debate qualificado a respeito de políticas públicas”, explica.
Para esses escritores, mais que o peso dos estereótipos, conta-se também o território fora dos centros e o distanciamento dos grandes complexos editoriais. “Isto nos torna dependentes e concorrentes de outros Estados e dos caminhos de viabilização de seus próprios escritores”, avalia Alberto Bresciani, 58, autor de Fundamentos de ventilação e apneia e finalista do APCA de 2015 com Sem passagem para Barcelona. Autor de uma escrita que transcende cartografias e temporalidades, Bresciani defende uma Brasília que não surge nos livros e é turva para boa parte do Brasil. “Gostaria que surgisse a consciência de uma cidade como as outras, com iguais problemas urbanos, com as mesmas questões sociais. Uma cidade com rico patrimônio arquitetônico, com artistas promissores de todas as idades e que se, eventualmente, importa personagens duvidosos, também tem exportado nomes icônicos, por exemplo, para a música popular brasileira”, diz.
Carioca radicada em Brasília, Cristiane Sobral acrescenta que uma das marcas da capital é a amálgama de culturas, a criação de outros campos criativos, segundo ela, “com uma lógica própria, sem mar, irônica, úmida, seca, com lago artificial, profunda onde ninguém imagina, definitivamente periférica, uma cidade cosmopolita, ativista e mística”. Já a escritora Rosângela Vieira Rocha, 66, há 52 anos na capital, refere-se à Brasília como sua cidade de adoção e conta que, apesar de períodos em outras cidades, sempre foi impelida a voltar. “Há uma sensação de pertencimento. Sou daqui e de Inhapim (MG), onde nasci”, conta. Com 13 livros publicados, seis para adultos e sete infantojuvenis, Rosângela é uma das autoras que voltou seu olhar recente para uma experiência da ditadura. O indizível sentido do amor, parte da história do marido, com quem foi casada por 35 anos, para entender melhor esse período sobre o qual ele falava muito pouco. José passou acerca de um ano detido. Após seu falecimento, em 2012, a escritora começou uma pesquisa em arquivos e por fontes que conviveram com seu marido no período, em busca de um retraçado dessa história. Rosângela observa que, apesar de não se tratar de uma autobiografia, gênero de que autores contemporâneos tão bem têm se apropriado, o livro cruza fatos das histórias de José e da própria autora. “Nós não depuramos a ditadura, de modo algum. É como se houvesse um gap, uma grande falha, uma falta”, afirma.
NOVOS PROTAGONISMOS
Um dos mais recentes romances a escolher Brasília como espaço ficcional de representação é As margens do paraíso, primeiro romance de Lima Trindade, publicado pela Cepe Editora, a mesma deste Pernambuco. Trindade parte de perspectivas de três personagens “anônimos” da grande narrativa que se tornou a construção de Brasília. Leda, Zaqueu e Rubem, saídos do Juazeiro da Bahia, Rio de Janeiro e Anápolis, são metáfora dos muitos que migraram para a capital. O sonho que alicerçou sua invenção, período em que se passa o romance, foi interrompido pelo golpe de 1964 e depois disso,Brasília se transforma num lugar associado aos desmandos do poder e à corrupção.
Personagens comuns ou novos protagonismos também podem ser vistos na obra de Cristiane Sobral, entre poesia, contos e teatro, seja pela autoria negra e engajada, seja pela dicção de mulheres negras em seus textos. Em diversos trabalhos, como em Não vou mais lavar pratos, um novo protagonismo é assumido. “Sinto muito / Depois de ler percebi a estética dos pratos / A estética dos traços, a ética, a estática / Olho minhas mãos quando mudam a página dos livros / Mãos bem mais macias que antes / Sinto que posso começar a ser a todo instante / Sinto qualquer coisa”. Autora e eu lírico anunciam a representação de uma voz feminina e negra, cada vez mais presente e cumprindo aquilo que, na sua visão, é uma das funções da literatura: “inventar outras realidades, desesperadamente, para que a poiesis permita a sobrevivência e a respiração dos povos”.
Outra narradora negra, a do romance Por cima do mar, puxou sua autora pela mão e a levou para a Ceilândia, propondo nova perspectiva para quem se acostumou a olhar a margem a partir do centro. Jornalista, nascida no Rio de Janeiro, mas criada em Brasília desde criança, Deborah Dornellas, 60, cresceu junto com a capital. A construção de Brasília e seu desenvolvimento movido às custas de exclusão, desigualdades sociais e racismo estrutural repetem o que é feito em todo o país e surgem em seu romance. Por cima do mar não é condescendente com os idealizadores das grandes obras em concreto. Ele se interessa pelas histórias que estão fora de Brasília, mas são atravessadas por sua espacialidade, como a da personagem Lígia Vitalina, negra, pobre, moradora da Ceilândia, que consegue furar a barreira de contenção que separa privilegiados e excluídos e frequentar a UnB. “Lecionei na Ceilândia à noite. Era 1985. Não olharia Brasília pela perspectiva do plano. E queria uma narradora que fizesse uma trajetória intelectual”, explica a autora.
Deborah começou a escrever o romance por volta de 2013, quando as discussões sobre o conceito de “lugar de fala” ainda eram incipientes para o grande público. Conta que se cercou de leituras e referências de intelectuais negras para exercitar o que batizou de “lugar de escuta”, consciente por ser uma mulher branca e de classe média. O livro é pautado por uma agenda antirracista e, ao apresentar um protagonismo não relacionado à meritocracia, desloca o olhar do leitor para outra Brasília e outro país possíveis. “A história da escravidão determina nossa história inteira. Há a topografia do lugar, mas há principalmente um apartheid geográfico e social”, diz. Assim, a personagem negra, filha de um candango, faz uma trajetória de estudos, encontra suas raízes ancestrais em viagem a Angola e promove dois encontros; o primeiro do Brasil com a África e o segundo, o do país consigo mesmo.
Não à toa, os muitos recortes possíveis da produção do DF ou de Brasília, essa “ilha rodeada de Brasil por todos os lados”, como diz Sobral, mostram uma tensão comum entre o que o país tentou ser e o que se tornou ao insistir no não enfrentamento dos seus próprios problemas. Um dos muitos esforços dessa literatura é para não desistir, ainda mais no momento atual, em que a circulação dos seus múltiplos retratos espelha de certa maneira o restante do país.
NOTA DA EDIÇÃO: O verso que está na segunda ilustração é do poeta brasiliense Marcos Fabrício, presente na antologia bRASÍLIA iNSPIRA pOESIA – bip.