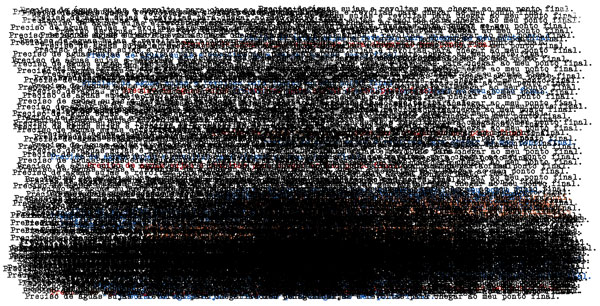
Várias pessoas me perguntam por que não tenho escrito contos. Eu mesmo me pergunto isso, sem encontrar resposta. Adoro ler e escrever contos. Entre minhas obras prediletas estão contos de Josué Montello, Clarice Lispector e Isaac Bashevis Singer. Em 2001 lancei um livro de contos, A raiz quadrada, do qual me orgulho. Contos são (ou tendem a ser) sintéticos e coerentes, o que enaltece a literatura. Não me faltam enredos para bons contos. Semana passada, por exemplo, pifou o aparelho para surdez da mulher à minha frente na fila do supermercado. Foi engraçado porque ela fazia a linha “consumidora eloquente”, dessas que mandam chamar o gerente para discutir geleia de mocotó. O que fiz? Tranquei a ideia numa gaveta e não escrevi conto algum. Por quê?
Fazer contos tem vantagens e desvantagens, como quase tudo. A vantagem está em se trabalhar um texto enxuto e original, sem passado nem futuro. Diferente é o romance, um vasto mundo cheio de regras e premissas. Criar um romance é como administrar uma empresa e enfrentar acionistas em assembleias acaloradas. Ninguém está ali só para o cafezinho. Todos opinam, divergem, ressalvam. “Não gosto dessa cena”, reclama um personagem. Outro quer mais destaque ou repudia sua última fala. “Você já me usou três vezes”, alerta o verbo borboletear, exigindo moderação. E por aí vai.
Em contraste com tamanha disciplina, o conto pode ser um grito de liberdade: novinho, zerado, sem passado nem futuro. Perfeito para testagens, ousadias, maluquices, com a vantagem adicional de ser unitário e compacto. Começo, meio e fim estão todos ali, no seu quintal criativo, ao alcance dos olhos. Já o romance é um continente, um planeta, uma galáxia que nem a luneta mais potente consegue abranger numa só espiada. O austríaco Stefan Zweig dizia ter problemas para escrever tramas que sua memória não pudesse abarcar num relance, panoramicamente. Muitos romancistas enfrentam a aflição do navegador sem bússola em alto mar. William Faulkner afirma que o artista é uma criatura arrastada por demônios, verdade bastante aplicável ao romance. Num dado momento você já não sabe para onde vai, de onde vem nem onde está. Ante a imensidão do romance, o conto parece um lago — não necessariamente manso ou cristalino, mas de cujas águas sempre se enxergam (ou se pressentem) as margens.
Não estou ditando regras, claro. Arte não é ciência exata e cada artista tem seus critérios, ritos, lampejos inventivos. O fato é que, quando escrevo um romance, não me sinto um nadador altivo e resoluto em sua jornada heroica. Estou mais para o náufrago que braceja ao relento e vai se agarrando a tudo, de tronco de árvore a barbatana de tubarão. Preciso de águas sujas e revoltas para chegar ao ponto final.
Metáforas à parte, escritores costumam ter um acervo de ideias à disposição. Ideias avulsas, aleatórias, versáteis, como um baú de relíquias. Nem sempre — ou quase nunca — são peças completas, prontas para usar, prêt-à-porter. Há pedaços sem encaixe nem função prática, algo parecido com os guardados de minha finada avó, cujas gavetas tinham canetas sem tinta, isqueiros enferrujados, nota fiscal de peruca, algum botão perolado ou um souvenir da Iugoslávia. Gosto de ter esse arsenal à mão: virginal, intocado, impoluto. Se gastá-lo num conto ou ensaio, perderá o ineditismo. Serão ideias usadas, como um fósforo queimado.
Há quem me aconselhe a escrever os tais contos e a mantê-los guardados, trancafiados num cofre, frescos e imaculados. Em teoria é um bom conselho, não fosse o porém: ideias escritas, refinadas e contextualizadas, nunca voltam ao estado original, à abstração genuína. Em seu ótimo A louca da casa, a espanhola Rosa Montero discorre sobre a arte da escrita e se declara às vezes paralisada diante do teclado. Não paralisada pela preguiça, por falta de inspiração ou coisa que o valha, mas pelo medo. Sim, pelo medo. É que a palavra grafada, aposta no papel, adquire consistência, forma, textura. Os caminhos da invenção dificilmente têm volta: a ideia se solidifica, vira pedra, vira montanha. É virtualmente impossível devolvê-la ao ventre criativo, ao seu primórdio amorfo. Imagine-se uma gota de nanquim pingada num lençol branco. É assim que a ideia se entranha na memória. Não há removedor que restitua a alvura ao lençol, nem milagre que remeta o nanquim de volta ao frasco.
Vou citar um caso prático. Outro dia eu descrevia, num trecho de meu próximo romance, a relação entre uma personagem e seu pai. As frases me vinham cristalinas, caudalosas. Os dedos saltitavam no computador, quase à minha revelia. Eu vivia um surto criativo, extasiante, luminoso. Qualquer médium de botequim falaria em transcrições espíritas, vidas passadas, Clarice Lispector. Mas não peco pelo misticismo. Sou cafetão e conheço as artimanhas de minhas putas. Relendo o trecho luminoso, senti um déja vu meio malandro. O que estava acontecendo? Mexe daqui, mexe dali e a verdade se delata com o rabo entre as pernas. Não é que eu tinha repetido, literalmente, todo um parágrafo de meu romance Traduzindo Hannah, lançado em 2010? O cérebro havia me pregado uma peça engenhosa, expedindo a ideia pronta, já temperada, desossada e embalada feito presunto natalino. Era uma iguaria imprestável porque o texto novo pedia outra coisa: situações diferentes, demandas diferentes, potenciais diferentes. E eu ali, prestes a morder a isca, recaído em vícios preguiçosos, num autoplágio por obra e graça desse espertinho que me habita o crânio.
Por essas e outras que gosto de ter à mão ideias não concatenadas, desafiadoras, para usá-las em prol do texto e não delas mesmas. Sou um artesão, um relojoeiro dos ventos. A consumidora surda, por exemplo, tanto pode estrelar algum capítulo quanto ser figurante de subtrama, a despeito de suas esplêndidas capacidades, de seu passado glorioso, de suas contas a pagar. Não procuro histórias nem personagens sob medida para enxertos instantâneos. Quero pedaços, fragmentos, matéria-prima, argila. Chega a ser comovente ver aquele diamante relegado a paetê, mas faz parte do processo criativo. Experiências mórbidas acontecem aos montes: cientista louco não sente pena de grilo perneta. Nenhum regente dá conta de um coral harmônico com trinta divas em disputa no palco.
O mais curioso é que a coisa não termina quando acaba. Mal ponho o ponto final num dado texto e recebo flores de figuras desprezadas ou mutiladas: quem sabe na próxima obra? Não raro são pedaços despedaçados: o elo de uma corrente, geleias sem mocotó, um anão caolho, corujas depenadas, dentaduras banguelas. Alguns estão ociosos há vinte anos, abanando leque na sala de espera, saudosos de suas metades já publicadas.
Às vezes acho que essa legião de esquecidos merecia uns bons contos ao invés de agonizar no meu limbo criativo. Quem sabe não estão ocupando o lugar de outras figuras, outros vultos, ávidos candidatos ao esquecimento? Quem sabe não sou um deles?