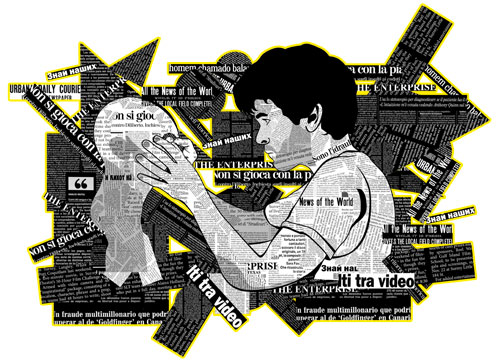
1.
Eu escrevi o Ulysses, de James Joyce.
Deixando bem claro: ele escreveu primeiro, mas aí eu escrevi também.
(Eis o mistério da tradução.)
Como na história daquele Pierre Menard, de Borges, que escreveu o Quixote inteirinho, linha a linha alinhadas iguais. Mas, como diz lá o narrador, bastava comparar as duas versões pra ver que, meu amigo, a diferença saltava aos olhos. Pois, dito agora, o Quixote não podia mais dizer as mesmas coisas; sua leitura era nova, diferente, por vezes até contraditória; e o livro novo de Menard tinha todo o direito de se considerar um clássico por conta própria. De seu tempo e seu local.
E Borges, como sempre, tinha razão.
Ou Bakhtin.
É impossível reescrever. É impossível redizer. Todo redito é dito novo. Fundador, de alguma maneira. Quem dirá um dito que desdiz até a língua de seu “texto base”, daquele original que de certa forma esteve lá antes e agora pega o tradutor pela mão e dita caminhos e orientações.
Mas quem caminha, ora, sou eu.
Você pode me achar megalômano. Mas, quer saber?, eu recomendo a experiência. De pegar um livro que de repente você percebe que ama mais que a média. Que você cobiça. Um livro que você queria que fosse seu todo inteiro. E tomar posse. De uma vez.
Foi Coleridge quem disse que a gente não lê em busca das boas ideias dos outros; o que a gente faz é encontrar nos outros ideias que sempre foram nossas. E que por isso nos fazem tanto sentido.
Assim, sem mais nem menos.
Mesmo perdidas entre outras que podem, por sua vez, dizer mais a este ou aquele outro fulano. Mas aquela, aquela ali era minha.
Vai que com livro é assim também?
O que eu sei é que eu encontrei no Ulysses o meu melhor livro, que eu jamais teria a capacidade de conceber, planejar, executar, levar a cabo. Mas agora que Joyce já tinha feito, veja bem, eu podia escrever o livro de novo. Todo meu.
Mas, meu amigo, quanta diferença.
Eu li o Ulysses, de James Joyce.
De uma forma normalmente inacessível (tempo, tempo, tempo) aos leitores de todo dia.
Eu li sem álibi.
Sem poder deixar de entender ou encaixar ou fazer funcionar. Fazer sentido.
Eu não podia só olhar o reloginho e achar bonito. Eu tinha que ir lá meter o dedão, espanar o bicho, desmontar e remontar, e garantir que funcionasse de volta.
Eu tive que (tentar) sozinho resolver todos (todos?) os problemas do Ulysses. Referências, trocadilhos, achados, belezas, gracinhas, parâmetros (tem um episódio todo que precisava, e foi, escrito segundo modelos-paródias de diversos momentos da história do português, do século 18 pra cá). Ficou tudo sob minha responsabilidade.
Durante dois anos, diariamente; há mais seis, em banho-maria e revisão.
E agora pedem que eu entregue.
Tudo bem.
Eu li o Ulysses dele.
Escrevi o meu.
Agora é justo que você possa ler o nosso.
Esteja à vontade (fique bem claro).
2.
Mas, ao mesmo tempo, como eu não sou de todo desprovido de responsabilidade, a ideia da finalmentística publicação da minha tradução acarretou o redobro de certas responsabilidades, de certas necessidades, o de encarar algumas barras finais.
Como assim?
“Como assim”?
Primeiro, é claro que eu não entrei nesse projeto sem a perspectiva de uma publicação.
É bem verdade que o objetivo primeiro da tradução era fazer parte da minha tese de doutorado. E só por isso ela já bastaria. (Como me bastaria, e me tem bastado, somente como realização pessoal. Tarefa cumprida. Exercício realizado. Livro mastigado.) Mas traduzir um livro é escrever um livro, lembra?
E quem escreve quer publicar. Ah, quer.
O problema é que a publicação da tradução da professora Bernardina Pinheiro da Silveira apareceu (sem aviso, pra mim aqui distante dos círculos editoriais do Rio-SP) no meio do meu trabalho. E postergou quase que indefinidamente qualquer esperança de ver meu livro pronto assim tão cedo. Como livro.
Jogou pra agora.
E ficamos, eu e o Ulysses, aqui quietinhos, esperando a janela boa.
Nesse meio tempo é claro que ele não ficou mofando. Mexi no texto aqui-ali, conforme alguém me pedia um trecho pra uma leitura, um evento; reli o original mais umas vezes, dando aulas sobre ele na graduação e na pós-graduação; aprendi um monte de coisa que não sabia sobre o Ulysses, miúdo e graúdo; ouvi a gravação integral do romance no meu iPodinho. Mas a revisão temida, aquela, que teria de retomar o livro inteiro, cotejando de novo com o original, pondo em prática tudo que eu tivesse conhecido durante esses anos, ia sendo, e compreensivelmente, adiada.
E, de temida, a cada vez ia ficando mais tentadora.
Pois que eu estava prestes a escrever o Ulysses de novo.
(Como Joyce, diga-se de passagem, que praticamente refundou o livro durante o processo de revisão das provas de impressão.)
E comecei.
E, como diria o Nascimento, eu agora conhecia os problemas que tinha que enfrentar e, quando eles vieram, pra minha imensa sorte, eu não estava sozinho.
Porque, por caminhos que nem vale a pena mapear de tão confusos, acabou que tive a sorte imensa de contar, nessa reta final, com a melhor casa editorial possível (a Companhia das Letras e, dentro dela, o selo Penguin-Companhia, e, nele, a edição de André Conti) e, no detalhe, com as melhores condições de trabalho.
Pois quando se formalizou a presença de Paulo Henriques Britto como “coordenador editorial” do novo Ulysses, o que o projeto ganhou foi nada menos que a colaboração do melhor tradutor de inglês do Brasil. Que, mais que isso ainda, é um grande leitor de Joyce. E é aqui que estamos agora.
E é disso que talvez eu possa falar um tanto, informar um tanto mais.
(Porque, convenhamos, o meu processo de tradução? É assim, ó: eu sento, olho o original, penso numa coisa que eu ache legal como tradução e escrevo essa coisa que eu acho legal como tradução em português. Pfuit. Durante umas centenas de horas e de dias. Anedotas etc.? Minha memória é fraca... A tradução de prosa tem muito mais de lida que lirismo.)
3.
Juntar dois leitores do Ulysses durante horas pra falar só sobre o livro é um imenso privilégio. Parecemos dois tios orgulhosos do sobrinho pianista que se apresenta na sala Cecília Meireles. “Como é bom, ele, né?”
Juntar dois tradutores pra falar durante horas só sobre o seu trabalho é uma experiência singular.
Tradutores são gente meio autista, muito acostumada a trabalhar sozinha com seus fantasmas, seus autores, seus problemas. Ter a chance de discutir essas coisas todas, muitas vezes uma a uma, com um “colega” que já trabalhava com isso quando eu nasci e que tem um talento incomensuravelmente maior do que o que eu posso vir a ter em algumas décadas, é uma coisa bem sem par, sabe?
Eu traduzi o Ulysses entre 2002 e 2004.
Ele foi revisado inteiro em 2006.
Mas é agora, entre 2010 e 2011, via internet também, mas acima de tudo na incrível varanda carioca da casa do mestre Britto (onde eu me sinto quase da família já [e, amigo, pra fazer um curitibano dizer isso, só a acolhida do casal Paulo e Santuza]), é só agora que o livro está ficando realmente vivo.
Corrigimos coisas.
Melhoramos tons.
Bato o pé ali, e defino soluções de que ele não gosta.
Baixo a cabeça aqui e aceito que ele viu melhor.
Exultamos juntos quando achamos uma saída mais refinada.
(E aqui vale uma nota: “refinado”, no romance, às vezes pode ser o mais tosco possível. Deve ser engraçado ver o quanto nos empolgamos os dois procurando, quando necessário, a solução mais feia, mais dura, mais deselegante... porque era isso que o texto pedia naquele momento. O repertório de Joyce é sem-fim, e mais ecumênico que qualquer coisa por aí.)
Aquela versão, a de 2006, vai continuar disponível, na tese, na biblioteca da Universidade de São Paulo. E é bem possível que algum programa de computador que consiga comparar as duas, aquela e a que estiver finalizada em 2012, encontre coincidências da ordem de, sei lá, muitíssimo %. Ou mais.
É bem possível que uma leitura cursiva ache que apenas demos tratos à bola num canto e no outro durante essa revisão final. Mas eu, por mim, tenho certeza absoluta que uma leitura verdadeiramente atenta vai ver entre esses dois textos a diferença que se espera entre o trabalho, pra começar, de um tradutor quase virgem naquele momento e, agora, mais vividinho; mas, acima de tudo, acredito mesmo que esse leitor, aquele, o “atento”, pra quem a gente escreve as traduções, o cara que vai entender o esforço por vezes detrás do sutil ao invés de catar o erro no gritante pontual, não vai poder escapar da percepção de que este tradutor aqui, que trabalhou durante dez anos depois de se meter a fazer o Ulysses, ganhou mais vinte de experiência nesses dias passados no Rio de Janeiro, na melhor das companhias.
Só nós e o livro. Só nós e O livro.
Dois “devotos”, Leopold Bloom, Stephen Dedalus, Molly Bloom, James Joyce.
Tomara, tomara mesmo, que isso funcione pra você.
Que essa tradução seja o necessário passo além.
Houaiss apresentou o livro ao Brasil. Bernardina desmistificou certa aura de “seriedade”. Falta ainda um Ulysses com todas as cores.
Se for o meu, tanto melhor.
Mas se for o meu, é que terá sido nosso, antes de teu. Mas se for o meu, é que terá sido nosso, além de teu.
Caetano Galindo é professor de linguística e de estudos da tradução na Universidade Federal do Paraná. Como tradutor, já “escreveu” livros de Charles Darwin, Thomas Pynchon, Tom Stoppard e Ali Smith.
LEIA MAIS:
Um verso não é, nunca foi, algo abstrato, por Artur A. de Ataíde