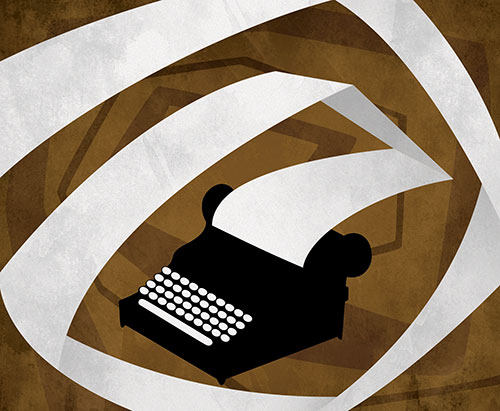
Comecei a escrever o romance A máquina de madeira(Companhia das Letras, 2012) em 1979, aos 14 anos de idade.
Tudo se iniciou quando fiz o Curso de Datilografia Bandeirante, lá em Peabiru (noroeste do Paraná), entusiasmando meu padrasto ao ponto de ele comprar para os filhos uma Olivetti portátil, uma Lettera 35. Este objeto novo e voltado para a escrita era algo inimaginável naquela família de agricultores não ou pouco escolarizados. Minha mãe a guardava, dentro de seu belo estojo cinza, sobre o nosso guarda-roupa, e eu sempre a tirava de lá para cometer textos que nada tinham a ver com os trabalhos da escola.
Em 1980, meu irmão e eu fomos matriculados no internato do Colégio Agrícola de Campo Mourão, e junto com nossas malas levamos a Olivetti, que nos acompanhou durante os três difíceis anos de estudo. Solitário, inadaptado tanto ao curso quanto ao local, passei a usar mais intensamente a máquina de escrever. Queriam que eu aprendesse a regular plantadeiras, a arar terra, a cuidar de animais, mas minha lavoura era toda de letras, de letras mecânicas.
Não sei até que ponto a Lettera contribuiu para eu entrar no curso de Letras, onde a sua existência se justificava. Foi nela que bati todos os trabalhos da faculdade, enquanto me dedicava a textos pretensamente literários. Agora de uma maneira muito mais febril, ignorando os erros e avançando para o ponto final, essa sempre distante linha de chegada. O curso de Letras determinou a posse definitiva da máquina. Ela já não pertencia mais aos quatro irmãos; apenas àquele que escolhera as palavras.
Já em Curitiba, morando primeiro em uma pensão e depois em uma casa de parente, a Olivetti me consolava. Comecei a trabalhar em escolas da periferia e era nela que preparava planos de aula, batendo em folhas de estêncil os textos que mimeografaria para meus alunos, enquanto continuava cultivando minha escrita secreta. A máquina era a mesma. As mãos, idênticas. Mas o escritor se fazia um datilógrafo muito mais rápido do que o professor.
Ela também deu materialidade aos meus primeiros textos de crítica, no mestrado da Universidade Federal de Santa Catarina, período em que aprendi a usar o jargão universitário para contentar os professores, enquanto aprimorava a minha voz, uma voz traduzida pelas teclas brancas da Olivetti. Foram anos de produção esquizofrênica, uma linguagem para os ensaios, outra para a literatura. E a máquina nem reclamava.
Nunca levei a Olivetti para o conserto. Eu mesmo abria a sua maquinaria, fazia a limpeza, e esta era toda a manutenção. Antes de começar um texto mais longo eu apenas trocava a fita. Foi nela que escrevi, e depois passei a limpo, todos os poemas de Inscrições a giz (Fundação Catarinense de Cultura, 1991), meu primeiro livro, ganhador do Prêmio Nacional Luis Delfino de 1989 — único original que ainda guardo.
Neste tempo, ela já estava velha. Mais do que uma velhice material, a sua era uma velhice de conceito. Em 1992 veio o golpe: eu a troquei por um computador, comprado em prestações nada suaves. A primeira coisa que escrevi nele foi a dissertação de mestrado. E a máquina passou a figurar como um objeto de memória.
Guardada em armários, esquecida na despensa, abandonada no topo das estantes de livros, ela foi desaprendendo a escrever. Quando tentei datilografar um poema, ela já havia se tornado mecanicamente analfabeta. Suas engrenagens não conseguiam corresponder ao que eu imaginava.
Foi neste período que eu descobri, por acaso, que um brasileiro (Padre Francisco João de Azevedo Filho, paraibano radicado no Recife) fizera a primeira máquina para escrever que realmente funcionava, e isso em 1859. Sem conseguir industrializá-la, ele teria tido o protótipo roubado e negociado com a Remington, que incorporara suas soluções a um modelo próprio.
Como romance histórico, A máquina de madeira recupera a trajetória deste inventor interrompido pelo atraso de nossa civilização escravocrata, mas é um livro que traz todo o meu sentimento em relação não apenas ao invento brasileiro, mas à escrita mecânica. Gravei este livro na minha sensibilidade ao longo dos últimos 35 anos. A produção da narrativa aconteceu à sombra desta Lettera que me olha aqui da estante ao lado da mesa de trabalho, com suas teclas já não acionadas.
Não se escreve um romance apenas na hora de escrita, e sim enquanto vamos colecionando caoticamente fatos e percepções. Foi mais com este material de demolição dos dias vividos do que propriamente com os episódios históricos que recriei o relato do Padre Azevedo, que não foi escrito em uma máquina, mas que a coloca no centro da modernidade, num período em que ela era o futuro.
Um futuro que, como país, não soubemos escrever.