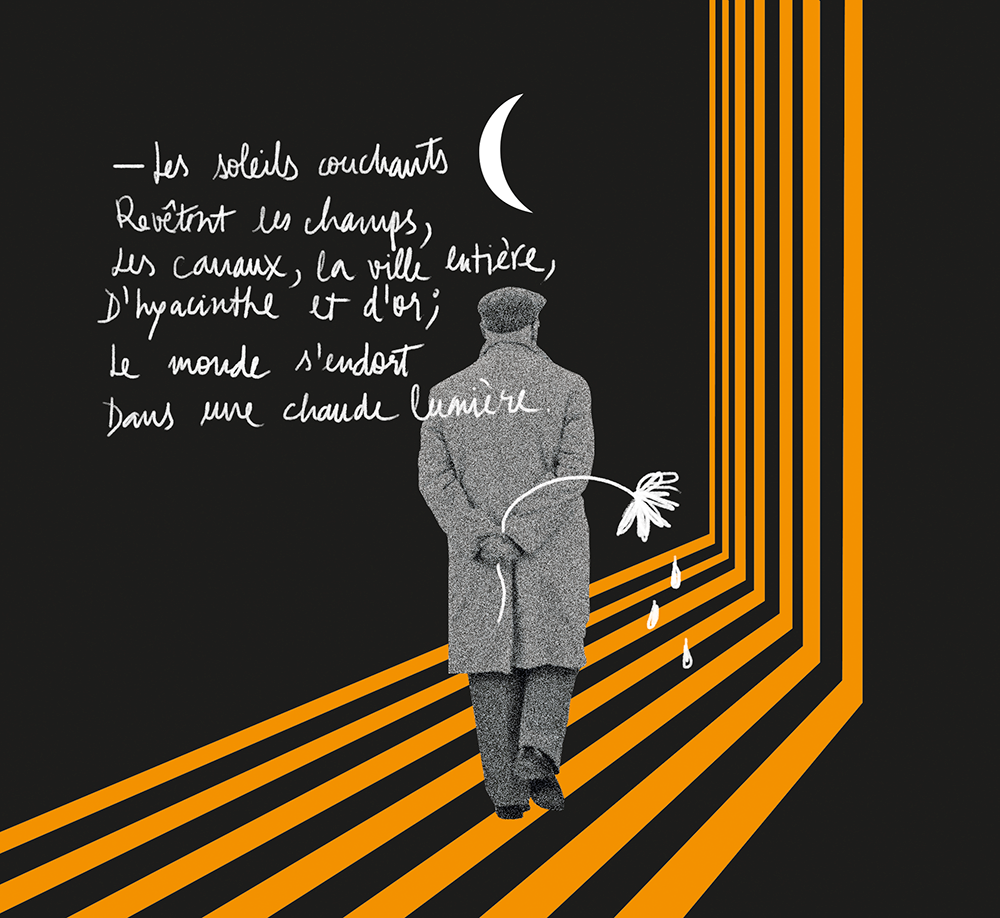
O projeto inicial de tradução de poemas de Baudelaire em que eu me envolvi consistia apenas numa seleção de cinquenta poemas, ou seja, um pouco menos de um terço do conjunto de As flores do mal. Já aí havia algumas questões razoavelmente difíceis ligada à escolha – esta deveria contemplar alguns poemas inevitáveis numa seleção que se pretendesse minimamente representativa, deveria também atentar para os poemas que permitissem ao leitor ter uma percepção das várias dimensões da obra. Mas se poderia ainda perguntar até onde entraria nessa escolha a simples preferência do tradutor-selecionador, ou mesmo até onde se permitiria a tentação de evitar poemas com dificuldades mais evidentes.
Quando – já cumprida a etapa inicial dos cinquenta poemas – me dispus a aceitar a proposta editorial de traduzir todo o livro, essas alternativas naturalmente desapareceram, restando apenas os imensos problemas da tradução propriamente dita. É verdade que diante de uma tarefa de tradução pode ocorrer um engano – às vezes grave, mas inevitavelmente passageiro: o fato se de gostar muito de um livro pode fazer com que nem sempre se pense na dificuldade de traduzi-lo. No caso destas Flores do mal isto não me parece possível de ocorrer. Afinal, o problema começa por se saber que se está diante de uma obra que é um marco da literatura, um livro central, um dos mais influentes da história literária. Dele Paul Valéry disse que constituía a própria poesia da modernidade, sem o qual nem Verlaine, nem Rimbaud, nem Mallarmé teriam sido o que foram.
Não era possível desconhecer que se tratava de um livro de que já há outras traduções em português, no Brasil e em Portugal – algumas de todo o livro, inúmeras de variados poemas. Minha leitura da obra de Baudelaire começou mesmo, há algumas décadas, pela leitura da seleção de poemas traduzidos por Guilherme de Almeida (Flores das flores do mal), e dos poemas em prosa traduzidos por Aurélio Buarque de Holanda. Também contou muito, sem dúvida, minha tradução de As flores do mal poder dar-se no âmbito, por assim dizer, de um trabalho de tradução que venho realizando já há um bom tempo, sobretudo o de duas seleções de poemas, uma de Mallarmé (Brinde fúnebre e outros poemas, publicação da editora 7Letras) e outra de Paul Valéry (Fragmentos do Narciso e outros poemas, publicação da Ateliê Editorial).
Nesse aspecto, é imprescindível o conhecimento da prática desenvolvida por outros tradutores, ou seja, o conhecimento de bons trabalhos de tradução, muitas vezes acompanhados de comentários sobre sua realização que podem ser muito úteis – lembro, ao acaso, as traduções de Mallarmé pelos concretistas e mais recentemente por Álvaro Faleiros; de Paul Valéry por Jorge Wanderley; de Rimbaud por Ivo Barroso; de Saint-John Perse por Bruno Palma; de François Villon por Sebastião Uchoa Leite, para só ficar no campo dos autores franceses. Além disso, são numerosas as teorias sobre tradução, bem como análises de traduções. E me parece difícil realizar, hoje, uma tradução como as referidas sem algum conhecimento desses estudos.
Desde que se considere a tradução como uma leitura do texto, as diferentes traduções de um mesmo texto se irão somando como leituras com pontos de vista mais ou menos distintos, para não falar – em termos meramente práticos – que seu maior número poderá contribuir para mais pessoas interessadas terem acesso à obra. Ainda se pode lembrar que, tal como as interpretações, as opções de tradução podem envelhecer ou simplesmente se mostrarem inadequadas, pedindo soluções mais apropriadas. E é nesse sentido que se encaminha também o enfrentamento da outra grande questão – o conhecimento dessa obra tanto numa dimensão geral quanto em função dessa leitura-tradução. Um dos pontos fundamentais para minha tradução foi o convívio com o trabalho crítico sobre o livro.
A crítica baudelairiana tem, naturalmente, proporções imensas; são incontáveis os textos que, nas mais diferentes línguas, se ocupam de Baudelaire. Ao lado dos trabalhos de interpretação, importam de modo bastante especial as diferentes edições da obra, várias delas com anotações indispensáveis. Essas anotações podem ir da identificação de pessoas, lugares, fatos históricos mencionados, até o uso peculiar de palavras ou construções, às vezes já desusadas na época de Baudelaire, às vezes, ao contrário, inovações de sua época. Sem as numerosíssimas notas, com suas minuciosas informações, que se encontram em algumas edições francesas muito provavelmente este trabalho não poderia ser feito. E entre as edições que foram úteis incluo mesmo, por exemplo, uma edição americana, também cuidadosamente anotada, e que além disso traz sobre a obra um olhar “estrangeiro”, que é afinal o do tradutor.
Traduzir, especialmente poesia, é antes de tudo fazer uma leitura que não deve deixar de estar atenta às miudezas do texto, por assim dizer, as quais com frequência podem constituir verdadeiras pedras no caminho (e em relação às quais se pode pelo menos contar com a indispensável ajuda de revisores e editores, como no caso da equipe que cuidou desta edição de As flores do mal). Mas não se pode perder de vista o conjunto do texto, ou seja, as tais miudezas não podem ser tratadas isoladamente. É preciso um permanente movimento de vai e volta entre o detalhe e o conjunto (e não só o conjunto de um determinado poema, mas de todo o livro). Na tradução de um poema, traduzem-se palavras, construções, imagens, métrica, rima, formas. Nenhum desses elementos pode ser traduzido sozinho, é preciso que esteja tudo interligado. Sem perder de vista o todo, é preciso esmiuçá-los, no sentido mesmo de desmontar o mecanismo para o remontar em outra língua, e ao mesmo tempo em outra época, outra literatura. Esses aspectos mostram então que não se trata apenas de uma operação linguística, mas de uma concepção literária, sendo a tradução uma prática de escrita.