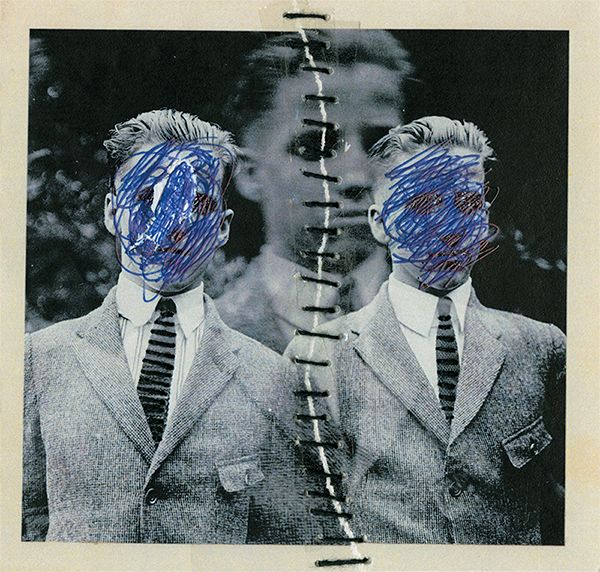
Creio que há apenas uma maneira de contar uma história. O grande desafio do escritor é exatamente descobrir essa forma singular que dará vida a personagens, paisagens e dramas. Se, por felicidade, ele a encontra, a narrativa flui, verossímil e contundente, alcançando sua finalidade – que, de fato, é uma finalidade sem fim –: transportar o leitor para um mundo que não é o seu, confrontando-o e transformando-o por meio da empatia. E ele poderá retornar ao livro inúmeras vezes e, em cada uma delas, experienciará novas sensações, pois, sendo o sentido da vida inesgotável, o texto que consegue essa transcendência também o será. Caso, no entanto, o escritor não alcance a forma adequada, a narrativa desanda e, por melhor que seja a fabulação, ao final sairemos com a percepção de que fomos ludibriados.
Assim, cada livro meu é completamente diferente do outro, embora traga, digamos assim, uma assinatura, que podemos chamar de estilo, algo que identifica o autor, mesmo que ele mude de gênero, de universo, de interesse. Grosso modo, De mim já nem se lembra (2007) atualiza o relato epistolográfico; Estive em Lisboa e lembrei de você (2009) recicla o romance-reportagem; Flores artificiais (2014) recupera o chamado manuscrit trouvé, o manuscrito encontrado; Inferno provisório (2016) funda o que denomino de “realismo capitalista”, ou seja, a história coletiva construída a partir de histórias individuais (o oposto do horroroso “realismo socialista”, portanto). Na base de todos esses livros, está o inaugural Eles eram muitos cavalos (2001), espécie de caderno de possibilidades narrativas, a que batizei de “instalação literária”, núcleo de onde emanam todos os outros livros, incluindo os contos de A cidade dorme (2018).
Não foi diferente o caso de O verão tardio. Há uma passagem em Eles eram muitos cavalos, uma passagem sutil, quase imperceptível, que, por sua força dramática, me persegue desde sempre. Está na página 122 da 4ª reimpressão da 11ª edição, no capítulo ou fragmento número 67, intitulado Insônia. Trata-se do fluxo de consciência de um personagem que, a certa altura, lembra: “morreu no beira-rio, tiro no ouvido, uma menina, quinze anos, ouviu?, é tiro!, deitada na poltrona da sala, o sangue escorrendo, pingando no tapete, os olhos me olhando, me pedindo, me, relógio marcando quatro e meia”. Tentando compreender essa tragédia, passei muitos anos, no plano da ficção, convivendo, cotidianamente, com os familiares, amigos e conhecidos dessa menina.
Meus livros levam bastante tempo para maturarem. Eu só me sento para executar o trabalho braçal quando constato que já conheço em profundidade os personagens e o ambiente onde vai se desenrolar a história – esta, no entanto, vou descobrindo aos poucos, de acordo com o andamento da escrita. Nunca anoto nada, não fotografo, não faço entrevistas, não me submeto a laboratórios ou coisas que tais. Escolhida a história que vou contar, deixo que ela vá se estruturando dentro de mim, devagar. Os personagens se aproximam, tímidos no início, ousados mais à frente, e, apossando-se de elementos da memória coletiva, distribuem os papéis, ocupam seus lugares. Se, a princípio, por exemplo, imaginei que o narrador seria o homem que avistou, ainda menino, a cena do suicídio pela janela da casa, logo percebi que ele nem faria parte da trama. Concluí que ele serviu apenas para manter viva aquela imagem, para ser posteriormente usada em outra trama. Depois, pensei que descreveria a biografia da menina, os fatos que determinaram a curta caminhada, culminando com sua terrível decisão – e tampouco essa ideia se solidificou. A história que se impôs tem, sim, a menina como personagem principal, mas num livro no qual ela praticamente não aparece, é apenas uma lembrança distante.
Então, em meados de 2016 a menina possuía nome, Lígia; família: a mãe, Stella Moretto, costureira, e o pai, José Nivaldo Nunes, operário têxtil; e data de nascimento e de morte, 1960-1975. Também, nessa altura, o narrador já tinha emergido: Oséias, irmão um ano mais novo que ela, representante de vendas de uma empresa de produtos agropecuários no estado de São Paulo, que, após o suicídio de Lígia, decide ir embora de Cataguases. A narrativa descreve sua volta, após quase vinte anos afastado (ele deixa de visitar a cidade depois da morte da mãe, em 1995). A ação transcorre durante seis dias nos quais ele revisita os irmãos, Isabela, Rosana e João Lúcio, cada um pertencente agora a um estrato social diferente.
Penso que O verão tardio pode ser lido em duas chaves diversas: uma, realista, a de um sujeito inadequado a seu universo, torturado pela tentativa infrutífera de resgatar o passado; outra, alegórica, a de uma descrição da história brasileira contemporânea, na qual as classes sociais – pobres, remediados, ricos – romperam o diálogo e, como afirma uma personagem a certa altura, tornaram-se “planetas errantes” cujas trajetórias de vez em quando se cruzam e quase se destroem.