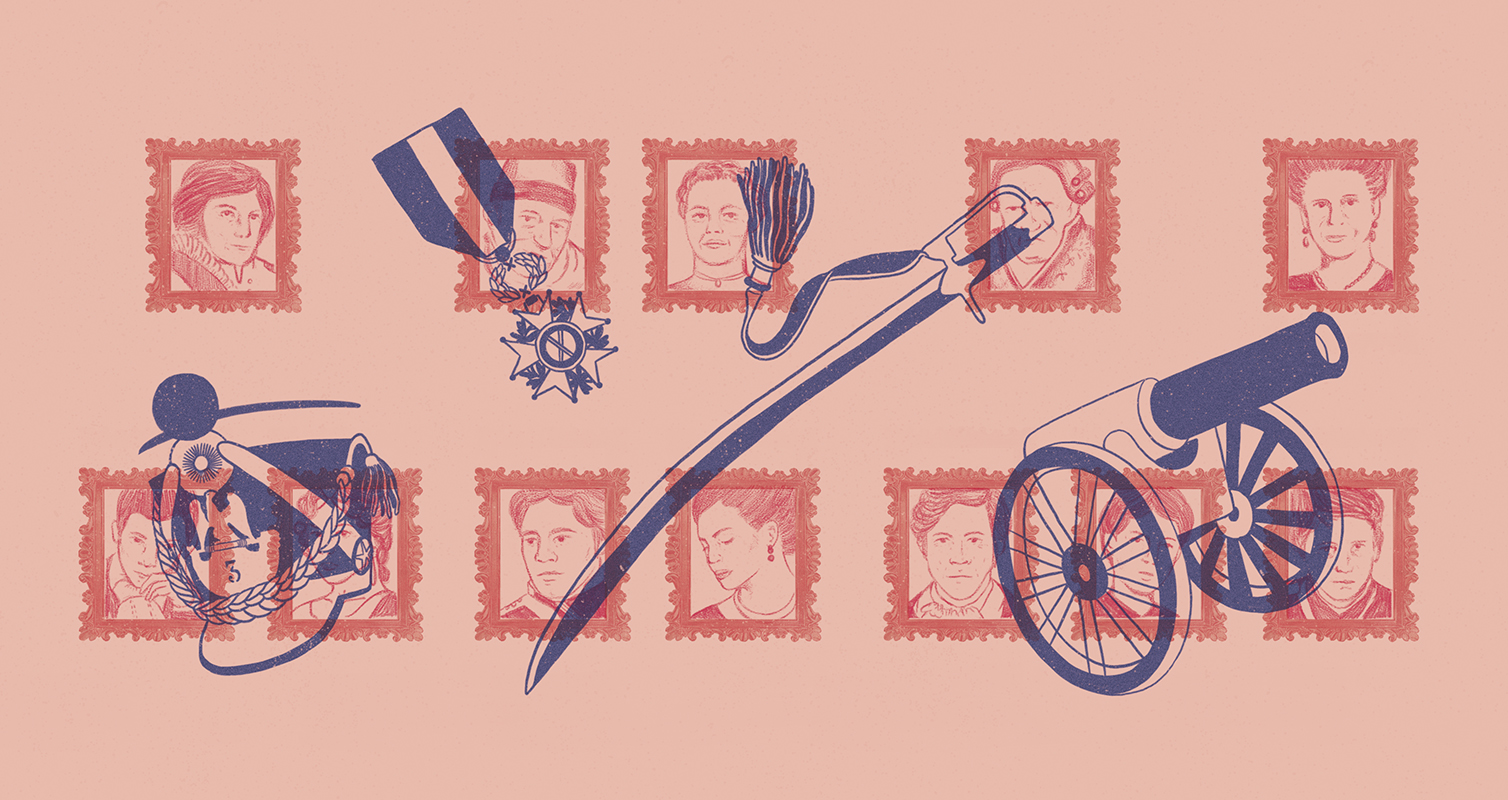
Há tradutores que funcionam em simbiose com a academia, cujo trabalho é fruto de anos de pesquisa aprofundada e reflexão a respeito de um tema que eles mesmos escolheram, e no qual se aprofundaram como poucos. Suas traduções costumam ser publicadas após anos de pesquisa apurada, tendo passado pelo crivo de uma banca erudita e rigorosa.
E há os tradutores que trabalham por encomenda, ao sabor do mercado, premidos por prazos industriais e vicissitudes cotidianas. Pertenço a esse segundo grupo. Portanto, embora Lev Tolstói (1828-1910) seja um daqueles gigantes inescapáveis quando se fala de literatura russa, meu envolvimento com esse escritor aconteceu de forma completamente inesperada, e alheia à minha vontade.
Sempre li muito Tolstói, obviamente, e com o maior dos prazeres, mas jamais tinha vertido uma linha que fosse do autor até, no final de 2015, receber um convite muito urgente para traduzir, em tempo recorde, a novela A morte de Ivan Ilitch, para uma coleção de banca. Nem bem havia realizado esse trabalho, e veio a encomenda da Editora 34: Anna Kariênina (já entregue, mas ainda não publicada) e Guerra e paz (minha empreitada atual).
Ser convidado para traduzir obras-primas desse quilate é, obviamente, um privilégio, ainda mais quando a iniciativa parte de uma editora como a 34 – que não só tem carinho e envolvimento especial com a literatura russa, mas que conta com um corpo de editores, preparadores e revisores de rara experiência e qualificação para lidar com esse material, fazendo o cotejo com o original e apresentando correções, ideias e sugestões que só contribuem para enriquecer o resultado final. A 34 abriga as traduções do mestre, pai fundador e insuperável paradigma de excelência na área, o dolorosamente saudoso Boris Schnaiderman (1917-2016), e considera-se que, ao publicar, em 2001, a versão de Paulo Bezerra de Crime e castigo, de Dostoiévski, a editora mudou os rumos da recepção da literatura russa no Brasil, consolidando de vez a cultura de verter diretamente do original, e sepultando as traduções indiretas.
Como se vê, a história da tradução direta de literatura russa no Brasil é ainda relativamente recente, e a isso talvez devamos creditar as discussões com que vez por outra ainda nos deparamos, sobre a legitimidade, necessidade, pertinência ou até mesmo “utilidade” de novas traduções de obras já anteriormente traduzidas. Para mim, que tenho ligação antiga com a música de concerto, a ideia de uma tradução “definitiva” parece tão fetichista quanto a de uma gravação “definitiva”. Cada geração, cada cultura e cada país relê, reescreve e retraduz a seu modo as obras de arte que encara como clássicas – e que adquirem tal status justamente por sua capacidade de superarem as circunstâncias locais e temporais, e serem reapropriadas e reinterpretadas em contextos e épocas distantes daqueles em que foram produzidas. Sim, só há um Guerra e paz, como só há um Édipo rei, de Sófocles, ou só uma Nona sinfonia, de Beethoven. Porém, o número de interpretações dessas obras tende ao infinito. Uma nova tradução traz as marcas de sua época, com escolhas que refletem o modo de pensar, as preferências, prioridades e preocupações de quando e onde foi feita. Não se trata da obra em si, mas uma de suas inúmeras leituras possíveis.
No caso específico de Guerra e paz, trata-se de um livro grande mesmo para os padrões gulliverianos do romance russo do século XIX, que mobiliza um vocabulário vasto (de jargão militar a itens femininos de toucador) e lida com um contexto histórico talvez familiar para os leitores russos de 150 anos atrás, porém distante do público brasileiro do século XXI – e traduzir um texto é também traduzir uma cultura. As edições russas possuem aparatos críticos primorosos que ajudam muito na tarefa de dar conta das notas de rodapé, mas há problemas que o tradutor deve resolver por si.
Os diversos idiomas, por exemplo. Um pedaço do livro se passa em solo austríaco, e os personagens se comunicam em alemão. Além disso, o francês, língua franca da aristocracia russa da época, faz-se presente o tempo todo (Guerra e paz começa com uma frase nessa língua). Em Anna Kariênina, Tolstói lida com essa questão de forma mais ardilosa: embora ainda haja expressões francesas, não é incomum ele dizer que os personagens estão conversando nessa língua, mas redigir suas falas em russo.
Considero-me calejado após ter encarado um catatau como Vida e destino, de Vassíli Grossman (não por acaso, considerado o Guerra e paz do século XX), mas a experiência também tem seus limites – cada obra traz desafios que lhe são únicos e peculiares. O maior, e comum a todos elas, creio, é o da invisibilidade. Acho que o tradutor é como um árbitro de futebol: quanto melhor atua, menos se faz notar. Não existe tradução fácil, mas isso não é motivo para dificultar a tarefa do leitor. Pelo contrário: idealmente, o leitor nem deveria se dar conta de que há um intermediário entre ele e o autor, com o qual deveria se comunicar de forma direta. Em suma: quero depositar Tolstói em cima da sua mesa e sumir. Conseguirei?