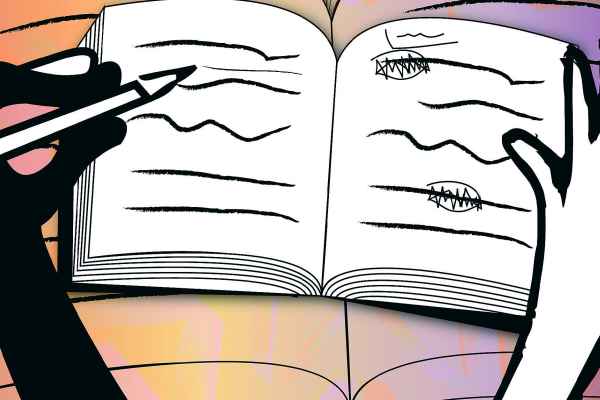
Em nova edição de O livro dos lobos, autor busca as suas palavras “perdidas”
Quando comecei a planejar meu primeiro livro, aos 22, 23 anos, fui levado a fazer uma espécie de cálculo. Tratava-se de subordinar minhas esperanças e ambições de jovem aos claros sinais de limitação de experiência e de conhecimento, que eu não podia deixar de perceber em mim. Disso nasceu uma forma que compreendia uma espécie de acordo negociado: o cômico, a farsa e a autoironia, de um lado, contrabalançavam o empenho
de alcançar, de outro lado, alguma realização de linguagem, de construção narrativa e de visão crítica do mundo. O primeiro lado acompanhava, em paralelo, o segundo, mas não se incorporava a ele, a fundo. Pelo menos, em meu pensamento.
Os dois romances que escrevi em seguida foram fruto de um tipo de conflito um pouco distinto. Havia a atração pelo formato que, meio sem querer, eu mesmo tinha criado, e a sensação de existir ali um potencial ainda não devidamente aproveitado. Por
baixo disso, existia uma pressão para procurar um outro tipo de composição, menos híbrida, menos tímida, mais direta, talvez. Vistos em sequência, os dois romances me parecem dar sinais de que essa pressão aumentou com o tempo. Pois no segundo os elementos humorísticos são menos insistentes que no primeiro; e no terceiro, menos que no segundo.
Foi com esses antecedentes que escrevi O livro dos lobos. Nunca havia escrito um conto: só três romances, naqueles nove ou dez anos. A opção pelo conto foi uma saída de emergência para me livrar de um formato que ameaçava se tornar uma matriz geradora, alojada na minha cabeça. Recordo que me surpreendi ao terminar o primeiro conto, bem como ao ver o segundo concluído. Mas só quando o terceiro ficou pronto me ocorreu que eu poderia, por aquele caminho, compor um livro. Da mesma forma, o texto dos contos foi refeito muitas vezes — acho que mais ainda do que no caso dos três romances, que também já tinham me dado bastante trabalho. Mesmo com tudo isso, tive dúvidas sobre a relevância e a pertinência do livro que havia escrito — como sempre tive, e tenho ainda hoje sobre o pouco que escrevo. Paciência. Mas pelo menos, na ocasião, tive a certeza de que havia escrito uma coisa de fato diferente dos livros anteriores.
Prova disso me veio na rua. Uma conhecida me encontrou por acaso e disse: “Li esse seu livro, agora. Mas, escuta aqui, o que foi que deu na sua cabeça?” Bateu com a mão na têmpora e balançou a cabeça para os lados, com a cara perplexa, as sobrancelhas contraídas. Passado o primeiro momento de choque, entendi que aquilo não queria dizer que ela não tinha apreciado o livro. Longe disso. Apenas que tinha havido uma mudança muito brusca e que era difícil refazer uma continuidade, uma linha estável.
Diferente foi o teor das reações de um escritor e de um jornalista em relação a O livro dos lobos. O escritor protestou que, se depois de três romances, eu escrevia um livro de contos, dali a pouco estaria publicando livros de aforismos. O jornalista mostrou-se meio traído e me alertou de que eu ia acabar perdendo leitores. Essas reações focalizavam um aspecto exterior ao livro — a carreira de escritor.
Isso também me agradou: os três romances, com seus elementos comuns, induziam uma imagem viável, manobrável, de escritor: um “profissional” inserido num ramo ou mercado estabelecido. Justamente isso também fazia parte do que me incomodava e do que eu pretendia me livrar ao tentar escrever os contos. Afinal, o que eu queria era permitir uma visão crítica sobre a sociedade à minha volta e estava à procura de um caminho para chegar a isso.
O limite das intervenções
Catorze anos depois, a minguada edição de O livro dos lobos havia sumido. Cobrei da antiga editora a devolução dos direitos autorais e resolvi tentar republicá-lo por outra editora. Porém, assim que comecei a reler os contos, desde a primeira linha, me veio o impulso de reescrever. As redundâncias, as ênfases, as palavras de efeito, as oportunidades perdidas de ir ao ponto que importava, as cenas que se prolongavam além do necessário, as simples inconveniências de linguagem — enfim, muitas e
variadas situações clamavam uma intervenção, um socorro. Aquela era a hora e eu era o responsável.
Por outro lado, a matéria dos contos, seu ambiente afetivo e intelectual não podiam ser modificados. Seu autor, a rigor, era alguém que já não existia, é verdade. Porém os contos permaneciam de pé, com sua integridade inegável, um pouco estranha, de fato, mas não de todo alheia a mim. As modificações que fiz têm peso, têm alcance, equivalem a uma inequívoca renovação do livro. No entanto percebi que o limite das minhas intervenções assinalava aquilo que os contos tinham de mais próprio, de irredutível, a linha além da qual os contos não podiam e não iriam se render.
Me veio uma hipótese: o que havia nos contos de mais resistente à minha interferência era aquilo que eles haviam conseguido captar do mundo, da experiência coletiva vivida à minha volta. De outro lado, o que cedia à minha mão eram construções de linguagem. E o resultado, novamente, foi um acordo, uma forma negociada. Mas o pressuposto é claro: nem tudo é linguagem; nem tudo é ficção.