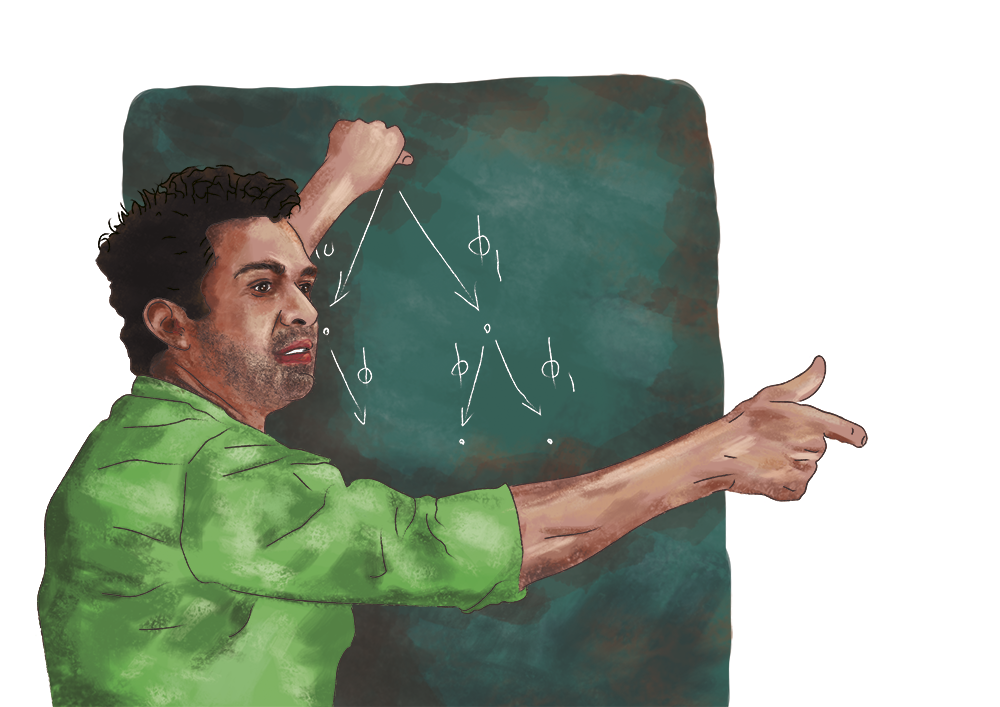
Em agosto de 2020, quando a pandemia de covid-19 ainda exigia de cientistas ao redor do mundo noites insones numa corrida para buscar uma vacina e entender de que maneira o vírus se comportava e se espalhava, o Pernambuco, em parceria com o Instituto Serrapilheira, lançou uma série de contos inéditos, escritos por 12 escritoras e escritores brasileiros. A série foi batizada de Botão Vermelho, o índice de "urgência" implícito ao nome. A ideia era fabular com inspiração em pesquisas científicas apoiadas pelo Serrapilheira. A motivação vinha simultaneamente do desejo de divulgar a fortuna da ciência produzida no Brasil em ambientes da imaginação, mas sobretudo de dar relevo a um trabalho que se tornou alvo de perseguições negacionistas. Em outubro de 2021, a ciência brasileira sofre um baque de proporções trágicas. Mais de 90% do orçamento para a ciência no país foi cortado, há um projeto de destruição em curso. Novamente, é preciso falar de ciência. E desta vez, mais especificamente falar de quem a produz.
Esta série em parceria com o Serrapilheira chama-se A ciência como ela é, e reúne crônicas e ensaios literários inspirados em cientistas de todo o Brasil que, de dentro de seus cotidianos e pequenos grandes feitos, nos tocam nas dimensões mais essenciais e afetivas de nosso relacionamento com o mundo..
A ciência como ela é tem edição da pesquisadora e curadora Carol Almeida e imagens do ilustrador e animador Matheus Mota. Clique aqui e leia os demais textos publicados.
***
Chega na caixa de entrada de e-mail sem assunto do meu amigo e editor do Pernambuco, Schneider Carpeggiani. Faz tempo que a gente não se fala. Clico e tampouco há qualquer conteúdo. Teria sido um erro ou ainda haveria algum desdobramento dessa mensagem enigmática? Envio a ele um zap e ele se desculpa, me diz que estava querendo encaminhar meu contato para a Carol Almeida, que vai me pedir um texto.
Após dois dias, recebo e-mail da Carol, desta vez com assunto – “Convite Pernambuco + Instituto Serrapilheira” – e conteúdo. Após o prólogo de praxe da pandemia, ela apresenta a proposta: “O projeto se chama A ciência como ela é, e pretende procurar escritoras/es de todo o Brasil para criar crônicas literárias a partir da vida de algumas/alguns cientistas brasileiras/os”.
Interrompo a leitura para imaginar qual cientista eu poderia sugerir. Logo me vem à mente o nome do Ricardo Antunes, cientista social e professor da Unicamp. Especialista em sociologia do trabalho, tem pesquisado o chamado proletariado de serviços – o ponto exato onde o inferno do trabalho precário toca a tecnologia mundial mais avançada.
Em seguida, ela propõe um nome: “o matemático Tiago Pereira da Silva”. E justifica: “O que me interessou na história dele foi a maneira como ele se tornou uma referência em matemática e física vindo de um contexto social onde tudo conspirava para que ele não seguisse nenhum tipo de carreira acadêmica”. O convite é menos aberto do que eu supunha linhas antes. Não tenho intimidade com o mundo das ciências duras, a não ser por meio da crítica feita a ele a partir da Escola de Frankfurt. Decido recusar.
“Querida Carol, o convite é uma delícia, mas infelizmente não conseguirei aceitar. Estou no meio da escrita do meu doutorado no Departamento de História da USP sobre o crítico literário Roberto Schwarz.
Espero que futuramente possamos fazer algo juntos.
Um abraço,
Tiago.”
Apago.
“Oi Carol. Valeu pelo convite. Topo! Bj, T.”
*
Tiago Pereira me envia três opções de horário para a nossa primeira conversa via Google Meet.
“Caríssimo,
Podemos conversar na:
Seg 10:30am
Seg 1pm
Terça 8am
Abraços
Tiago.”
Das três opções, a única que funciona para mim é a terceira. Eu ainda descobriria que o meu xará costuma acordar às 4h30. Portanto, às 8h, ele já está pronto pra luta, enquanto eu, que não acordo antes das 7h, tive que preparar e tomar o café correndo, sair para passear com a cachorra e voltar rapidamente para me arrumar da cintura para cima e enfrentar com pouca agilidade mental uma reunião para a qual eu não tinha roteiro algum.
Entro no Meet e na tela do Tiago há apenas a foto de perfil. A gente se fala mas não consigo vê-lo. Ele me avisa que vai acessar por outro computador. A reunião cai. Entro novamente e só mais tarde descubro que nesse meio tempo ele havia me enviado um novo e-mail avisando que a reunião havia caído e que eu precisa acessá-la novamente pelo mesmo link.
Finalmente nos vemos. Não consigo deixar de reparar na minha cara de sono ocupando a metade esquerda da tela. O pouco profissionalismo da aparência confirma a falta de capacidade para conduzir uma entrevista. Na metade direita do monitor, há um rosto que, sem medo de errar, é possível definir como o de um brasileiro típico.
Enquanto escrevo este texto volto ao vídeo da gravação dessa primeira conversa e me surpreendo com a foto de thumbnail no Google Drive: Tiago aparece sorrindo como quem se diverte com um velho amigo. Minha sensação após o encontro foi de fracasso. Não criamos qualquer intimidade, muitos silêncios constrangedores, perguntas mal colocadas por mim. Minha esposa, a Mika, que ouvira de outro cômodo trechos apenas da minha fala, já que eu usava fones, sugere que eu o convide para uns dias na Ilhabela, onde viemos passar uns tempos por causa da pandemia.
*
Numa quinta-feira à tarde, encontramo-nos no centro histórico da ilha. Sentamos num bar e após o silêncio de ambos diante da lista de marcas de cervejas artesanais, ele comenta que o custo/benefício não está bom ali. Concordo e saímos. Após uma curta caminhada, optamos pelo terraço de um restaurante de comida caseira, onde antes de nos sentarmos pela segunda vez verificamos o cardápio. Quem nos visse de fora poderia imaginar que o que nos separava era apenas uma mesa quadrada de madeira coberta por um linóleo transparente embaçado. Havia muito mais.
Após duas cervejas numa tarde de calor ardido na ilha, com um sorriso franco mas contido, Tiago me fala de suas pesquisas. Algo da forma como ele me conta sobre o trabalho me faz lembrar do filme hollywoodiano sobre o matemático Alan Turing. Em certo momento, Turing precisa convencer um militar a financiar o seu projeto para decifrar as mensagens encriptadas pela máquina Enigma dos nazistas. O militar quer mais detalhes. Ele se impacienta. Não tem tempo para aquilo, não teria como explicar de forma simples. O militar, com um sorriso sarcástico de quem pode decidir o futuro do outro, insiste para que ele tente. Turing fala então que a melhor chance de vencer uma máquina é outra máquina, e não o cérebro humano. O militar acha o argumento banal e lhe dá as costas. Enquanto converso com Tiago, me espanto com a simplicidade de suas explicações, sempre feitas com exemplos do dia a dia, mas diferente do militar britânico, guardo a certeza de que elas abrem uma brecha muito pequena para que leigos possam ter qualquer ideia do funcionamento daquele mundo.
Tiago Pereira nasceu em Jundiaí, interior de São Paulo, em 1981. De família pobre, pai motorista e mãe doméstica, alguns episódios marcaram a infância, que, como ele faz questão de dizer, “quando você cresce num bairro ruim, nem tudo é ruim”. O par de tênis era um bem precioso, por isso a mãe não deixava que fosse usado para jogar bola. A limitação financeira vem acompanhada das recordações de liberdade de criança que já anda sozinha, rouba manga na vizinhança e joga suas peladas num terreno no pé do morro onde ele vivia apelidado com graça de Buracanã.
Não posso deixar de pensar numa longa duração dos pés descalços no Brasil. Um estrangeiro que chegasse ao Rio de Janeiro na segunda metade do século XIX imaginaria a capital do Império como um fervilhante mercado a céu aberto tomado por negros ocupando todo o tipo de atividades. Se olhasse para o chão, não tiraria nenhuma conclusão. Mas qualquer um nascido naquelas bandas identificava os escravizados justamente olhando para os seus pés, já que eram proibidos de usar sapatos. A escravidão cairia sem deixar de ser cuidadosamente mantida por outras formas de controle e exploração da população negra, mestiça e pobre. As barreiras de acesso ao ensino são uma forma atualizada de manter o corte rígido entre os que não consideram qualquer privilégio calçar sapatos e aqueles que não podem se dar ao luxo de estragar um tênis num campo de terra. Não compartilho a reflexão com o meu convidado.
Outra passagem da infância, esta provavelmente transformada em piada graças ao lugar ocupado por ele hoje, é que a família toda acreditava que ele tinha “algum problema mental quando pequeno”. Certa vez, com cerca de nove anos, esperando o ônibus para ir ao centro da cidade pagar na lotérica uma conta a pedido da mãe, foi surpreendido pela avó, que recomendou que ele não fosse sozinho, que um primo dois anos mais novo o acompanhasse para que tudo desse certo. Ele entende que essa pressão negativa da família não ocorria por mal, era o funcionamento daquele sistema familiar. Anos mais tarde, quando anunciou que largaria o emprego para se dedicar aos estudos, a mãe foi contra. Afinal, aos 20 anos, ele tinha um salário melhor do que o do pai. Hoje, ele se diverte contando que a mãe de uns tempos pra cá mudou a versão, e passou a dizer que sempre o apoiou.
Tiago rompeu o seu padrão familiar graças a uma ideia fixa: “entrar na USP”. Quando ele fala em ideia fixa, penso no Brás Cubas e, como se estivéssemos em perfeita sincronia, ele me conta que se sentia como o famoso autor defunto. “Mas o Brás Cubas não realiza o emplasto”, comento. Ele diz que hoje não tem mais ideias fixas e que elas podem se tornar patológicas quando não realizadas. Prefere ler Sêneca e gosta de se pensar estoico: simplesmente aceita o mundo ao seu redor.
Dois fatos concorreram para que a ideia se pendurasse no “trapézio” do cérebro do futuro matemático: na casa daquele que viria a ser seu sogro havia a coleção da Folha Os Pensadores. Tiago começou pelo início: a filosofia ocidental por Bertrand Russell, Sócrates, A república de Platão etc. Por causa da pouca intimidade com uma universidade moderna, idealizou o seu funcionamento. Ainda não podia imaginar as batalhas travadas e o tipo de arma utilizado em um departamento universitário.
A outra haste do X da ideia fixa veio de uma situação prática. Na fábrica de bombas hidráulicas onde trabalhava graças à formação técnica obtida num curso profissionalizante do Senai, certa vez decidiu que precisava saber como funcionava o espectrômetro de frequências, mas ninguém ali conseguia ajudá-lo, por mais que operassem o aparelho. Já na Faculdade de Física da USP, a explicação acenava a ele de uma disciplina distante. Preencheu requerimentos para cursá-la antes. Não entenderia nada do funcionamento da máquina naquele momento, mas aprenderia uma lição: “É preciso seguir a ordem proposta no curso”, conta rindo. Nos primeiros dias de faculdade, um professor recomendou que ele abandonasse o curso, que não tinha nível para estar lá. Ele concordou, mas como a ideia fixa ainda estava fazendo suas “cabriolas”, decidiu se dedicar exclusivamente aos estudos. Em seis meses, era um dos melhores da turma e ganhou sua primeira bolsa de estudos. Ele conta com humildade genuína ter feito “algumas coisas diferentes” no Instituto de Matemática e Estatística da USP, o que lhe rendeu novas bolsas e convites para Berlim e Londres. Hoje, vive em São Carlos, interior de São Paulo, onde dá aulas na mesma universidade em que se formou e coordena equipes de pesquisa.
“Por que uma pessoa tem mal de Parkinson?”, Tiago pergunta de forma retórica para antes da resposta se corrigir sorrindo: “O porquê ninguém sabe… mas o que tá acontecendo ali é o seguinte” – o mundo do “como” dava as caras pela primeira vez. “A ordem é boa, mas quando há muita ordem, isso pode ser sinal de patologia”, continua. No caso dos neurônios, a ordem pode significar uma concentração extrema; muita ordem, um desmaio, uma crise epiléptica ou Mal de Parkinson. A equipe coordenada por ele recebe dados de padrões neurológicos para tentar descobrir a equação matemática que explique o comportamento do sistema. Uma vez a equação estabelecida, é possível alterar seus elementos para interferir no resultado do todo e assim quebrar um padrão que possa ser o causador de doenças. “Prever o futuro de um sistema a partir do estudo das relações. Prever antes do problema acontecer. O jogo que a gente tá jogando agora”, ele afirma num vídeo disponível no YouTube.
Falar sobre a matemática parece deixá-lo impaciente. Ele me pergunta sobre a minha formação e por um ato falho deixo de mencionar os dois anos de engenharia. Só mais tarde retifico a informação. Ele acompanha minha história com interesse, mas apenas quando tento explicar o conceito de “ideias fora do lugar”, sua face ganha uma expressão que eu ainda não conhecia: concentração extrema. Seu olhar me intimida e enquanto falo de ideologia de segundo grau já forneço os argumentos para falsear o conceito, como se me desculpasse pelo que estava explicando, e sem querer homenageava o Karl Popper mencionado em algum momento da conversa. Noto que meu olhar está há alguns segundos preso a uma dobra do linóleo que cobre a mesa. Ele acha o conceito muito fatalista, que uma única geração pode virar a sorte de um país e dá como exemplo a pista fornecida por mim: a modernização do Japão. Sugere que à noite continuemos a conversa. O mundo do “por que” parecia afinal lhe interessar. Não voltaríamos ao tema.
*
No dia seguinte, Tiago, com a esposa e três filhos – duas meninas e um menino – vêm à nossa casa jantar. Ainda no deque, todos se apresentam. Do nosso lado, minha filha com uma amiga e a Mika. Sugiro que as crianças saiam para um “Polícia e ladrão” no gramado para que os adultos possam conversar. Tiago se interessa pela regra que as crianças utilizam. O interesse é tanto, que, por um momento fico pensando se ele vai brincar também. E vai. Não de “Polícia e ladrão”, mas de jogos que ele começa a organizar naquele instante. Todos rapidamente ocupam a mesa enquanto fico com os sacos plásticos de supermercado trazidos por ele com cervejas, chá-mate, suco de uva, queijo coalho e uma peça de carne queimando minhas mãos por causa do peso. Seus filhos e esposa se colocam em prontidão para o jogo, enquanto ele, com paciência, mas firmeza, insere os integrantes novos na atividade. As crianças parecem se desinteressar antes do que ele.
Me proponho a pilotar a churrasqueira, função para a qual sou pouco habilitado. Por sorte o fogo pega sem muita dificuldade, o que diminui a cobrança que sinto sobre mim. Ele percebe minha falta de técnica, mas só interfere na máquina rudimentar quando entro em casa para buscar uma bebida. Comento que a Mika chegou a prestar matemática no vestibular, mas a ideia esfriou, o que foi uma sorte, já que nos conhecemos no trabalho, sem cálculo algum. Tiago não aproveita a deixa para abordar sua experiência na área. Falar de matemática parece uma tradução impossível. Combinamos pegar praia no dia seguinte.
Enquanto seco a louça ao lado da Mika, conversamos sobre a dificuldade de acessar uma camada mais íntima do nosso convidado. Dessa conversa, chegamos à conclusão de que o que melhor o define não é um segredo protegido pela reserva de quem sabe que é o objeto de estudo do outro, mas a face mais exposta: o gosto pelos jogos. Na verdade, o interesse pelas regras dos jogos é o que move o meu xará. Ele havia me dito que o que mais lhe interessava da experiência de morar fora do país era se deparar o tempo todo com situações incompreensíveis. Sua esposa conta que ele costuma se impacientar depois de um ano no mesmo lugar. Imagino se nesse prazo as regras já estariam todas decifradas.
*
Caminhamos pela areia no sábado de manhã. Faz um dia de sol agradável de primavera. Siriúba é uma praia pequena, mas grande para o padrão da ilha. Tem uma faixa de areia dura, o que permite que a bola de borracha do jogo de Taco, ou Bets, role bem. A areia está tomada por faixas de vegetação marrom escura trazida pelo mar. Durante o passeio um pequeno galho lhe espeta o pé. Enquanto o retira de um vão entre os dedos, comenta: “Fui jogar bola outro dia descalço com o meu filho e depois fiquei dois dias sem andar. Quando era moleque não acontecia isso”, querendo uma cumplicidade que não posso oferecer.
Conversamos sobre a pesquisa coordenada por ele relacionada à covid-19. Muita coisa foi realizada: desde cálculos para se descobrir a taxa de transmissão numa sala de aula até padrões de fechamento de acordo com o perfil e comportamento de cada cidade. Brás Cubas confessa no Capítulo II o que o levara à ideia fixa: “o que me influiu principalmente foi o gosto de ver impressos nos jornais, mostradores, folhetos, esquinas, e enfim nas caixinhas do remédio, estas três palavras: Emplasto Brás Cubas”. Da experiência com grande exposição pública, Tiago se revela um antiBrás. Se incomoda com a abordagem jornalística que tentou promovê-lo a gênio da ciência, como se o mérito não fosse de toda a equipe. Ele faz piada para tirar o peso dos próprios ombros: “Sei lá, quando descobriram o mais importante talvez eu ainda estivesse em casa dormindo”.
Empolgado ele me fala que teria sido possível rastrear, a partir do celular, cada cidadão e saber quem estava ou não contaminado, e assim determinar a necessidade de testagem e quarentena individualmente. Mas o avanço na privacidade foi bloqueado. Por toda a parte, políticos não saberiam como legislar sobre a utilização desses dados após o fim da pandemia.
Pergunto sobre a ideia de cidades sem crimes, mencionada por ele em um vídeo na internet e ele me explica que é tudo uma questão de espalhar sensores como grãos de areia pelas ruas das cidades e resolver a melhor forma de coletar e armazenar tanta informação. Ele cita dois exemplos: um modelo do tipo 1984 do Orwell, supercentralizado, e outro espalhado como em Admirável mundo novo do Huxley. Para ele, a diferença entre as duas distopias ilustra a diferença entre modelos e suas respectivas vantagens técnicas em termos de gasto de energia e eficiência. Volto ao problema político da privacidade e ele me fala que o que estou fazendo é interpretar o dado. Para ele, a questão é se é possível ou não realizar determinado propósito. E continua: “A matemática é um jogo” – uma afirmação bastante comum nessa área. O que eu descobriria é que, no caso do Tiago, o clichê encobre certa decepção com um outro jogo, corriqueiro na academia, e com regras maleáveis demais para ele: o das aparências e das relações pessoais.
Ele quer saber nos mínimos detalhes como jogamos Taco. A distância entre as casinhas, a contagem de pontos e como decidimos a dupla que começa com os tacos. Não posso deixar de sentir que ele parece querer me decifrar como se eu fosse um país estrangeiro. Em nenhum momento ele impõe sua regra, mas faz questão de esmiuçar a minha. Meu jogo é mais rudimentar. O equipamento é comprado na Decathlon, diferente da lata de óleo e da madeira de construção usadas por ele.
Quando Bob Dylan venceu o Nobel, Tiago ficou sem entender. Leu a biografia, estudou as letras e, segundo uma das filhas, ouviu compulsivamente as mesmas canções. Não conseguiu gostar. Ele comenta que quando alguém pensa ter atingido a excelência na área científica, aquilo é a fórmula certa para se tornar obsoleto. Respondo que o Dylan escapou desse tipo de consagração ao se reinventar constantemente.
“Já reparou que as pessoas estão sempre tentando se capitalizar?”, ele lança do nada enquanto corta fora a gordura da carne após ter afiado minha faca cega numa pedra do jardim já em casa após a praia. Noto que há um incômodo sincero com a manipulação das aparências e dos próprios saberes. “Na turma do futebol, por exemplo, não tem isso, você entende?” Confirmo apenas movendo a cabeça para não interromper o raciocínio. “O pessoal tá ali para jogar e não importa o que cada um faz fora do campo.” A universidade idealizada já mostrara há muito tempo suas fissuras ao nosso anti-herói da matemática.
Após uma rodada de um jogo de adivinhação com palavras escritas em papeizinhos, a noite cai e começa o processo de convencer os filhos a ir embora. Um vizinho chega nesse momento e o rosto do meu convidado expressa certa perplexidade. Como se aquele elemento não estivesse previsto na equação e viesse projetar resultados não esperados. Rapidamente ele assume o controle da conversa. Falamos sobre as pessoas que se recusam a tomar a vacina da covid. Ele menciona o método da época do Oswaldo Cruz: a população não teve escolha, foi vacinada e pronto. “E hoje o cara é reconhecido como um gênio, dá nome a fundação.” Segundo ele, três meses depois, todos concordavam com a medida. Penso no livro do historiador Nicolau Sevcenko, que conta outra história desse episódio, sobre como a campanha da vacinação camuflou um projeto violento de modernização do Rio de Janeiro. Meu vizinho menciona o famoso artigo, já desmentido, que relacionou vacina e autismo e que teria gerado boa parte da onda antivacinação nos EUA. Talvez para corrigir uma imagem de intransigência de seu comentário anterior, Tiago fala com serenidade que vacina, de fato, é algo complicado e cita o caso da vacina contra Influenza A aplicada em um grupo de jovens em 2009 na Suécia, que os levou a desenvolver narcolepsia. “Não tem cura”, afirma me encarando com uma expressão indecifrável.
Despedimo-nos encerrando o nosso jogo de “Esconde-esconde” de três dias, sem vencedor possível entre mundos regidos por regras inconciliáveis: o do “como” e o do “por que”.
*
No domingo após a sua partida, me sento num banco na praia e observo o mar. Sartre chamou de O idiota da família sua monumental biografia de Flaubert. O objetivo das mais de duas mil páginas era saber o quanto é possível conhecer sobre um indivíduo. A mensagem em branco do editor do Pernambuco finalmente revela seu enigma. Quase nada vamos saber sobre alguém fazendo perguntas, batendo de frente em papéis sociais e máscaras, que só confirmam o mundo de manipulação da própria imagem. Talvez por um caminho não planejado, fruto da minha incompetência jornalística, eu tenha tocado algo verdadeiro do meu xará. Um pesquisador que quer fazer a diferença na vida das pessoas, antecipar o tratamento de doenças, a prevenção de crimes, mas que se sente fora do lugar no jogo das vaidades intrínseco a qualquer área de atividade profissional, e que a cada nova rodada de um jogo qualquer, volta à pureza das equações matemáticas e dos dias felizes de Buracanã.