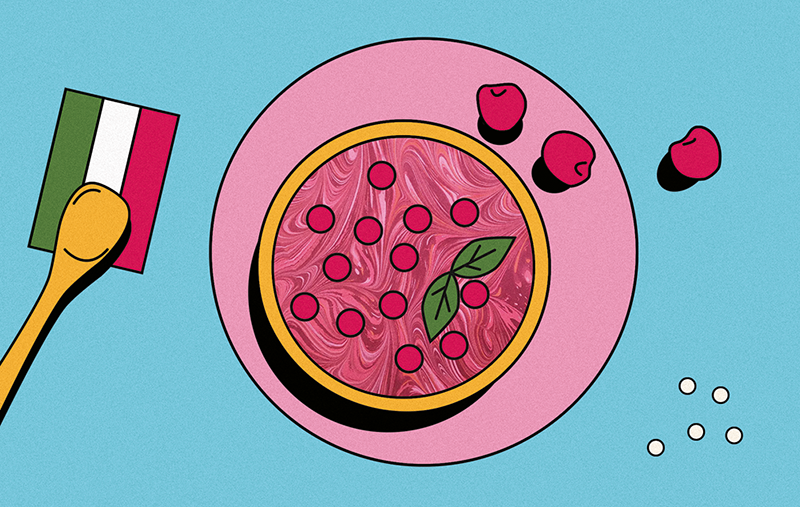
Passei os últimos quatro meses em Budapeste aguardando a temporada da sopa de cereja, pequeno milagre gustativo que dura o mês de junho. Uma experiência nem doce nem salgada, suave mas imponente, epicentro da cruz dos sabores, irmã do beijo e dos azeites, prima dos prazeres anímicos, pra nem falar do baile de cores de fazer inveja a qualquer Rothko. Comer, beber, respirar. Como seria a vida se fosse simples como algumas palavras juntas?
Por mais de um momento tive a impressão de estar vagando dentro de um conto de Dezső Kosztolányi. A passagem dos dias se condensava em pequenos episódios intensos e graciosos, compatíveis com a estrutura do conto. Porém, diferente do que ocorre nas maravilhosas histórias do poeta Kornél Esti, ninguém mais se banha no Danúbio no centro da capital. É preciso ir até a praia romana, ou mais longe, em direção a Eslováquia, onde o rio parece ser mais largo e guloso, um animal líquido que avança plácido e libidinoso lambendo as terras secas do país.
Borges teria gostado de saber que Budapeste é um duplo. Na verdade não é bem isso. Budapeste é uma cidade dublê. Forjada na união de Buda, Peste e da menos célebre Obuda, nas últimas décadas ela se tornou a locação perfeita para filmes cujas histórias se passam sempre algures. Sobretudo Paris, mas já foi dublê de Berlim e, em 1988, a Moscou do filme Inferno vermelho onde uma dupla de detetives tentava desbancar uma rede de criminosos, claro, russos. No filme Munique de Steven Spielberg, a área do Boulevard Andrássy funcionava tanto como a Paris quanto a Roma dos anos 1970.
Borges disse mais de uma vez que não temos muitas histórias, estamos sempre contando as mesmas histórias, levemente ou muito modificadas. Dizia algo parecido sobre metáforas. Há poucas imagens ou modelos metafóricos, mas sua variação é infinita. É um pouco assim com Budapeste, pequenas alterações e ela se desdobra, ad infinitum, noutras capitais. Nela, o passado é o presente, e este se esforça por florescer mas soçobra na obsolescência, a imaginação fez de Budapeste uma cidade-depositório de nossa nostalgia ou de uma certa ideia de beleza a ela associada. Entra-se em Budapeste como se entra num tipo de portal, confusos sonhos de uma Europa Central mais cosmopolita do que bélica permanecem ali, agindo, redivivos e mortiços, nem doces nem salgados, na cruz dos nossos dissabores democráticos.
Não persegui mafiosos russos, mas minha pesquisa lidava com os mapas mentais que ligam passado, presente e imaginação literária. Envolvia visitas aos arquivos públicos da cidade e documentos sobre as aventuras e desventuras da família Erber entre os séculos XIX e XX. E como nem todo enigma temporal jaz no passado, tive a sorte de descobrir uma liga de futebol de escritores em atividade e a mais simpática redação de jornalismo investigativo independente que já visitei, Átlátszó.
Um passo atrás, dentro do avião. “Mãe, a cidade está cheia de fumaça azul”, exclamaram meus filhos, e bastava olhar pela janela para ver que era mesmo verdade. Depois descobri que há uma controvérsia literária sobre o Rio Danúbio ser melhor descrito como um rio azul ou um rio amarelo. Há mesmo apoiantes de uma descrição menos binária que mistura o azul com o amarelo. Mas quando se trata de cores, fico com a beleza da resposta das crianças: o Danúbio era azul.
Meses depois, interessada nas táticas performáticas do magiarismo, atravessei em sentido contrário uma compridíssima manifestação do Fidesz que marchava com a bandeira nacional sobre a Ponte Margarida. Não faltavam música folclórica e gentes emperiquitadas, havia também agricultores e associações de padeiros, se entendi bem os cartazes. Depois corri para as bandas do Hotel Gellert, onde acontecia a grande manifestação estática da oposição, infelizmente e previsivelmente derrotada. Foi curioso constatar que numa coalizão que juntava gatos, lagartos e sapatos, o jingle era: “Todo o poder ao povo”. Imaginem só, todo o poder ao povo! Se o marqueteiro de Lula soltasse um mote desses, o fantasma do comunismo seria morto a tiros de fuzil ao romper da aurora. Em nenhuma das duas manifestações vi policiais com olhos de facínora e sede de vingança. Desconcertante para qualquer carioca acostumada à delicadeza da PM nos protestos da Avenida Presidente Vargas e zonas afins.
Talvez seja interessante, e quem sabe até instrutivo, entender a cabeça de Viktor Orbán. O seu “case de sucesso” depende, entre outras coisas, da manipulação retórica do medo. Uma sociedade assustada, mentalmente ocupada com a ameaça do inimigo, real ou imaginário, sempre foi o melhor condimento para a fascistização. Misture aí uma pitada de identidade forte, embebida na narrativa do desaparecimento do povo magiar e na insistência no excepcionalismo linguístico húngaro. Eis um pacote mágico cheio de fantasias étnicas, respaldadas na fragilidade demográfica. Essa identidade nacional ameaçada teria sido corrompida inclusive pela Europa dos ideais multiétnicos-multiculturais.
Diferente do Brasil (de Bolsonaro), que estimula a três por quatro o ódio à democracia e desabona todas as instituições que a sustentam, Orbán faz questão de apresentar a Hungria como uma “democracia iliberal”. Não é um epíteto de teor crítico forjado pela oposição, é uma formulação do próprio Orbán. A sua democracia seria iliberal porque o governo favorece politicamente alguns setores, grupos e valores. Uma vertente específica do cristianismo ultraconservador, por exemplo, tem nela status privilegiado. Já a inspiração para a governança iliberal vem da China, Rússia e Turquia. Iliberal também porque o poder vai ficando cada vez mais centralizado – no caso húngaro, concentrado no Fidesz e no próprio Orbán, hoje talvez mais forte que o partido – enquanto a oposição vai sendo imobilizada por completo.
Viktor Orbán nem sempre foi o Orbán de hoje. Surgiu como jovem liderança contra as imposições do regime soviético já à beira do colapso. Era líder do movimento que emergiu na Universidade Eötvös Loránd (ELTE) de Budapeste e a partir do qual se formou a Fiatal Demokraták Szövetsége (Aliança dos Jovens Democratas), hoje conhecido como Fidesz. O primeiro Fidesz visava pôr fim à ocupação soviética da Hungria, retomando alguns ideais da revolução derrotada em 1956, que viu o primeiro-ministro Imre Nagy ser executado por ter anunciado a retirada da Hungria do Pacto de Varsóvia. Quando bem mais tarde o Partido Comunista admitiu que Nagy fora de fato executado, o antigo primeiro-ministro recebeu um novo funeral. Era o ano de 1989, diante de dezenas de milhares de cidadãos, o jovem ativista Orbán se transformou num ícone da defesa da democracia. Quem te viu, quem te vê.
A transição húngara para a democracia é dificílima de descrever, francamente não tenho competência nem espaço suficiente aqui. São zil fases e processos, interpretados de maneira conflitante pelos especialistas no assunto. Hoje o país está sufocado, e nem mesmo Kornél Esti sorriria seu sorriso irônico diante do presente e do estrangulamento do horizonte.
Se a Hungria é uma democracia de espécie muito estranha ou um regime totalmente autocrático sob o verniz da União Europeia, é uma discussão em curso. Da cabeça de Orbán continuam a sair frases assim: “Foi uma vitória tão grande que podem vê-la da lua e certamente podem vê-la de Bruxelas”. Por favor, chamem os cartunistas.