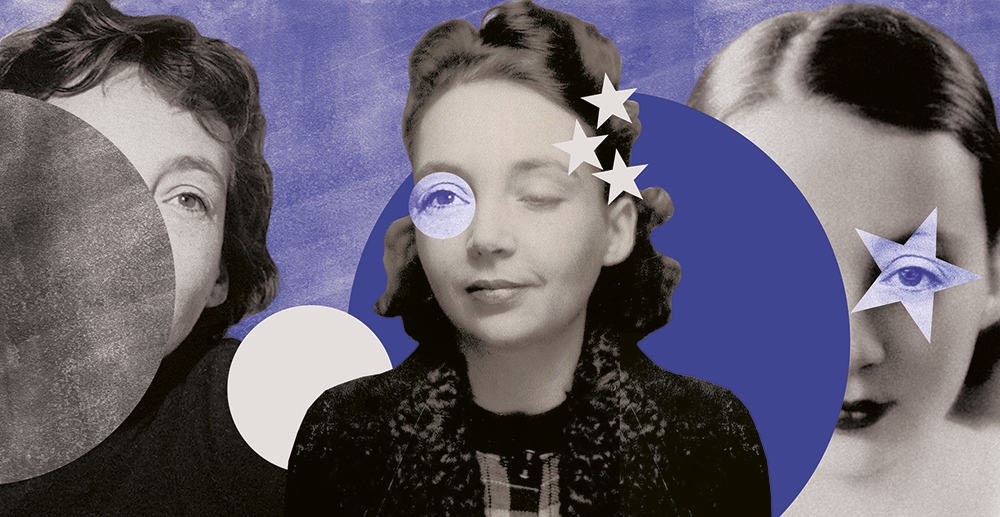
Ela sabia conversar com qualquer pessoa. Um criminoso não arrependido, uma freira, a mulher mais bonita do mundo, imigrantes ilegais, um funâmbulo, garotos que sonham em ir à lua. Durante algum tempo colaborou com jornais e revistas da França, fazendo reportagens e entrevistas sobre assuntos que a deixavam atormentada, fora de si. Por isso escolheu Outside para dar título ao livro em que foram reunidos esses textos, onde ficou registrado esse seu outro grande talento.
Mas a intimidade com a linguagem não a protegeu do fascínio enganador das palavras. Duras não foi a primeira e nem a última escritora a se deixar seduzir pela beleza do próprio gesto literário. Assim é que, em 17 de julho de 1985, publica um texto de 3 páginas sobre a mãe do menino Grégory, um garotinho de 4 anos encontrado morto em outubro do ano anterior, com as mãos e os pés atados dentro do Rio Vologne (França). O crime se tornou exemplar pela sucessão de erros judiciais. Quando Duras publica seu texto, o “affair Grégory” havia se transformado no objeto preferido da mídia gulosa, que transformou a mãe na suspeita ideal. As investigações perderam-se atrás de pistas falsas e sob um verdadeiro bombardeio de cartas anônimas. Até hoje permanece mal elucidado — basta dizer que, em 2017, o juiz que nele havia atuado foi encontrado morto com um saco de plástico na cabeça.
Duras intervém nesse lodaçal midiático e jurídico, oferecendo um retrato ficcional da mãe da vítima, Christine Villemin. No perigoso manejo da interpretação literária dos atos de uma figura real, ainda usufruindo da presunção de inocência, ela glorifica e ao mesmo tempo incrimina a mãe do garoto, projetando uma imagem trágica mas sublime de Medeia contemporânea, assassina mas fascinante. Sublime, inevitavelmente sublime Christine V., um texto indefensável, que produziu muitas reações na França mas cuja leitura hoje renderia uma boa reflexão sobre a relação entre ética e literatura. Christine Villemin, formalmente acusada de infanticídio em 1985, só teve as acusações retiradas em 1993.
Outro assunto, continuando nela. Todos sabem que Marguerite Duras bebia. Assumia seu alcoolismo como uma espécie de amor inescapável. Falava do assunto com tranquilidade: “É que o álcool… é Deus”. O Deus, é evidente, dos que não creem em Deus. Disse também que “escrever tem a ver com Deus”, e ainda que “se Deus existisse, não seríamos alcoólatras”, e “escrever concorre com Deus”, atando assim a escrita, o álcool e essa deidade dos desprovidos de Deus numa curiosa forma de concorrência em que a escritora seria aquela que carrega o cadáver de um Deus que não faz milagres. Contava que foi um homem que ela amou (e que bebia) o motivo inicial da sua entrada no reino do álcool. Então começa a listar os livros que escreveu sob o efeito da bebida e os que escreveu sóbria. É maravilhoso ouvi-la, mesmo que tudo isso seja parte da hábil construção de uma imagem de si mesma como mulher que escandaliza.
Mas a relação que travou com seus leitores (e com seu público de cinema) revela uma posição menos óbvia, numa posição intermediária entre a superexposição e a dissimulação, a franqueza e a pose, de certo modo dialética e imune ao julgamento grosseiro, do qual, apesar disso, nunca foi poupada. Nasceu em 1914, numa pequena província da então Cochinchina, hoje sul do Vietnam, e morreu em 1996, em Paris, em decorrência do mal de Alzheimer. Sua mãe era uma mulher pobre do Nord-Pas-de-Calais, norte da França.
Há um pequeno livro de Marguerite Duras chamado O homem atlântico. É um livro de 1981, muito breve, de difícil classificação. Parece um roteiro infilmável em forma de anotações líricas, talvez uma espécie de memento, ritual de despedida, conversa posterior ao fim impossível de um amor que não termina de acabar. Um livro sobre o fantasma da presença de um homem que reaparece — sem nunca ter completamente desaparecido — como objeto de um filme que ela roda nas palavras que dirige a ele. Cercar, através da escrita, o filme impossível dessa ausência onipresente, é essa a partitura do Homem atlântico. “Você ficou em posição de partir. Fiz um filme da sua ausência”.
O crítico de cinema Serge Daney dizia que uma história é algo que não se fecha, e Marguerite Duras foi incrível nessa arte de preservar o caráter assim aberto das histórias. Inventou um gênero literário liminar que carece de um nome apropriado. Não é propriamente um cinema mental, e sem pretender ser muito original vou chamá-lo de cinematografia mesmo: escrita de cinema que se realiza em si mesma. Não é o roteiro poético de um filme a ser realizado (muito embora ela também tenha dirigido filmes); é um texto que escreve o desejo de filmar através de histórias de amor situadas sempre num ponto inquieto em que o fim irrompe nos começos e os começos estão sempre já se arruinando e provocando o declínio de tudo.
Numa carta a Louise Colet, de 1854, Flaubert dizia que era preciso ter cuidado com o lirismo, que, quando se escreve na clave da lírica individual, é preciso que as coisas se passem de modo estranho, captando melhor sua intensidade. É esse lirismo extremamente pessoal e ao mesmo tempo anônimo e imemorial que talvez o Deus-Álcool ajudasse Marguerite a traduzir.