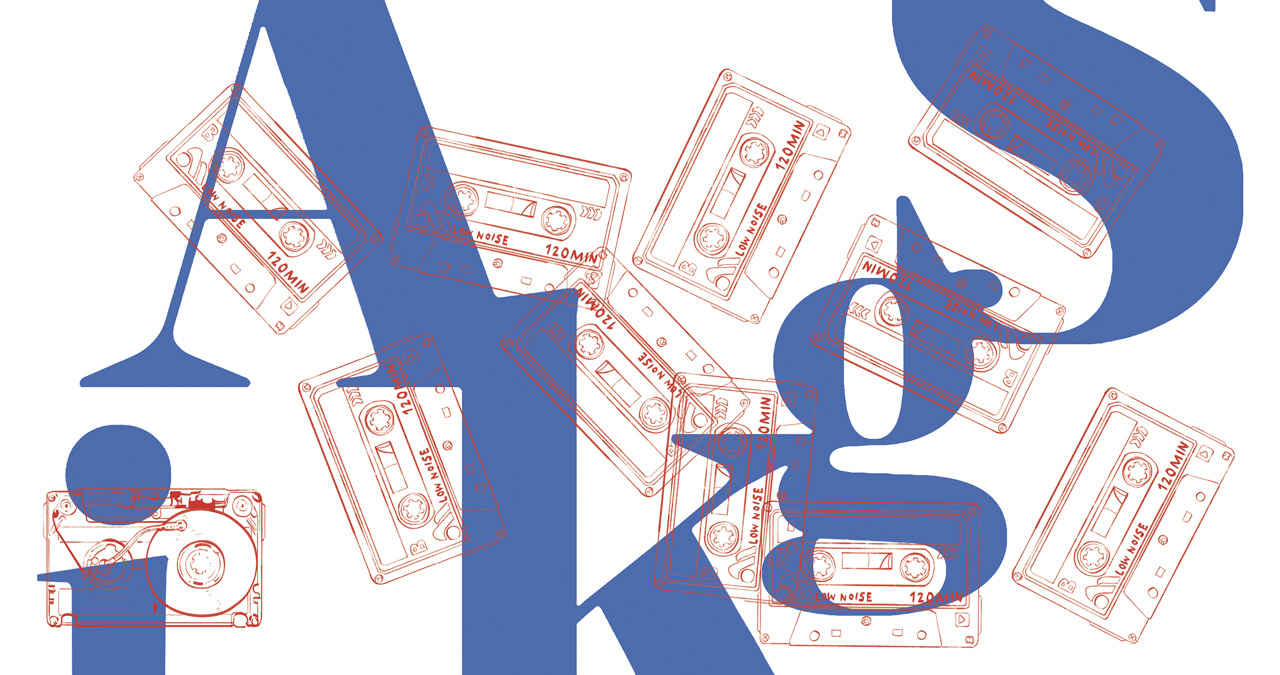
O médico sabia que Manuel Bandeira era poeta.
Mas, após o pneumotórax que diagnosticou seu paciente como condenado a uma tuberculose eterna, avisa-lhe:
– A única coisa que lhe resta é dançar um tango argentino!
Não o pede que recite o Vou-me embora pra Pasárgada, ou outro poema qualquer, antes de uma morte supostamente temporã. Certamente, sabia que todo poeta é, antes de tudo, um músico incompleto.
Manuel Bandeira, mesmo se não chegou a executar o tango, deu letra ao Azulão de Jaime Ovalle. E escreveu ensaio antológico sobre o violão brasileiro, discorrendo sobre a passagem do compositor paraguaio Agustín Barrios Mangoré e da espanhola Josefina Robledo e as marcas deixadas por eles na música de João Pernambuco e seguidores na arte das cordas.
Apesar de “modernista” e de ter cometido alguns poemas aparentemente ‘bizarros’ para a época, a musicalidade sempre foi exigência de Manuel Bandeira. Transparece, inclusive, no rigor das traduções. Sua versão do poema Nocturno, de José Assunción Silva, é tão perfeita quanto o original espanhol do poeta colombiano.
E Machado de Assis? Ao redigir um texto de ficção, tendo como tema as vicissitudes da criação artística, recorre à história de mestre Romão, o professor de música do conto Cantiga de esponsais. No fim da vida, por mais que o personagem se esforce em compor algo para deixar em testamento, não consegue finalizar a obra que perseguia. Atropela-se nos lás. Desconsolado, vai tomar ar à janela, aguardar uma inspiração que nunca lhe chega. É quando, de repente, escuta do outro lado da rua um jovem a assobiar uma modinha que parece familiar. É o morador da casa da frente, a do casal em plena lua de mel. Mudara-se havia pouco tempo. Um assobio! E o mestre Romão percebe, desconsolado, que a música do rapaz era, por inteiro, a peça que não conseguia finalizar.
O autor de Dom Casmurro poderia ter usado em seu conto o personagem de um poeta tentando escrever um soneto, com dificuldade para ajustar o terceto final, desfiar o arremate decisivo. Ou um escritor buscando escrever uma história e à procura de um bom incipit, aquele início apelativo que convida o leitor e o incita a continuar a navegação. Mas, não... É à música a que recorre Machado. Não à literatura ou a outras artes.
Tinha razão. A música, ao contrário das letras, fala aos homens de qualquer língua. Quem sabe, até mesmo aos anjos.
Quem sabe até mesmo aos bichos.
Porque eles, os bichos, também pressentem o que a música traz de alegria ou desassossego. Que o diga a manhã em que o virtuose Isaac Duarte ensaiava um trecho de Mozart no terraço de nossa casa. Ao ouvir aquele sonido, um bando de macacos saguins saído da mata estacou para prestar atenção ao ensaio. Todos os bichinhos atentos, paralisados pelos sons negros e brilhantes do oboé. E para que a história não pudesse ser narrada depois como fábula, o acaso colocou ali, para registro e testemunho, o fotógrafo Laurent Vilbert. No seu Atelier 14, de Nantes, ele deve ter arquivado a foto daquele concerto com audiência tão inesperada.
Música não tem pátria. Nem carece de nomes.
Que importa onde nasceram Bach, Monteverdi, Bela Bartok?
Alguém há de escutar com o mesmo deleite os Préludios de Villa-Lobos nas estepes russas ou num cais de Lisboa. E As labaredas do sertão, do compositor brasileiro Caio Facó, tanto nos leva aos descampados da Síria como às terras mestiças do Cariri dos cangaceiros e fanáticos. No seu The Prince of Venosa – for string quartet, Facó revisita o universo doloroso e estranho do italiano Gesualdo (1561-1613), cujo expressionismo precoce levou-o a ser percebido como gênio da música somente no início século XX. O compositor italiano é tema do documentário do cineasta Werner Herzog. Death for five voices faz-nos visitar o castelo maldito onde, anos após ter assassinado a mulher, Gesualdo compôs mais de 100 madrigais a cinco vozes, enquanto se fazia supliciar por 20 serviçais. Sucumbiu aos maltratos das ‘penitências’ e em torno dele criou-se a “lenda negra” do bruxo cercado de demônios.
Música não necessita de entendimento, nem de ilustrações.
Ouve-se Bach em qualquer parte. Ao ouvi-lo, as estrelas acendem-se um pouco mais sobre nosso teto. Seja na China ou num lugar qualquer de nossa América Latina.
Quanto ao poeta, por mais que se esforce, acaba sempre por perceber que tudo já foi dito ou escrito. Palavras são objetos de segunda mão, tristes, repisadas. A confirmarem o comentário do Eclesiastes: debaixo do sol nada existe que seja novo. É o mesmo sol de sempre. E sem ‘música’ palavras perdem o encanto. Pois já ao nascer foram compelidas a cavalgar sons, a copiar os arrulhos das matas ou o último grito de um bicho pedindo misericórdia. Onomatopeias: para quem precisava se salvar de algum fogo do inferno ou cavalgar a besta-fera da loucura.
A poesia não consegue sobreviver sem música, melodia, andamento. Se o poema não estiver “afinado”, acaba por perder auditório e, aos poucos, o próprio equilíbrio.
Quando poesia dá entrada no século XX, com todos os seus movimentos e apetrechos, a música já havia incorporado até o barulho das guerras e das máquinas. A exemplo das composições de um Stravinsky, de quem Gesualdo, o de múltiplas e estranhas vozes, foi um dos mestres. Tanto que, ao perguntarem ao compositor russo como havia concebido a peça Sagração da primavera, confessa que se imaginara numa trincheira enquanto ouvia o estrondo dos canhões e, ao mesmo tempo, o ritmo dissonante do palpitar de seu coração.
A grande composição musical, ao contrário da poesia, de nada depende. Nem mesmo dos ouvidos de Beethoven, quando ele se pôs surdo. Autônoma, desvenda clareiras da alma, corredores desconhecidos levando a bosques ou a algumas divinas moradas nunca antes percebidas pelos olhos do escutador...
O poeta é carente de música.
Pois música é língua sem fronteiras.
De gramática incerta.
Somente sete notas.
E, de repente, a explosão de um universo.
>> Everardo Norões é escritor, poeta e cronista. É autor de, entre outros, Retábulo de Jerônimo Bosch