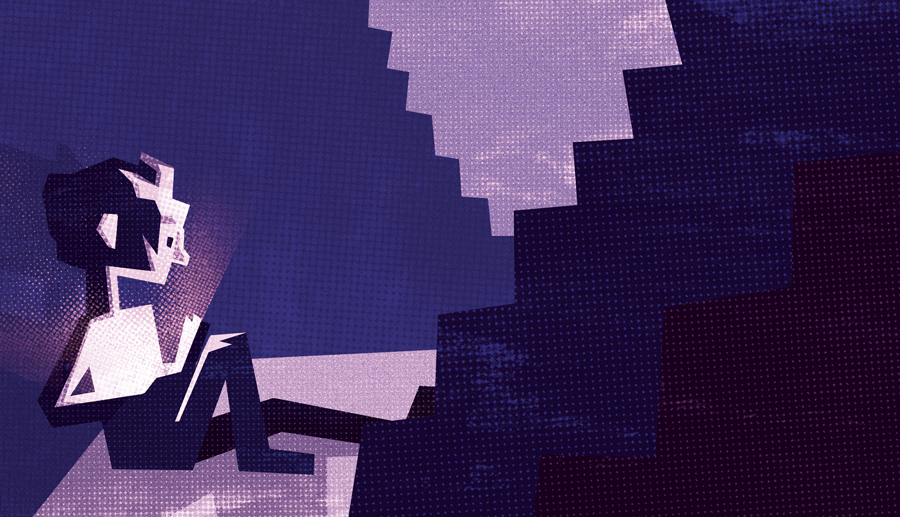
Uma leitora me escreve para, com a doçura dos ingênuos, me perguntar: “Por que o senhor lê?” Pego de surpresa, agarro-me à infância, quando eu lia, antes de tudo, para me esconder. Fui um menino esquivo, que só usava roupas escuras e que se camuflava sob os lençóis para, munido de uma pequena lanterna, mergulhar nos livros. Um desertor — um fugitivo em meu próprio quarto.
Tinha razões para isso. Meus pais repudiavam meu amor pelas palavras e me proibiam de ler à noite. “Você já passa o dia agarrado aos livros, agora durma”. Essa proscrição, contudo, em vez de me afastar da literatura, dela me aproximou. Havia ali uma ameaça, um grande perigo de que pretendiam me poupar. Logo entendi que, naquele risco, abria-se uma via de salvação.
Naquelas velhas papelarias de Copacabana, nem a lanterna me ajudava. Guiava-me pelas capas e, às vezes, pelos títulos. Foi assim que cheguei a Kafka, a Vinicius, a Cortázar e a João Agripino. Descrente, meu pai me advertia: “Vá ao cinema, arranje uma namorada. Chega de livros”. Contudo, em nossa casa não havia livros, só manuais didáticos. Repórter político, meu pai colecionava discursos, e mais nada. Descobri sozinho que, entre uma gramática do professor Cegalla e um poema de Bandeira, um desfiladeiro se cava.
Tive uma relação fracassada com meu pai. Se eu falava, ele não me entendia, tampouco eu decifrava o que ele lutava, com fúria e decepção, para me dizer. Quanto à minha mãe, assolada por uma angústia que nunca cheguei a entender, dela só me ficaram as reprimendas e o desespero, incompreensíveis. De ambos, contudo, me ficou a beleza do esforço cego para o amor. Que é o verdadeiro amor.
Desde cedo, as palavras me escapavam. Vivendo em uma família tensa, em que as palavras não serviam para nada, ou quase nada, salvei-me — sim, posso afirmar que, me salvei — no dia em que abri meu primeiro livro. O Robinson Crusoe, de Defoe que, em certa tarde, roubei da estante de uma tia. Nunca confessei meu crime.
Nunca dei atenção às gramáticas, aos compêndios e aos catecismos que os jesuítas me obrigavam a ler. Livros de asas presas, como pássaros amputados, feitos de palavras que desprezavam a imaginação, eles não chegavam a me erguer a alma. Eram mais um adestramento, e não uma aventura. Ao contrário, logo nas primeiras páginas de Kafka, ou nos primeiros versos de Caeiro, compreendi que só a literatura faz voar.
Só quando caíram nas minhas mãos livros como A metamorfose, O Aleph e O jogo da amarelinha, só quando descobri os poemas de Bandeira, Cabral e Schmidt, de fato comecei a ler. Com eles, a leitura deixou de ser o cumprimento de um dever, com suas respostas fixas, e se tornou um imprevisto, uma tempestade. A literatura me salvou de mim — e ainda salva. E, ao me salvar, me levou àquilo que nunca cogitei ser: eu mesmo.
A leitura, cedo descobri, é uma forma de sonhar. Sempre fui dado a devaneios. Até hoje, com frequência me ausento da realidade para me agarrar a fantasias — para sonhar acordado. Ainda menino, depois de encontrar a palavra em algum lugar, muitas vezes me perguntei se eu não seria um autista. Posso estar em um jantar, em uma reunião de trabalho, ou em uma fila de banco. É frequente, então, alguém me perguntar: “Ei, você ainda está aí”? Nessas horas, custo a aceitar que se dirigem a mim.
Aqui preciso fazer uma confidência desagradável. Depois de uma pane renal, desde março faço hemodiálise. Acalmem-se, pois não é o fim do mundo. Digo logo que, graças ao amparo do doutor Mazza, estou bem, ativo e trabalhando. Afora duas ou três restrições lamentáveis, levo vida normal, e até me sinto melhor do que antes. Contudo, três vezes por semana passo três horas e meia ligado a uma máquina. O que faço? Enquanto a máquina enxágua meu sangue, é evidente que leio. Como perder essa chance de, preso a fios e bandagens, me ausentar através de um livro?
Tenho lido muito. Comecei pelo sonho antigo de ler A montanha mágica, de Mann. Reli muitos contos de Tchekhov, voltei como sempre a Dostoievski, e reencontrei Hermann Hesse — em um retorno feliz ao rapaz aflito que fui. Reli O túnel, de Sabato, Angústia, de Graciliano, e A morte de Ivan Illitch, de Tolstoi, três relatos de que não devemos nunca desistir. Maravilhado, descobri Rosshalde, uma pequena novela que Hesse publicou em 1914, que faz um paralelo torto, mas belo, com minha juventude.
Agora mesmo leio A consciência de Zeno, de Svevo, aventura que sempre adiei. Já estão na fila a releitura do assombroso Aprender a rezar na era da técnica, de Gonçalo Tavares; o novo livro de Sidney Rocha, O inferno das repetições; os poemas de Elisabeth Bishop; os relatos de Arlt; além do interminável Atlas, do mesmo Gonçalo, um livro que deve ser consultado como um oráculo. Quanto mais o leio, mais tenho a impressão de que ainda não comecei a ler.
Os leitores jovens, por certo, reclamarão que desprezo a literatura do presente. Não preciso dizer que o presente, não só para mim, se tornou fragmentário, inconsistente, infernal. A ideia que melhor o define é a do dogma que, a rigor, não passa de uma mordaça — o contrário da palavra. Mesmo entre os mais brilhantes escritores jovens, e afora as grandes exceções — penso em Julian Fuks e em José Luís Peixoto — o fascínio do dogma inebria. Há um desejo constrangedor de não desafinar e não errar. De “ser bom”. Eis o dogma. Até os fugitivos, em nosso tempo, usam uniformes.
Com o planeta doente e as mentes empedradas, entre mortes bárbaras e a miséria nas ruas, dirijo-me ao passado. Dirão que é a velhice, e talvez seja. No ponto da vida em que estou, o tempo se desenrola rápido, como um tapete que se sacode no cosmos. Dele emana apenas uma poeira suja, que talvez se pareça com o sangue. A literatura galvaniza esse mundo em que só a desordem e o secreto — como no menino que fui — podem ser, enfim, a salvação.
Até hoje, quando abro um livro, sinto o mesmo medo que me agitou quando, no fim da adolescência, abri o A paixão segundo G.H, de Clarice. Não era um livro, era um abismo. Nele me lancei com horror e alegria. Desde então, compreendi que a leitura é um salto mortal. A cada frase, é toda uma vida que se joga, sem nenhuma garantia. Eis a beleza de ler, de que a maior parte das pessoas, é verdade, sempre fugirá.