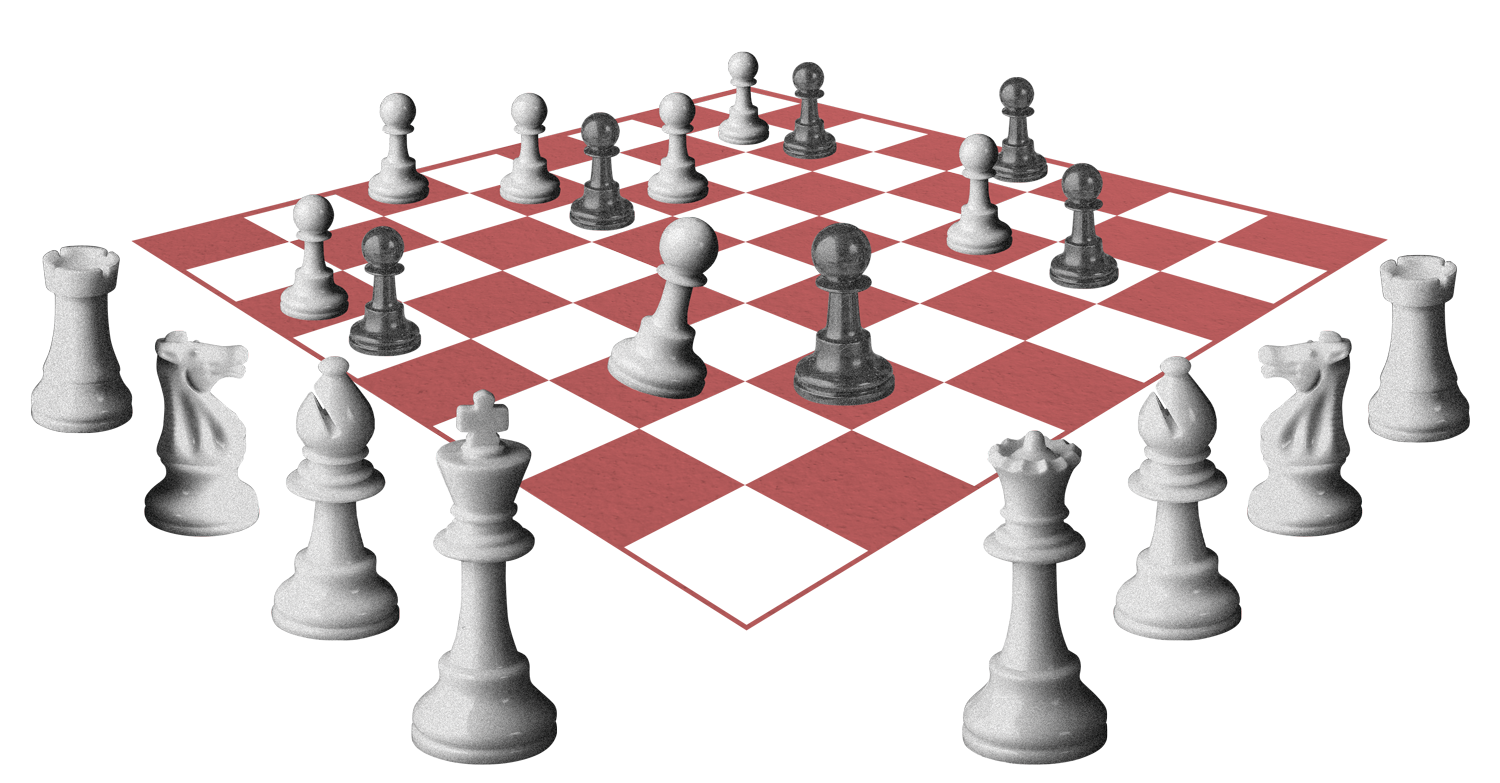
À entrada do mercado, avisto um rapaz muito magro, com o braço direito preso a uma tipoia, esparramado no chão. Ele tenta se erguer, mas, só com o apoio do braço esquerdo, trêmulo, não consegue. Levanta-se e cai, levanta-se e cai de novo. Não desiste, mas não consegue.
“Será que eu posso ajudá-lo?” – pergunto. Estirado no chão, ele franze a cara e me diz: “Cai fora, coroa. Eu faço isso sozinho”. Com uma expressão de asco, e engolindo as palavras, se apoia mais uma vez no asfalto, mas agora, transtornado pela raiva, que se transforma em afobação, esparrama-se mais uma vez.
Continuo a observá-lo, sem saber o que fazer. Sinto compaixão, mas também sinto medo. Logo ele começa a me insultar: “Sai para lá, velho agourento. Me deixa, cacete”. Admito, enfim, que só me resta seguir em frente rumo às minhas compras da semana. Quando atravesso a porta do mercado, ainda ouço seus gritos de fúria e decepção.
Esqueço do rapaz e me concentro em minha lista. Não é muita coisa. Assim que saio, avisto-o de novo, exatamente no mesmo lugar, em sua luta inglória contra o corpo. Agora está deitado em um canto, as pernas abertas e o braço engessado sobre o peito, como uma espada. Será que devo escolher a outra saída?
Decido seguir em frente. Assim que dou dois ou três passos, um casal atravessa a cena empurrando um carrinho de madeira prestes a desmontar. Sacos de lixo reciclável mal fechados balançam sobre ele. Caixas de papelão e restos de lixo tombam conforme o casal avança. O homem, muito alto, veste calça e camisa amassadas e sujas. A mulher usa um bustiê pequeno demais, que aperta seus seios. Fazem o que podem.
O homem da tipoia diz alguma coisa de que o homem do carrinho não gosta. A mulher, que mal ampara uma pilha de caixas, grita: “Sai para lá, vagabundo. Deixa meu marido em paz”. Mas o marido faz um gesto de impaciência e supremacia, e logo ela se cala. “Sai da minha frente”, ele volta a berrar, agora em posição de ataque.
Não sei como o homem da tipoia consegue, agora sim, se erguer. Cambaleia, mas enfim se mantém de pé, embora seu peito de lutador esteja murcho e exiba mais costelas do que músculos. “Você não pode me tirar daqui”, diz, tentando erguer o queixo. “Você não é dono do mercado”. E começa a cuspir.
O outro decide apostar em um discurso de empreendedor. “Eu estou aqui dando duro, empurrando essa tralha, e você aí com a cara cheia. Não venha mexer comigo”. Continuo a observar. Não passo de um espectador inútil. Acompanho tudo, como se estivesse no teatro. Não deixa de ser um teatro. O que me impressiona é a diferença com que os dois homens desempenham o mesmo papel.
“Vai ficar aí parado? Cai fora”, grita o homem do carrinho, com uma arrogância de proprietário. Como se o outro estivesse invadindo suas terras, quando tudo o que tem é aquele carro torto, entulhado de dejetos. O homem da tipoia não se dá por vencido: “Você não manda na rua”. É um estacionamento aberto, sem cancela, que se confunde com um terreno baldio.
Agora, só agora, noto a mulher que, em silêncio, se esconde entre os sacos de lixo. Está assustada, não só com o homem da tipoia, mas com a soberba do marido. Com sua fúria. Parece desconhecê-lo. “Melhor a gente cair fora”, ela sugere. Em seu rosto, o cansaço se mistura com o temor.
“Não vou fugir de um merda”, o marido diz. Aumenta o tom de voz: “Um Zé Ninguém não vai mandar em mim”. Sinto compaixão e pena do homem da tipoia, que mal consegue se manter de pé, mas sinto também uma mistura de perplexidade e dor vendo o outro homem comportar-se como quem ele não é.
“Eu preciso trabalhar. Sai da minha frente”, o homem do carrinho esgoela-se. O outro não se move e eu também não me movo. A cena se paralisa – à espera de quê? Só agora percebo que quatro vira-latas muito magros rondam o carrinho. A tristeza se derrama também sobre os cachorros, que cheiram o chão sem convicção, sabendo que ali nada encontrarão para comer.
Preciso fazer alguma coisa para libertá-los desse script deprimente. Não só deprimente, mas infecundo. Dois derrotados se batem, não para vencer, mas para descobrir quem perde menos. Enquanto isso, famílias passam ao fundo com seus carrinhos cheios de compras. Automóveis da moda manobram no pátio. Os dois homens lutam uma luta que não é deles. Batem-se para ver quem disfarça melhor a própria desgraça.
“Vocês sabem onde fica a saída?” – eu pergunto, em um impulso. Os dois me olham perplexos, pois estamos justamente na porta do estacionamento. Olham-se espantados. Enfim, o homem do carrinho diz: “Está bem nas suas costas. O senhor é cego?”.
Talvez meu teatro da cegueira possa salvá-los de si mesmos e de sua tristeza. De seu engano. Talvez os leve a deixar a briga de lado para dirigir sua fúria contra mim que, se olharem bem, estou mais próximo do papel de verdugo. “Ah, é verdade”, só me resta dizer. E, de forma mais degradante ainda, pergunto: “Vocês têm horas?”.
Meu relógio – barato, mas escandaloso – cintila em meu pulso. “Velho louco”, a mulher não se contém. “Melhor a gente cair fora”. Então, o homem do carrinho se esquece do outro, avança em minha direção, e grita: “Que merda o senhor está querendo?”.
Também o homem da tipoia concentra seu olhar em mim. Ficamos parados, em um silêncio fúnebre. Nada mais me ocorre a dizer, embora eu procure as palavras com a fúria de um perdigueiro. Antes que avancem sobre mim, ergo minhas sacolas e dou meia volta. “Velho babaca”, grita o homem do carrinho. “Vai para casa cochilar”, o outro debocha. Suas gargalhadas se misturam ao vento da manhã.
Já bem mais à frente, tomo coragem e olho para trás. Os dois ainda riem de mim, com escândalo e alegria, e dizem palavrões. “Velho sonso”, um deles grita. A mulher solta gargalhadas estridentes, como facadas. Hipnotizados por minha estupidez, divertindo-se muito, eles se esquecem de suas divergências. Talvez estejam prestes a se abraçar. Quanto a mim, volto para casa com o sentimento de que, afinal, fiz alguma coisa de útil. Mas é tão pouco.