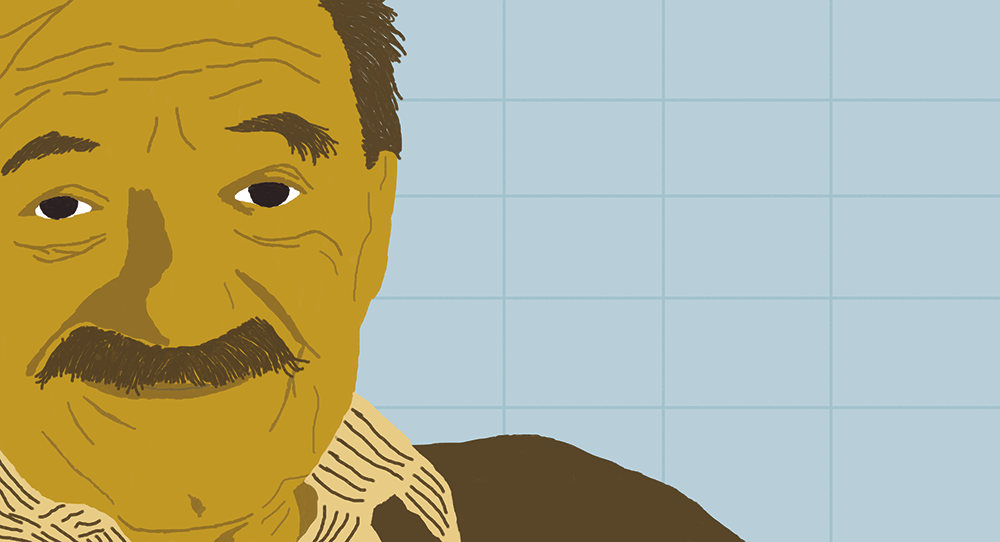
Passo alguns dias em Buenos Aires para entrevistar Bioy Casares e Ricardo Piglia. Na volta para casa, ainda paro em Montevidéu para uma conversa com Mario Benedetti (1920-2009). Dos três, admito, Mario é o escritor que menos me interessa. Afora A trégua, que até hoje releio com emoção, não tenho grande afinidade com seus escritos.
Também Benedetti parece cansado, ou talvez entediado. Caminha para os 80 anos. Faz, sim, um comovente esforço para me receber. Talvez esteja adoentado, penso. Talvez deprimido. Oferece-me uma xícara de chá. Espera, observa, suspira. Pergunto-lhe obviedades, como sua relação com a esquerda uruguaia e seus anos de exílio em Cuba. Não passo de um repórter tolo, que não se livra da repetição e não se arrisca. Ele percebe isso e seu desgosto aumenta.
Não sei por que meu editor considera a entrevista com Benedetti a mais importante de minha viagem de trabalho. E, no entanto, nosso diálogo é um desastre. Enquanto me responde, Mario coça o rosto, fala baixo, boceja. Temo que, a qualquer momento, pegue no sono. “Como pode suportar uma entrevista tão medíocre?”, eu me pergunto.
Na viagem de barco entre Buenos Aires e Montevidéu, reli O lobo da estepe, de Hermann Hesse. Um livro que, desde a adolescência, me atormenta. E que, por algum motivo, sempre acho que não entendo muito bem. A insuficiência – o sentimento de que algo me escapa – me leva a relê-lo. Enquanto o ferry atravessava o Rio da Prata, leio justamente o trecho em que Harry, o Lobo da Estepe, sonha que entrevista Goethe.
Possuído pelo mesmo desgosto que me paralisa, o repórter Harry acusa o grande Goethe de insinceridade. Olho para Benedetti e recordo o sonho de Harry. Desanimado e solene, também Mario me parece um homem falso. Sinto pena dele, pois não deve ser fácil carregar a máscara do “grande escritor”, ainda mais diante de um repórter exausto e despreparado como eu. As obrigações contratuais, os protocolos, a vaidade o obrigam a continuar. Mas a entrevista não avança. As grandes revelações, tão esperadas por meu editor, não surgem.
Em um momento de raiva e de grosseria, por desespero, por cansaço, decido encarnar Harry. “Será que o senhor e eu estamos em um atoleiro? Será que não percebe que apenas me suporta?”, eu lhe digo. Benedetti estufa o peito, fica vermelho, espreme os dentes. Poderia ser um lobo, prestes a dar seu bote e, logo depois, uma dentada sangrenta. Mas é um cavalheiro e se contém.
“Por que você não volta para seu hotel e copia as entrevistas antigas que já dei?”, ele debocha. Disfarça a fúria com um sorriso paternal. Só falta me afagar a cabeça. “Por que ainda tenho a esperança de que o senhor deixe de ser o grande Benedetti e se comporte só como Mario?”, eu o desafio. Já não sou eu quem falo. Dentro de mim, o Lobo da Estepe discursa. Talvez eu tenha engolido o livro de Hesse. Talvez carregue Harry dentro de mim.
Indiferente a meu ataque, Benedetti comenta: “Você parece nervoso. Tem trabalhado muito?”. Sua gentileza me desarma. Ergue-se, vai até uma estante e pega uma pequena escultura. A imagem de um pássaro com as asas abertas. Exibe-a com orgulho, quase a esfrega em minha cara, e diz: “Veja esse pássaro. Ele tem sempre as asas abertas, parece em pleno voo, e, no entanto, não sai do lugar.”
Sei que sou o pássaro que se debate sem se mover. Sei que ele me acusa. Depois recua, abre um sorriso malicioso, quase erótico. Irá me devorar? “Não vim entrevistá-lo para ouvir lições de vida”, gaguejo, agonizante. “Até quando o senhor usará sua máscara?”. E agora, claramente, enquanto Benedetti ocupa o lugar de Goethe, é Harry quem fala por mim. Pergunto-me, então, o que aconteceria se ele tirasse sua máscara. “Talvez surja enfim o homem”, ouso pensar, certo de que me expulsará aos chutes. Mas não: Mario não se abala.
Volta para a poltrona, larga o pássaro de bronze sobre a mesa de centro, me encara. “Quisera ter sido como você”, ele me diz, com uma voz melodiosa e tensa. “Fui um rapaz tímido, sempre me preocupei em ser quem eu não era”. Não sabe que fala por mim, porque fui – porque sou – exatamente assim. Tenho a impressão de que logo começará a chorar. Em vez disso, volta até a estante e traz um livro. Um exemplar de A borra do café, lançado pouco antes. Pega uma caneta e faz uma dedicatória. “Ao José, com o abraço de Mario Benedetti.” A máscara ainda não caiu.
É tudo muito breve e ríspido, logo retomamos o script de nossa entrevista. Agora algo funciona melhor, embora não seja grande coisa. Faço perguntas, ele responde. Somos educados e sensatos. As máscaras começam a esgarçar. Até que, em dado momento, já não sei o que pergunto. Exausto, envergonhado, peço para usar o banheiro.
Depois de trancar a porta, perfilo-me diante do espelho. Também eu, que mal passei dos 40 anos, carrego um semblante falso. E ele me pesa. Não senti nada parecido no apartamento de Bioy Casares. Nada assim quando estive com Piglia em um café. Algo em Benedetti me desmascara. Ainda apalpo a testa, espremo as bochechas, tento acordar. Tento, talvez, arrancar a máscara, mas ela não desgruda. Ela sou eu. Destruído, volto à sala, para me despedir.
“Fique mais um pouco”, ele me surpreende. “Tomemos outro chá”. Aceito, nem sei por quê. Agora, Mario está em silêncio. Sinto sua respiração. Ou será a minha? Somos dois atores esgotados. Nossos figurinos nos pesam. O script do mundo literário nos destrói. Observo-o e começo a sentir uma grande bondade em seus olhos. “Por que me suporta?”, eu me pergunto. A bondade se acentua em seu rosto. Ele me entende ou, pelo menos, me aceita. O que, vindo de Mario Benedetti, não é pouco.
“Você não precisa se esforçar para ser um lobo”, enfim ele me diz. É claro que leu o livro de Hesse. É claro que se lembrou de Harry, e mais: viu Harry em mim. Mas não dou o braço a torcer. “Não sei do que o senhor está falando”, ainda ouso. Mario ri. Torna-se um pai afetuoso que suporta o fracasso do filho. Já não resisto mais: aceito o lugar que ele me destina e sorrio também.
No hotel, pergunto-me como uma situação tão lamentável pode se tornar tão benigna. Como o mal pode ser uma bênção.