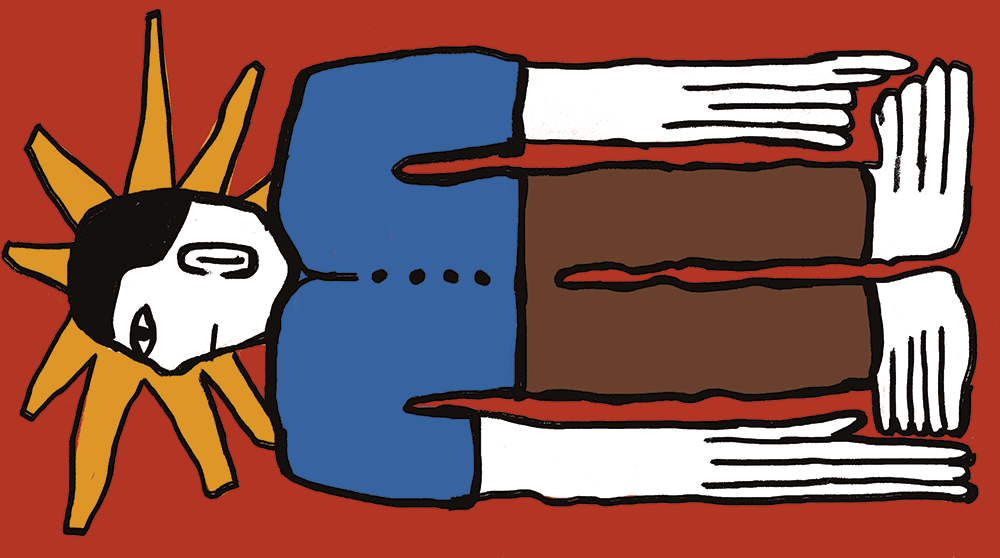
Quando eu era menino, preso à rotina dos jesuítas, amarrado ao calendário de sermões, sabatinas e orações, tinha o sentimento de que o tempo não se movia. Meu corpo crescia, os hormônios ferviam em meu interior, tudo se agitava, mas nada saía do lugar. Sem saber, eu vivia a experiência precoce da Eternidade.
Aos 14 anos, tentei ler A história da eternidade, de Borges, numa edição de bolso que ainda hoje guardo. Tropecei, porém, em meu despreparo. Mais ainda, em meu medo. Pouco depois, nas aulas de Filosofia de Lélia Gonzalez, cheguei a Heráclito de Éfeso e à sua ideia do movimento contínuo, que não pode ser detido.
Nos Fragmentos cósmicos, esbarrei com seu pensamento célebre: “Para os que entram nos mesmos rios, afluem sempre outras águas”. A frase me encheu de esperança, mas minha realidade de menino a desmentia. Era sempre nas mesmas águas sujas — de sinetas, alarmes e castigos — que eu mergulhava.
Já tinha 16 anos quando perdi minha avó materna, Iracema Guimarães. Estava bem, pegou uma gripe tola. Chamaram o rapaz da farmácia para lhe aplicar uma injeção antigripal. Ele ainda apertava um naco de algodão contra seu braço quando ela, só com um suspiro — que a início tomamos como um espirro — faleceu.
Já adulto, e apaixonado por Franz Kafka, detive-me em um dos relatos de seu caderno de sonhos. “Sonho do encerrado”, assim é conhecido. Descreve Kafka: “Acordei encerrado num quadrado formado por uma cerca de madeira e que não permitia dar mais do que um passo para cada lado”. Compara sua situação à de uma ovelha, presa, durante a noite, em seu engradado. Animaliza-se para ser.
Termina Kafka: “O sol batia direto em mim, e para proteger a cabeça baixei-a junto ao peito e ali fiquei encolhido”. O assombroso é que, mesmo espremido entre tábuas, ele conseguiu se mover. Não fez isso levado pelo desejo de se libertar, ou para fugir de algum algoz. O movimento com a cabeça lhe veio pela via do acaso. Veio de onde menos esperava, veio do sol.
O acidente, o aleatório, o acaso, guardam uma energia ainda mais explosiva do que nossas humanas intenções. Não foi assim quando, por causa de um vírus desconhecido, passamos a usar máscaras e nos trancamos em nossas casas? Dias antes, horas antes, quem poderia prever esse destino?
Há um mês, ao lado da psicanalista Hena Lemgruber, leio o Torto arado, de Itamar Vieira Junior. Lemos em voz alta, nos revezando, em mais uma edição do projeto Extremos. Também no romance de Itamar o acaso e o imprevisto, sem piedade, imperam. As grandes guinadas do destino, para o bem e para o mal, vêm de onde menos esperamos. O susto rege a existência.
Em nosso encontro mais recente, Hena — que é uma leitora atenta e sábia — lembrou de um ensaio precioso, Sobre a transitoriedade, que Sigmund Freud publicou em 1916. Acompanhado de dois amigos, Freud caminha pelo campo. Um deles é Rainer Maria Rilke. Ao poeta perturba a ideia de que toda a beleza que os cerca, com a chegada do inverno, logo desaparecerá. A constatação dolorosa da finitude o leva a roubar o valor das coisas presentes.
Medita Freud, então, a respeito da transitoriedade, que é muito mais poderosa do que nossos desejos — e também, penso eu, do que nossos temores — de permanência. Reflete, ainda, sobre nossa revolta contra as perdas e contra o luto. Dois anos antes, começara a Primeira Grande Guerra — tragédia que deixou a Europa de pernas para o ar. No coração da guerra, Freud é levado a pensar, ainda, na fragilidade humana. Talvez fosse isso — a penúria extrema do ser — que Rilke não conseguia aceitar.
Mas veio o fim da guerra, e veio o alívio. Contudo, duas décadas depois, outra Grande Guerra, ainda mais terrível, começaria. Quando Hena Lemgruber recordou o ensaio de Freud, fazia o luto pela perda de sua psicanalista, Leda Guimarães, uma mulher de luz e coragem que falecera, dias antes, na Bahia, onde nasceu. Guimarães, como minha avó Iracema.
A morte de minha avó, aliás, remete a outro sonho, dessa vez um sonho de Sigmund Freud, que ficou conhecido como o “Sonho da injeção de Irma”. Um sonho que Freud teve no ano de 1895, enquanto dormia em um castelo nas cercanias de Viena.
Uma mulher chamada Irma apresenta manchas na boca. A pedido de Freud, um amigo, M., lhe aplica uma injeção. As circunstâncias aqui não vêm ao caso, mas, graças a ele, Freud descobriu que os sonhos materializam desejos secretos. Mais uma vez — e agora não mais como desastre, mas como revelação —, é do acaso que surgem as grandes reviravoltas.
Meu paciente leitor deve se perguntar por que costuro tantas lembranças. Todos sabemos o quanto, nós também, estamos hoje presos em um mundo imóvel no qual, apesar das atrocidades e da dor, nada parece se mover. Temos a sensação arrepiante de nos banhar, sempre, nas mesmas águas sujas. Porém, como viu Heráclito, já são outras as águas em que mergulhamos.
O acaso — que Itamar Vieira Junior capturou com perícia em seu romance — continua a se agitar sob o pântano imundo. Em um breve ensaio sobre a fragilidade, o escritor francês Jean-Claude Carrière — que faleceu no último fevereiro, em Paris — nos diz: “Só o vivo nos fala de perto. Para nos dizer, ainda e sempre, que ele se quebra”.
É nessa ranhura que se esconde a morte, mas também a esperança. Aqui, sob nossa realidade de vidro, se guarda o transitório de que Freud falou. Aqui receberemos, de repente, a mesma injeção que, aplicada em Irma, levou Freud a acordar e um mundo antigo a desaparecer. Foi preciso, também, a perda de Leda para que Hena voltasse ao escrito freudiano. E, com ele, encontrasse um caminho que não esperava.
Esse é, ainda, o meu caso. Pisando em um mundo de gelo, sei que, de repente, um breve facho de sol — como no sonho de Kafka — pode surgir para rachar o chão. E, assim, iluminar o que não consigo ver. Tendemos, hoje, ao desespero, à tristeza, ao luto contínuo. A barbárie e a estupidez nos cercam — como envolveram Franz Kafka, tal qual uma ovelha triste, em seu cercado. Mas sob nossos pés, frestas invisíveis se desenham. Algo se move, sempre. E nem os estúpidos conseguirão impedir isso.