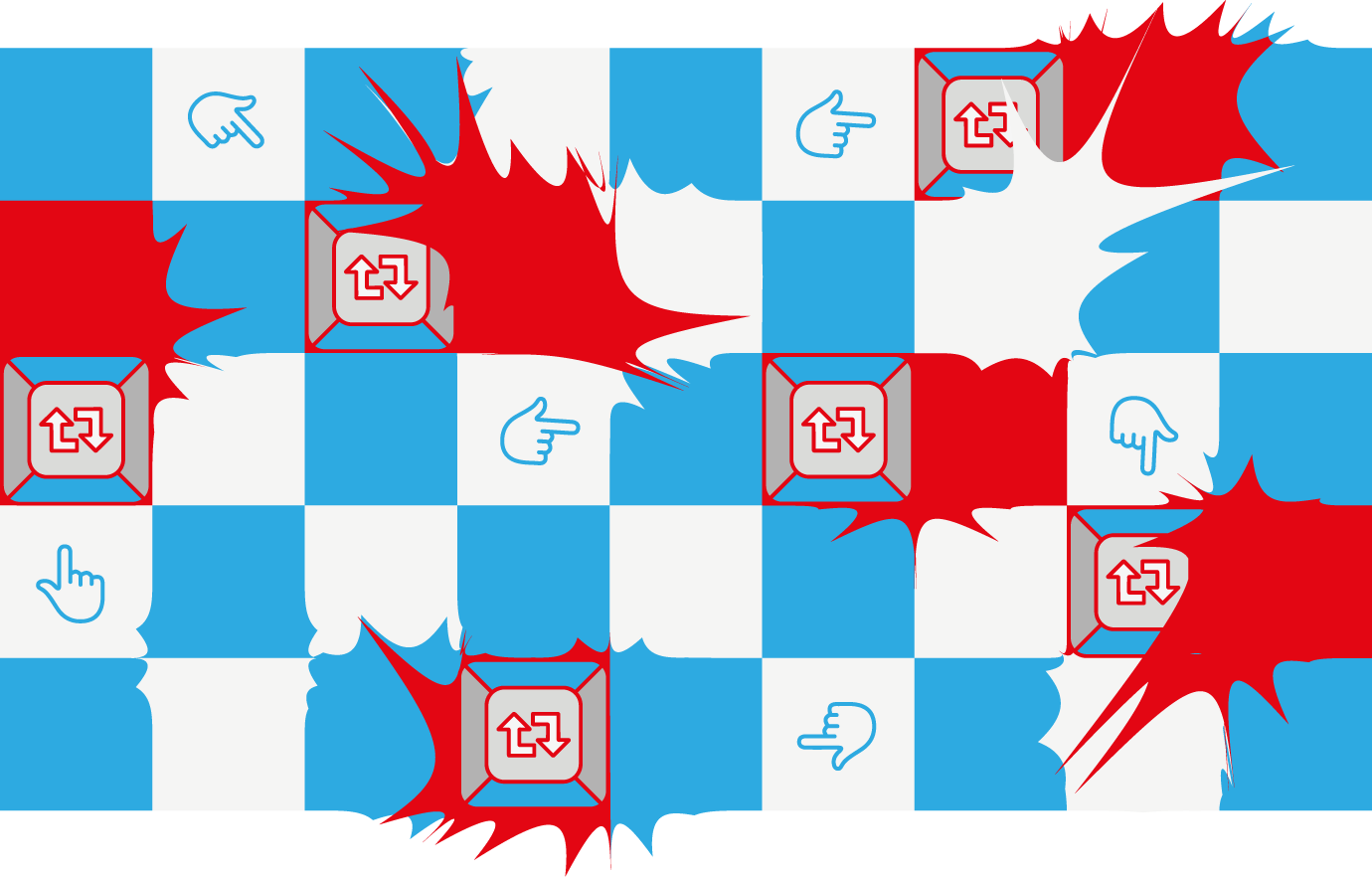
Com a pandemia de covid-19, uma ideia se instalou no centro de nossas vidas: a da contaminação. Um vírus — um pequeno vírus, invisível, mutante, insidioso — controla nosso cotidiano. Ele pode estar em qualquer lugar. Nem mesmo os cientistas conseguem dizer, com segurança, o que ele é. Achamos que o perigo se esconde em um lado, mas ele está em outro também. A existência humana se tornou instável e perigosa. Viver, agora, é um risco.
A covid-19 é, porém, apenas a manifestação mais gritante de uma realidade muito maior. De algo que se espalha por todos os lados, se infiltra em todas as frestas e nos aprisiona. Vivemos hoje em um mundo que se define pela ideia da contaminação. Essa ideia, aliás, se tornou o tema de abertura da série Diálogos Imprevisíveis, criada por mim e pelo músico e especialista em leitura Flávio Stein. Trata-se de uma série de debates pela plataforma Zoom sobre temas contemporâneos, iniciada no mês passado, em parceria com o Instituto Estação das Letras.
Impossível pensar no contemporâneo sem pensar, ato contínuo, em um vírus. Em uma multiplicidade de infecções. Mas não é só o vírus que se infiltra, que se disfarça e nos domina. Muitas outras pandemias se multiplicam. A brutalidade, a intolerância, o ódio, a negação da cultura e da arte, o fanatismo, a violência se tornam elementos cruciais da vida contemporânea. Eles contaminam nosso presente e ameaçam a própria sobrevivência do humano.
O escritor Joca Reiners Terron — que foi, ao lado do físico e filósofo da natureza Marcelo Gleiser, um dos convidados do primeiro encontro do projeto Diálogos Imprevisíveis — me ajudou a lembrar de William Burroughs, o poeta norte-americano, para quem a própria linguagem se tornou um vírus. Ao contrário da covid, contudo, a linguagem não é algo externo, não é uma ameaça que devemos combater, ou contra a qual temos que nos vacinar e nos proteger. A linguagem está dentro de nós e, mais ainda, é algo que nos constitui. Nós somos a própria linguagem. Nós somos o vírus.
Os jovens se empenham para que suas publicações, posts e fotografias “viralizem” nas redes sociais. Isto é, para que elas se espalhem rapidamente, se propaguem e se multipliquem. Para que elas nos contaminem. Na expressão “viralizar” se guarda uma visão positiva da contaminação, que passa a ser vista com uma vantagem e como um alimento.
Do lado oposto, os ambientalistas lutam contra todas as formas de poluição — o contágio e a disseminação de detritos, de venenos, de sujeiras, que promovem a degradação e a destruição. Ela é, assim, promotora não da vida, mas da morte. Um processo de contaminação letal, que ameaça não apenas o humano, mas todo o planeta.
É entre as ideias antagônicas de letalidade e da vivificação que a noção da contaminação se difunde. De um lado, a pandemia nos faz pensar na contaminação como propagação, como infecção, como praga. O que nos leva à ameaça, cada vez mais aterrorizante, do surto e, em desdobramento, da morte. De outro lado, a contaminação nas redes sociais aponta para a difusão, a reprodução e a multiplicação de palavras e imagens. Aponta para a vida.
A contaminação se passa de modo despercebido. Ela nos pega desatentos e distraídos. Quando nos damos conta, já estamos contaminados — o que se comprova num exame de laboratório, ou num aferidor de audiência. É discretamente, em segredo, de forma impalpável e imperceptível que somos “tomados” pelo vírus. O vírus não tem cara. Não sabemos ao certo onde ele está. Não tem aparência: ele é quase imaterial.
O vírus se define por ser dissimulado e por usar várias máscaras e disfarces. Define-se pelo fingimento e até pela hipocrisia. E aqui é inevitável pensar em outra praga: a das fake news. Movidas por uma concepção autoritária e fascista do mundo, quando nos damos conta elas já se alastraram, já se propagaram e se tornaram uma epidemia. As fake news se espalham com as mesmas estratégias dos piores vírus. Em segredo, agentes invisíveis e computadores camuflados “disparam” uma sucessão enlouquecida de notícias falsas. Pela força da repetição, elas se tornam “verdadeiras”. E ninguém sabe mais o que é a verdade.
Contra a contaminação, pensamos logo em dois recursos: a perseguição e o extermínio. Os cientistas perseguem o vírus da covid-19 — tentam entender onde ele está, como se propaga, como se disfarça. Planejam seu extermínio, seja com vacinas, eventuais medicamentos, ou com a imposição de medidas sociais como o isolamento e a obrigatoriedade de máscaras.
Contudo, imperceptível e traiçoeiro, o vírus também nos persegue. Basta pensar na difusão enlouquecida do ódio como sentimento central do contemporâneo. Ele se infiltra onde menos esperamos, se impregna no cotidiano, se alastra. Quando damos conta, o ódio está até mesmo dentro de nós. É através dessas estratégias secretas que o vírus nos impõe seu domínio. Envolvidos com nossos afazeres, nada percebemos. Levamos nossas vidas, desatentos e distraídos, até que nos damos conta de que ele já se instalou em nossos corações.
É por isso que contra o vírus se erguem sistemas de controle, de vigilância, de fiscalização. No campo da saúde, sistemas inteiramente necessários e até vitais. Mas quando o vírus não é material, quando ele é ideológico, esses procedimentos de resistência se convertem, muitas vezes, no desejo insano de regimes políticos fortes, de repressão sistemática, de brutalidade. E se materializam, na vida diária, na difusão da intolerância e do ódio.
Tudo se torna mais difícil porque a contaminação se caracteriza pela mutação. Inconstância, instabilidade ou oscilação nos colocam em uma atmosfera cada vez mais persecutória e ameaçadora. As formas de contaminação são ecléticas, versáteis e polivalentes, de tal modo que nossas defesas são constantemente enganadas. Espalha-se, com isso, o sentimento de desproteção. Na era da contaminação, nunca nos sentimos tão sozinhos.