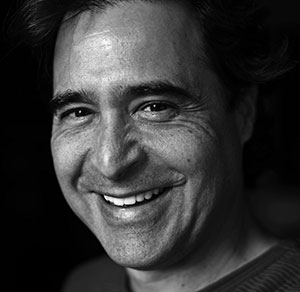
Ludo foi, desde sempre, uma portuguesa introvertida. Já no primeiro parágrafo de Teoria geral do esquecimento, novo romance do angolano José Eduardo Agualusa (que a Foz lança no Brasil em novembro), o narrador nos chama a atenção para um trauma em seu passado de menina. Um incidente misterioso que a condena a uma solidão quase definitiva. Ainda moça, contra a vontade, Ludo se vê obrigada a viver com a irmã e o cunhado em Angola, país que não aprecia nem respeita. Lá, em 1975, o destino se mostra ainda mais caprichoso. Durante os conflitos da independência, após o sumiço do arremedo de família que lhe coube, a moça, assustada com a violência dos acontecimentos políticos, decide se emparedar no apartamento vazio. Na rua, a vida continua, as décadas escoam. Luanda e vários outros personagens do romance passam por transformações extremas. Ludo espera, envelhece, alimenta um diário e observa o mundo girar a partir do seu terraço. Mas tudo o que deseja é esquecer e ser esquecida.
É sobre memória que Agualusa fala na entrevista abaixo. E também sobre colonialismo, João Cabral, Chico Buarque, telenovelas brasileiras, osgas, política e kuduru. Diretamente de Lisboa, o autor comemora o intercâmbio cultural crescente entre África e Brasil e revela o que gostaria de ver — e ler — quando olha para o céu português.
Uma das frases que mais chama a atenção do leitor de Teoria geral do esquecimentoé esta: “Um homem com uma história é quase um rei”. Quantas histórias você tem?
José Eduardo Agualusa — Cresci num ambiente em que ter uma boa história para contar era importante. Mais tarde compreendi que saber contar é ainda mais importante. Naquela época, ao menos entre as crianças, era realmente assim. O rei era aquele que tinha as melhores histórias. Talvez porque no Huambo, nos anos 60, ainda não tivéssemos televisão. Desde então eu recolho histórias, e depois reinvento-as. Ou reinvento-as com tanta convicção que me convenço de que realmente as recolhi algures.
A certa altura do diário de Ludo, lemos: “No erro me encontro muito. Algumas páginas são melhoradas pelo equívoco”. O seu modo de trabalhar, de escrever, tolera o erro?
Errar é fundamental. Por exemplo, agora que comecei a ver mal ao perto, a vida tornou-se muito mais interessante. Ao ler um jornal, sem óculos, descubro prodígios em quase todos os parágrafos. Imagine quando eu começar a ver mal ao longe. Tenho um enorme respeito pelo erro.
Precisando de fogo, Ludo queima sua biblioteca. E queimando livros, incendeia cidades. Com os de Jorge Amado, queima Salvador e Ilhéus. Com os de Joyce, destrói Dublin. Com Cabrera Infante, vai-se Havana. Você gosta de pensar que existe uma Luanda que os leitores do resto do mundo só conhecem por seu intermédio? Construir uma Angola literária faz parte do seu projeto?
Os escritores, já se sabe, não copiam a realidade — reinventam-na. A minha Luanda só existe nos meus livros, embora receba com frequência mensagens de leitores que a julgam reconhecer na realidade. Tomo isso como um elogio, claro, embora tenha consciência de que a Luanda real é infinitamente mais competente no sonho e no desvario do que eu. Não existem muitos escritores angolanos com presença noutros países. Tento esquecer-me disso para poder escrever. Como já disse noutra ocasião, escrever exige certa irresponsabilidade. Construir mundos convincentes, ainda que totalmente imaginários, faz parte do projeto de qualquer escritor.
Um de seus personagens, Monte, ao integrar um grupo de teatro amador no Huambo, compreende as injustiças do sistema colonial a partir da obra de João Cabral e Chico Buarque — no caso, a canção “Funeral de um lavrador”. Isso — essa influência do poeta e do músico em seu modo de pensar a política angolana — é algo que aconteceu também com você?
Sim, assistindo à montagem dessa peça. Minha mãe era professora de português no Liceu do Huambo. Ela gostava muito de teatro e ajudou a fundar um grupo, com estudantes, alguns dos quais politicamente empenhados. Uma das peças que encenaram foi Morte e vida severina. Assistir à montagem da peça impressionou-me muitíssimo. Foi um deslumbramento e ao mesmo tempo uma revelação. De repente eu comecei a olhar para o que estava ao meu redor — e a ver! A injustiça colonial era uma evidência, mas eu não a via.
Num trecho de seu romance, o poeta Vitorino Falcão diz: “Nós somos o coro grego. A voz da consciência nacional. Estamos aqui, na penumbra, comentando o progresso da tragédia. Lançando alertas que ninguém escuta”. No Brasil, tornou-se comum discutirmos a influência que pode ter um livro, um autor, ou um romance na vida prática de cada indivíduo, ou mesmo no destino da nação. Em Angola, um livro consegue interferir politicamente ou apenas acompanha e comenta os acontecimentos? O que você pretende ao escrever sobre a história recente de seu país?
Gosto de pensar que sim, que os livros ainda têm o poder de produzir debate, e que são, portanto, transformadores. Os bons livros são sempre revolucionários porque nos confrontam com as nossas certezas, nos fazem pensar. Em Angola os livros chegam a uma percentagem ínfima da população — como, aliás, no Brasil. Embora os políticos leiam pouco, algumas das pessoas a quem esses livros chegam ocupam cargos de responsabilidade. Talvez os meus livros possam incomodá-los. Espero que sim. Por outro lado, são lidos por jovens, sei isso porque recebo mensagens de alguns, e nesse pequeno meio provocam debate. Os livros não são granadas, claro, são mais como vagalumes perdidos na noite, mas ainda assim iluminam a escuridão.
Em outro trecho do livro, Monte sofre um acidente envolvendo uma antena parabólica. A antena permitiria que sua mulher, desligada das questões políticas, assistisse às telenovelas brasileiras de que tanto gostava. Durante todos esses anos de conflito em Angola, que papel desempenharam essas produções da TV brasileira? O que representavam para o povo angolano?
Creio que eram como janelas abertas para um mundo muito próximo do nosso e, no entanto, tão diferente. Acredito que as novelas possam ter contribuído um pouquinho para algumas mudanças de mentalidade. A sociedade angolana consegue ser ao mesmo tempo muito conservadora e bastante liberal, sobretudo em comparação com outros países africanos. Talvez as novelas tenham ajudado a manter uma certa abertura, num período de retraimento. Digo isto, ouvindo as correntes mais conservadoras da sociedade angolana a criticarem as novelas brasileiras por corromperem a moral da juventude etc. Aquilo a que os fascistas chamam corrupção quase sempre é revolução. Parece-me um tema a merecer um estudo mais cuidado.
O Brasil parece pouco pensar em Angola, embora nossa música e um escritor como Jorge Amado sejam muito queridos por lá. Lendo o seu romance, vejo que os personagens Baiacu e Diogo fascinavam os estrangeiros, na rua, com apresentações de kuduru, ritmo que só muito recentemente chegou aos brasileiros — hoje já é até tema de abertura da novela Avenida Brasil. Você acha que isso é um sinal de mudança, que o intercâmbio cultural entre nossos países pode estar aumentando?
Sim, com toda a certeza. Estamos a viver um extraordinário momento de viragem. As novas tecnologias vêm democratizando também as relações culturais entre os diferentes países. A lusofonia — palavra horrorosa — é hoje horizontal. Curiosamente, a literatura até tem feito mais do que a música nesse movimento de reaproximação e reconciliação do Brasil com a África. Nesse processo de redescoberta. Há dez anos não havia escritores africanos presentes nas livrarias brasileiras. Muito menos nos eventos culturais. Hoje, é raro o festival de literatura, a feira do livro, que não tenha entre os convidados, escritores africanos. Isso acontece porque existe uma demanda, uma curiosidade, e o mercado vai ao encontro dela.
Num diálogo entre Ludo e Carrasco, ela diz que devemos praticar o esquecimento; já ele crê que esquecer é o mesmo que morrer, que render-se. De que lado você fica?
Estou entre os que preferem lembrar. Respeito, contudo, os argumentos daqueles intelectuais, como o Mia Couto, meu amigo, que defendem as virtudes do esquecimento em países como os nossos, saídos de prolongadas guerras civis, e nos quais, ao menos nas zonas rurais, predomina a convicção de que a recordação pode acordar nas pessoas os espíritos do mal. Acredito no contrário: que é preciso discutir para compreender e perdoar.
Já o ouvi confessar que é um homem muito esquecido, e que escreve diários para que a realidade não lhe escape. Esquecer-se é algo comum no seu dia a dia? Quando você consulta seu diário, redescobre algumas histórias como se fossem novas, ou mesmo invenções ficcionais? E, mais importante, você acredita em tudo que escreveu em seu próprio diário?
Sim, infelizmente. Por outro lado, talvez o esquecimento favoreça a imaginação. Tendo a preencher os espaços vazios com a ficção. Leio o meu diário muitas vezes com o sentimento de que estou entrando numa casa alheia. Já não me reconheço em muitos daqueles episódios. Encontro algumas ideias boas, que reaproveito, como se as estivesse a roubar de outra pessoa.
Os versos escritos por sua personagem Ludo foram encomendados à poeta brasileira Christiana Nóvoa. Como foi essa parceria?
A Christiana apareceu no lançamento de um dos meus livros. Ofereceu-me uma folha — uma folha real, de árvore — com um haikai, e o endereço do blogue poético dela (www.novoaemfolha.com). Fiquei curioso, fui espreitar e o que descobri maravilhou-me. Ainda hoje não entendo como uma poeta tão pronta, tão competente, tão original, continua inédita. Mistérios da poesia. Pedi-lhe para escrever esses versos para a Ludo, porque me convinha a concisão dela, e aceitou. Repare, a minha personagem busca a concisão por necessidade. Ela termina escrevendo haiku porque tem muito pouco espaço para escrever. Não tem mais paredes onde escrever. Ela começa prolixa e termina concisa.
Você morou no Recife no final da década de 90. A cidade, de alguma forma, o fazia lembrar de Angola? Como ela o influenciou como autor?
Olinda, sobretudo, me fazia lembrar alguns bairros antigos de Luanda. Me fazia lembrar Benguela, a cidade mulata. Continuo amando muito Olinda, os seus quintalões, as suas varandas. Aquilo é uma elegia do esquecimento. Olinda está na Nação Crioula e está também, e muito, mesmo muito, em Milagrário Pessoal.
Li que Teoria geral do esquecimentotraria certos ecos de Robinson Crusoé (personagem citado no romance e que, aliás, também “viveu” no Nordeste brasileiro). Ao ler o livro, no entanto, às vezes eu me lembrava do conto “O gato preto”, de Poe, talvez porque estivéssemos falando de uma mulher tristemente emparedada com um animal doméstico (no caso, não um gato preto, mas um cachorro branco — também fantasmagórico). Há alguma relação, fora minhas referências de leitor?
Sim, claro. Há outras brincadeiras ao longo do livro, algumas não tão óbvias para um leitor não angolano. Por exemplo, o garoto que resgata Ludo chama-se Sabalu. Sabalu em quimbundo significa sábado. É o nome dado às crianças que nascem a um sábado. É, aliás, uma corruptela óbvia do português sábado.
A que se deve a ligeira aparição de uma osga na cena em que Jeremias Carrasco “ressuscita” após o fracasso de seu fuzilamento? Você pretendia criar aí uma ponte referencial que ligasse este seu romance a O vendedor de passados(que tem uma osga entre seus protagonistas)?
Nem pensei nisso. Simplesmente, as osgas estão por toda a parte, em Angola. Habitam com as pessoas. Tenho uma enorme simpatia pelas osgas. Na minha casa, em Lisboa, vive uma osga que todas as noites, se eu estiver acordado, me vem cumprimentar às duas da manhã. Uma ocasião, uma senhora angolana veio ter comigo, numa feira do livro, para me dizer que na casa dela vive uma osga que canta. Não me surpreende. O que acontece é que as osgas não cantam para toda a gente. Cantam para quem merece. Eu ainda espero que um dia cantem para mim.
O narrador de Teoria geral do esquecimentodiz: “As pessoas não veem nas nuvens o desenho que elas têm, que não é nenhum, ou que são todos, pois a cada momento se altera. Veem aquilo por que seu coração anseia”. Olhando para o céu ultimamente, o que você tem visto nas nuvens?
Estou em Lisboa desde há alguns dias. E nestes últimos dias não tem havido nuvens no céu. Um calor africano. Dias e noites que não terminam nunca. Da próxima vez que vir nuvens no céu vou pensar nessa questão. Pode ser que veja nelas o meu próximo romance. Gostaria de escrever um romance inteiramente traduzido das nuvens.