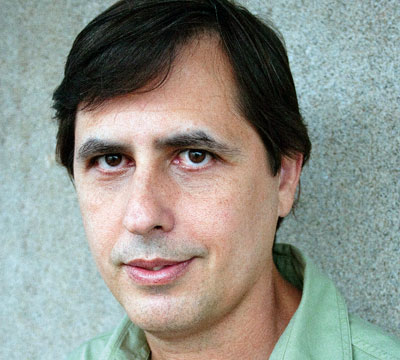
Se você perguntar por aí sobre o incêndio que, há meio século, destruiu o Gran Circo Norte-americano em Niterói, é possível que não encontre quem saiba exatamente do que se trata. Pouca gente com menos de 50 anos ouviu falar do caso e, mesmo entre os mais velhos, quase ninguém se lembra dele a ponto de poder reconstruí-lo numa conversa. Aos que não se envolveram diretamente com a tragédia ou com suas consequências, o incêndio, hoje, é no máximo uma recordação remota, um vago registro de tristeza. E mesmo a cidade que serviu de palco à catástrofe, na época capital do Estado do Rio de Janeiro, traumatizada, parece ter preferido esquecer. No entanto, 503 pessoas foram queimadas ou pisoteadas até a morte — o número, claro, é apenas uma estimativa, impossível de confirmar —, e outras centenas, talvez milhares, saíram feridas ou mutiladas, inclusive — ou principalmente — crianças.
É essa história, prestes a se apagar, que o jornalista Mauro Ventura, repórter especial de O Globo, reacendeu em O espetáculo mais triste da Terra, seu primeiro livro. Quem foram as vítimas? Quem foram os mortos, os feridos, os culpados? Aliás, foi crime ou desleixo? Quais as implicações políticas do incidente? Como a imprensa lidou com a emoção envolvida nos acontecimentos? Qual foi a real participação do cirurgião plástico Ivo Pitanguy no atendimento aos queimados? E qual a origem do famoso Profeta Gentileza — personagem que via no incêndio do circo uma metáfora do fim do mundo?
Como você conseguiu lidar com um material tão denso durante dois anos? Ele invadiu a sua vida pessoal? Como separar as coisas, dormir à noite, desligar-se de histórias tão tristes e impressionantes? Cabe ao jornalista, nesses casos, assumir uma postura profissional de distanciamento emocional, semelhante à dos médicos? Isso é possível, ou mesmo desejável?
Não foi fácil. Ainda mais porque o livro coincidiu com o nascimento de minha filha, Alice. Quando comecei o projeto, minha mulher estava grávida. Então, passei dois anos e meio ouvindo histórias trágicas sobre crianças, ao mesmo tempo em que via minha filha crescer. Ela funcionava como um contraponto aos dramas que escutava, mas igualmente acentuava minha tristeza por aquelas pessoas que haviam perdido o que de mais precioso tinham. E olha que o que está publicado é um pequeno resumo do que apurei. De qualquer forma, a experiência de 26 anos em jornalismo, escutando todo tipo de história, ajudou a manter o distanciamento.
Lendo o seu livro, eu às vezes percebia nele certos recursos narrativos do chamado cinema catástrofe. A construção afetiva dos personagens, a reconstituição de suas últimas horas, as coincidências que os levaram à cena da tragédia, o heroísmo moldado pela força das circunstâncias, a superação nascida da necessidade. Como você chegou a essa forma de contar uma história tão dramática e complexa? Que opções você descartou? E como fez para fugir ao apelo emocional que emana de tantas mortes infantis?
A estrutura do livro mudou muito. Inicialmente, ele era muito calcado nos personagens, que iam e voltavam várias vezes ao longo da história. Mas ficou muito fragmentado, porque na terceira vez que um determinado personagem aparecia o leitor provavelmente já não lembrava mais quem ele era. Na segunda versão, isso mudou. Eu agrupei as histórias o máximo possível. Mas ainda assim o livro continuou fragmentado por causa de outro problema: os personagens serviam de introdução aos temas. Assim, para falar do tratamento de queimados eu começava usando um exemplo, para depois partir para a explicação. Também mudei isso. Passei a iniciar com as explicações para depois partir para os exemplos. Com relação ao texto, como o tema era muito denso eu tentei ao máximo não exacerbar esse peso. E, sempre que carregava no drama, tentava logo em seguida emendar com algo mais leve, para dar um alívio para o leitor.
Você diz no próprio livro que, pelo menos de início, enfrentou dificuldades para conversar com os sobreviventes da tragédia. Poucos queriam falar sobre o assunto. E depois de publicada a obra? Você já teve alguma resposta desses leitores-personagens? Eles o procuraram, relataram como foi a experiência da leitura?
Sim, tenho tido muito retorno, não só de vítimas como de médicos. Eu tinha muito medo, porque invadi demais a privacidade das pessoas, e não sabia como reagiriam ao ver exposta uma história que elas nunca haviam contado, muitas vezes nem para os parentes. Como jornalista, estou acostumado a ver os entrevistados se assustarem quando sai impresso em jornal o que falaram em voz alta. Imagine num livro. Mas esse retorno tem sido o melhor possível. Alguns exemplos de frases que tenho ouvido: “Tô maravilhada com tantas verdades”; “Não senti em momento algum que você estava aumentando”; “É uma verdade radical a que você contou”; “É uma dívida que se tinha e que você está ajudando a pagar”; “O livro vai ajudar a gente a morrer um pouco menos, porque o esquecimento é uma segunda morte”.
Quando o livro trata da participação de Ivo Pitanguy no episódio, e das acusações de que ele teria aproveitado para se promover a partir do trabalho com os pacientes de Niterói, entramos num terreno bastante espinhoso, difícil de percorrer. Como foi abordar esse assunto com a comunidade médica? E o próprio Pitanguy, falou com você sobre isso?
Essa questão perpassou o livro desde o início. Teve um médico que inicialmente se recusou a participar achando que o livro reproduziria a mesma coisa que vinha sendo dita há 50 anos. Eu achei importante tratar disso na obra porque vi que era um incômodo grande para muitos médicos. Mas era um tema delicado, já que vários profissionais só falaram sob a condição do anonimato. Tive que tomar cuidado para não ser injusto, já que Pitanguy teve uma participação muito importante — embora não tão grande quanto a que ficou para a história. Pitanguy preferiu minimizar a polêmica, dizendo que era muita gente ajudando, em sistema de mutirão.
A impressão que se tem ao ler o livro é a de que nenhuma das vítimas, na época, pensou em se organizar para buscar indenizações junto aos proprietários do circo ou ao município, mesmo não acreditando na versão oficial de que o incêndio teria sido criminoso. Durante o período de pesquisa, essa ideia não ocorreu a nenhum de seus entrevistados? O desejo geral ainda é o de “esquecer” legalmente o que houve? Ninguém depositou sobre você novas expectativas de justiça ou reparação?
Nenhuma das vítimas com quem conversei pensou em recorrer à justiça — e nenhuma delas sabe de alguém que tenha pensado nisso. Imagino que por vários motivos. Primeiro, porque na época não havia essa cultura. Segundo, porque não foi criada nenhuma associação que reunisse e lutasse pelos direitos das vítimas. Terceiro, porque tinha gente que acreditava que o circo era de origem americana, e não ia conseguir ganhar o processo. Quarto, porque achava que dinheiro nenhum pagaria o que se perdeu. Quinto, porque não acreditava na versão oficial, achava que tinha sido uma fatalidade. Ou, se acreditava, achava que não daria em nada porque se tratava de alguém (Dequinha, condenado após confessar ter ateado fogo ao circo, num episódio duvidoso) com problemas mentais. Ninguém falou nada comigo sobre o livro servir de base para alguma ação judicial.
Dequinha morreu assassinado. E sobre Pardal e Bigode (condenados como cúmplices), não há mesmo nenhum registro? Não se sabe o que aconteceu com eles? O que o Estado tem a dizer a um jornalista a respeito de uma lacuna tão grande?
Não há nenhum registro dos dois. E sobre Dequinha só há porque os jornais noticiaram suas tentativas de liberdade condicional, sua fuga, sua morte. E consegui um entrevistado que se lembrava de sua passagem pela prisão. Eu passei dois anos tentando encontrar a peça básica dessa história, o processo judicial, com todos os depoimentos e a investigação, sem sucesso. E olha que tive o apoio do Tribunal de Justiça nessa empreitada. Eles vasculharam tudo, mas ele simplesmente desapareceu. E se tratava do caso mais rumoroso do país no período. Acredito que, quando houve a fusão do Estado do Rio com o Estado da Guanabara, alguém olhou para aquela pilha de papéis velhos e resolveu jogar tudo no lixo.
Você concorda com o termo “jornalismo literário”? Seu livro pertence ao gênero? E como vai a grande reportagem brasileira? Você lê (e admira) quais dos nossos repórteres? E nossos jornais, têm incentivado a prática desse tipo de jornalismo?
Concordo com o termo, e é exatamente o que tentei fazer, um romance de não ficção, ou seja, dar uma estrutura de romance à reconstituição de um episódio real. Não sei se consegui, mas me sentiria honrado de pertencer a esse gênero. A grande reportagem brasileira já viveu melhores dias. É bem verdade que você tem a Piauí e mais alguns espaços nobres, mas é pouco se considerarmos que antigamente havia revistas como Realidade e O Cruzeiro, e mais espaço nos jornais. Em termos investigativos, admiro Chico Otávio, Antonio Werneck e Vera Araújo, meus colegas do Globo. Gosto também da Eliane Brum e do Geneton Moraes Neto. Mas acho que nossos jornais têm consciência de que a reportagem é o grande diferencial, junto com a análise mais aprofundada dos fatos. Porque a informação bruta você encontra em qualquer lugar. E acho que tem havido uma preocupação de alterar esse quadro. Como dizia Tomás Eloy Martínez, temos que encontrar formas atraentes de dar a notícia, é preciso que os jornalistas “contem as histórias de vida real com assombro e plena entrega de ser, com a obsessão pelo dado preciso e a paciência de investigadores que caracteriza os melhores novelistas”.
Luís Henrique Pellanda é jornalista e autor de Nós passaremos em branco.